Chico Xavier - Mandato de Amor
Versão para cópia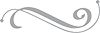
Nossos irmãos, os mortos
(Relato de Jorge Azevedo)
Há tempos, Agripino Grieco, conhecido crítico, visitou o nosso Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo. O crítico um dos mais argutos que possuímos — observou o estranho trabalho psicográfico de Chico Xavier, a sua personalidade sedutora e, lendo, surpreso, os versos psicografados durante a visita e assinados por dois famosos poetas falecidos — o brasileiro Augusto dos Anjos e o português Antônio Nobre — sentiu que, se os versos não eram dos autores citados, pertenciam a poetas de igual força e genialidade. Aliás, essa afirmação — porque Grieco sentiu e afirmou — foi corroborada por todos os integrantes da embaixada literária que o acompanhou a Pedro Leopoldo.
A conclusão a que chegaram os ilustres escritores faz pensar. E nos conforta em meio ao ceticismo dos indiferentes e dos queridos inimigos do Espiritismo. Sim, porque admitiram eles, os visitantes, homens esclarecidos, que se os versos não eram dos autores citados, isto é, Augusto dos Anjos e Antônio Nobre, pertenciam — repetimos para sentir o gosto dessa alegria que nos enche a alma e umedece os olhos — a poetas de igual força e genialidade. Consequentemente, — ó Deus que estais em nós a revelar-se, dia a dia, através de nossas emoções! — admitiram a verdade da psicografia ou, pelo menos, aceitaram o fenômeno psicográfico.
Lembra-nos este caso idêntico episódio ocorrido em Pedro Leopoldo. Conheçamo-lo, mas, antes, venham conosco, por favor, nesse tapete mágico que é o pensamento, até a um tempo em que vivíamos e tínhamos um amigo.
Barra do Piraí, a simpática cidade fluminense, possuiu um poeta que, durante toda a sua vida, procurou amparar os desprotegidos e defender os fracos. Chamava-se Alfredo Nora. Vivemos à sombra de sua bondade e sob a luz de sua inteligência durante vários anos. Gozávamos, minuto a minuto, a sua prosa colorida e suas blagues deliciosas. Identificamo-nos com a sua poesia — lírica ou satírica. Porque, conquanto fosse um poeta essencialmente lírico, possuía, sempre afiado, o estilete da sátira. E, nos seus momentos de euforia espiritual, gostava de perfilar a família em versos leves e humorísticos. E gostava, também, e muito, de escrever a amigos cartas em versos.
Certa vez, surpreendeu-nos este diálogo entre Nora e a sua esposa, D. Rosa:
— Mas, Nora! Fique certo, hein? Mamãe não vai gostar!
— Vai, sim! Mesmo velha, a mulher conserva a vaidade… E sentir-se retratada num soneto é algo agradável, não? Você não gostou, Rosa, quando a perfilei?
— É mais uma prova de que você ainda está apaixonado por mim…
— Eu, hein, Rosa?
— Mas, Nora! Você fez outro perfil meu?!? Meu?!?
— Convencida! Querendo dois perfis! Retratei agora o seu pai!
— Papai?
— Sim, seu pai! Que há de extraordinário? Escute lá!
| Tenho um sogro que foi feito De encomenda para mim. Rosado, gordo, escorreito, Responde a tudo: “Pois sim!” Para tudo ele tem jeito, Do cabide ao talharim. Não há sogro mais perfeito, Nem o há perfeito assim. Não sabe dar um suspiro. Por má que a sorte lhe corra, Vê-lo triste ninguém logra. Mas o que mais lhe admiro É aquela santa pachorra Com que atura minha sogra… |
Era assim Alfredo Nora. Quase toda a sua correspondência era feita em versos mais ou menos no estilo do soneto-perfil apresentado. Cursara, quando jovem, bons colégios no Rio e em São Paulo. Fora — diziam — o primeiro aluno de Erasmo Braga. Nora dominava o idioma com facilidade. Seu estilo era leve e agradável. Sob a sua pena acerada a gramática não gemia, arranhava. Mas Nora não lhe dava excessiva confiança. Belos poemas cristãos lhe saíram da alma filtrando-se pela pena. O trabalho excessivo no Seletivo da Central, em Barra do Piraí, esgotou-o. E a vibração de sua alta emotividade completou a clava destrutiva. Quando o deixamos, transferindo-nos para Belo Horizonte, já o querido Nora descia a encosta da vida. E, poucos meses depois da nossa mudança, recebíamos, resignados, a notícia de sua desencarnação. Morríamos, também, um pouco, com ele, conquanto nos sentíssemos ressurgir a certeza de que Nora vivia agora, espiritualmente a nosso lado, amparando-nos e inspirando-nos.
Certo dia, braços amigos nos envolveram na avenida:
— Você já sabe que o Alfredo Nora acaba de mandar-nos uma mensagem pelo Chico Xavier? Hein? Dois sonetos setissílabos maravilhosos pela construção e riqueza de rimas como pela lição que representam! Você já sabe? Fale, homem!
Não sabíamos nem podíamos falar: víamos, trêmulas, as ár-vores da rua, através das lentes embaciadas pelos pingos oblíquos da chuva.
Sob a chuva fina e obliqua, limpei as lentes dos óculos e procurei, no burburinho da rua a figura esguia do meu amigo: engolira-o, já, a boca da multidão. Parei, entristecido, sob um toldo de lona gotejante.
Nora residia à margem do rio Paraíba, que atravessa a cida-de de Barra do Piraí. Mesmo dentro de casa, ouvia, dia e noite, o marulho das vagas inquietas. E, numa noite, aquele marulho monótono inspirou-lhe este poema:
| Em noites de luar, o velho Paraíba, Arregaçando o véu nas pontas das agulhas Ocultas de granito, em franjas de borbulhas, Estranho madrigal vai gungunando à riba… E eu me debruço a ouvir as coisas misteriosas Que ele segreda à noite às ribas silenciosas… Mas não revelarei o que ele diz: só poetas Podem ouvir do rio as confissões secretas… |
Mandou-mo. E, no “post-scriptum” do seu clássico bilhetinho em versos, me explicava: “Naturalmente, meu caro Jorge, você estranhou aquele verbo gungunar, não foi? Este verbo deriva de um dialeto africano. Em português, não tem sinônimo exato. A significação está entre vozear, resmungar e murmurar, mas é diferente. Gungunar é falar de modo a ser entendido pela pessoa a quem a gente se dirige e que os outros, embora ouvindo a voz, não possam distinguir as palavras. Não é o mesmo que segredar: o rio segreda, gungunando; gunguna, para segredar.”
Respondi-lhe, tentando fazer humorismo:
Meu caro Nora.
Ora direis… ouvir os rios… Certo perdeste o senso… Mas o que não vês, ou não ouves, é que em seu destino incerto, os rios nunca aprendem português…
Ah, meu Alfredo Nora! Guardei, na memória e no coração, aqueles versos que você, numa hora de angústia, escrevera e me mandara junto deste bilhete de que jamais esqueci:
| Aí vai, Jorge Azevedo, Esta poesia que o medo De morrer me gungunou… Mas esse medo não tira A certeza da mentira Que esta vida me pregou… |
A chuva, agora, descia do azul irizada pelas réstias luminosas de um sol outonal. Sob o toldo, contemplava a multidão vária e inquieta como as vagas gungunantes do Paraíba. Ah, e o poema?
| É melhor não pensar, amigos; quando eu penso No que já foi, no que há de ser de nós, Pergunto onde estará o oceano imenso Em que o rio do Tempo tem a foz… Vamos fazer o Bem, gozar serenamente A vida — tão pequena! — entre o Belo atingível, E deixemos a Deus o abismo incognoscível Do Princípio e do Fim, da cinza e da semente… |
Mas a voz insistente me ficava no ouvido:
— Você já sabe que o Alfredo Nora acaba de mandar-nos uma mensagem pelo Chico Xavier? Hein? Hein? Hein?
E qual não foi minha surpresa quando, naquele mesmo dia, a voz de Sebastião Lasneaux, velho amigo de Barra do Piraí, me trouxe a novidade:
— Veja você, Jorge Azevedo: o Nora não se emendou! Continua escrevendo bilhetes em versos…
E estendeu-me alguns papéis impressos, contando-me o episódio sem os detalhes que, no mesmo momento, criei, para compor a cena maravilhosa que minha imaginação desejava: Chico Xavier virou-se para Lasneaux e, calmamente, lhe disse:
— Chegou aqui um cavalheiro que lhe deseja falar!
— Aqui, Chico? Ah, sim… E como se chama ele?
— Espere. Está me dizendo, Lasneaux, que se chamava AIfredo.
— Alfredo, Alfredo… Ah, conheci, realmente, há tempos, um Alfredo… Mas talvez não seja esse em quem estou pensando… Por favor: pergunte-lhe o nome inteiro.
— Diz que é da sua terra, Barra do Piraí. Alfredo Nora.
— Ah, conheço! Naturalmente, vai me entregar, agora, algum bilhete em versos…
— Ele está me dizendo que trouxe três sonetos para você. Antes, porém, está agora meio triste, hein!
— Vai lhe entregar, respondendo a sua irônica piada, um bilhetinho em versos…
| Meu Lasneaux. Não é bilhete, Não é ofício, nem ata. É o coração que desata Meus pesares num lembrete. |
— Você não acha que é ele mesmo?
— Eu não acho, não, Lasneaux. Eu o sinto… E os sonetos?
— Ei-los. Leia-os alto…
E li os sonetos que o meu Alfredo Nora havia escrito… onde? Olhei, antes, o céu azul: nenhuma nuvem perturbava o esplendor azulíneo. Senti Deus naquela harmonia inconsútil de azul. Pedi, naquele instante, ao meu amigo Nora minúscula partícula da pureza daquele azul para minha alma. E, feliz, li:
| Lasneaux, amigo, esta choça Onde a carne, breve, passa, Cheia de lama e fumaça É minúscula palhoça. A terra, ante o sol da graça, É feio talhão de roça, Detendo por balda nossa, Descrença, guerra, cachaça. Agora é que entendo isso, Mas é triste a fé sem viço Que o sepulcro impõe à pressa… Espere sem alvoroço: Além da prisão de osso A vida real começa. *** Ó, meu caro, se eu pudesse Dizer tudo o que não disse, Sem a velha esquisitice Que inda agora me entontece! Entretanto, é clara a messe Da sementeira de asnice. Perdi tempo em maluquice E o tempo me desconhece. É natural que padeça A minha pobre cabeça Perante a luz face a face. Não me olvide em sua prece. Deseje que a luta cesse, Que a coisa melhore e… passe. *** Sujeito que clama e berra Contra a vida a que se agarra, Vive em perene algazarra Colado aos brejais da terra. Do raciocínio faz garra Com que à verdade faz guerra, Na desdita em que se aferra, Na ilusão em que se amarra. De mente sempre na birra, Ouve a ambição que lhe acirra A paixão que o liga à burra. Mas a luz divina jorra E a vida ganha a desforra Na morte que o pega e surra. |
Quando reli estes sonetos, à noite, no silêncio do meu escritório, senti a impressão de ouvir, longe, vindo através da imensidão noturna, o marulho surdo das vagas do Paraíba. E, através do rumor longínquo, a sua voz, meu querido Alfredo Nora, gungunando aos meus ouvidos:
| Mas esse medo não tira A certeza da mentira Que esta vida me pregou… Nem a mim tampouco. |
(Fonte: “O Espírita Mineiro”, números 1/2, março/abril de 1952.)
Este último soneto foi publicado em 1987 pelo IDE e é a 11ª lição do livro “”
Acima, está sendo listado apenas o item do capítulo 23.
Para visualizar o capítulo 23 completo, clique no botão abaixo:
Ver 23 Capítulo Completo
Este texto está incorreto?