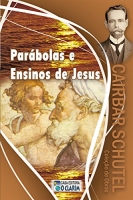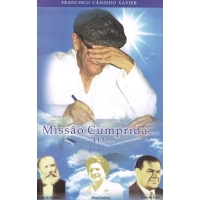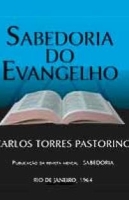Enciclopédia de Malaquias 4:1-6
Índice
- Perícope
- Referências Cruzadas
- Notas de rodapé da LTT
- Gematria
- Mapas Históricos
- Apêndices
- Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 1)
- Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 2)
- Livros
- Locais
- Comentários Bíblicos
- Beacon
- Champlin
- Genebra
- Matthew Henry
- Wesley
- Wiersbe
- Russell Shedd
- NVI F. F. Bruce
- Moody
- Francis Davidson
- Profetas Menores
- Dicionário
- Strongs
Índice
Perícope
ml 4: 1
| Versão | Versículo |
|---|---|
| ARA | Pois eis que vem o dia e arde como fornalha; todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho; o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. |
| ARC | PORQUE eis que aquele dia vem ardendo como forno: todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. |
| TB | Pois eis que vem o dia e arde como fornalha; todos os soberbos e todos os que obram impiedade serão como o restolho; o dia que vem os abrasará, diz Jeová dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. |
| HSB | כִּֽי־ הִנֵּ֤ה הַיּוֹם֙ בָּ֔א בֹּעֵ֖ר כַּתַּנּ֑וּר וְהָי֨וּ כָל־ זֵדִ֜ים וְכָל־ עֹשֵׂ֤ה רִשְׁעָה֙ קַ֔שׁ וְלִהַ֨ט אֹתָ֜ם הַיּ֣וֹם הַבָּ֗א אָמַר֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲשֶׁ֛ר לֹא־ יַעֲזֹ֥ב לָהֶ֖ם שֹׁ֥רֶשׁ וְעָנָֽף׃ |
| BKJ | Pois eis que o dia vem, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, e todos os que cometem perversidade serão como a palha; e o dia que vem os queimará, diz o SENHOR dos Exércitos, e isso não lhes deixará nem raiz nem ramo. |
| LTT | |
| VULG |
ml 4: 2
| Versão | Versículo |
|---|---|
| ARA | Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas; saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. |
| ARC | Mas para vós, que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas; e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. |
| TB | Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas; vós saireis e saltareis como os bezerros da estrebaria. |
| HSB | וְזָרְחָ֨ה לָכֶ֜ם יִרְאֵ֤י שְׁמִי֙ שֶׁ֣מֶשׁ צְדָקָ֔ה וּמַרְפֵּ֖א בִּכְנָפֶ֑יהָ וִֽיצָאתֶ֥ם וּפִשְׁתֶּ֖ם כְּעֶגְלֵ֥י מַרְבֵּֽק׃ |
| BKJ | Mas para vós, que temeis o meu nome, o Sol da justiça nascerá com cura nas suas asas; e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. |
| LTT | |
| VULG | Et orietur vobis timentibus nomen meum sol justitiæ, et sanitas in pennis ejus : et egrediemini, et salietis sicut vituli de armento. |
ml 4: 3
| Versão | Versículo |
|---|---|
| ARA | Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. |
| ARC | E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. |
| TB | Pisareis os ímpios, pois serão cinza debaixo das plantas dos vossos pés no dia que eu faço, diz Jeová dos Exércitos. |
| HSB | וְעַסּוֹתֶ֣ם רְשָׁעִ֔ים כִּֽי־ יִהְי֣וּ אֵ֔פֶר תַּ֖חַת כַּפּ֣וֹת רַגְלֵיכֶ֑ם בַּיּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר אֲנִ֣י עֹשֶׂ֔ה אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ פ |
| BKJ | E pisareis os perversos, porque eles serão cinzas debaixo das solas de vossos pés no dia em que eu fizer isto, diz o SENHOR dos Exércitos. |
| LTT | |
| VULG | Et calcabitis impios, cum fuerint cinis sub planta pedum vestrorum, in die qua ego facio, dicit Dominus exercituum. |
ml 4: 4
| Versão | Versículo |
|---|---|
| ARA | Lembrai-vos da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. |
| ARC | Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. |
| TB | Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. |
| HSB | זִכְר֕וּ תּוֹרַ֖ת מֹשֶׁ֣ה עַבְדִּ֑י אֲשֶׁר֩ צִוִּ֨יתִי אוֹת֤וֹ בְחֹרֵב֙ עַל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵ֔ל חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִֽים׃ |
| BKJ | Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe ordenei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. |
| LTT | |
| VULG | Mementote legis Moysi servi mei, quam mandavi ei in Horeb ad omnem Israël, præcepta et judicia. |
ml 4: 5
| Versão | Versículo |
|---|---|
| ARA | Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Dia do Senhor; |
| ARC | Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; |
| TB | Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Dia de Jeová. |
| HSB | הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ שֹׁלֵ֣חַ לָכֶ֔ם אֵ֖ת אֵלִיָּ֣ה הַנָּבִ֑יא לִפְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַגָּד֖וֹל וְהַנּוֹרָֽא׃ |
| BKJ | Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do SENHOR; |
| LTT | |
| VULG | Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam, antequam veniat dies Domini magnus et horribilis. |
ml 4: 6
| Versão | Versículo |
|---|---|
| ARA | ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. |
| ARC | E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que eu não venha, e fira a terra com maldição. |
| TB | Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com anátema. |
| HSB | וְהֵשִׁ֤יב לֵב־ אָבוֹת֙ עַל־ בָּנִ֔ים וְלֵ֥ב בָּנִ֖ים עַל־ אֲבוֹתָ֑ם פֶּן־ אָב֕וֹא וְהִכֵּיתִ֥י אֶת־ הָאָ֖רֶץ חֵֽרֶם׃ |
| BKJ | e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais; para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. |
| LTT | |
| VULG | Et convertet cor patrum ad filios, et cor filiorum ad patres eorum : ne forte veniam, et percutiam terram anathemate. |
As referências cruzadas da Bíblia são uma ferramenta de estudo que ajuda a conectar diferentes partes da Bíblia que compartilham temas, palavras-chave, histórias ou ideias semelhantes. Elas são compostas por um conjunto de referências bíblicas que apontam para outros versículos ou capítulos da Bíblia que têm relação com o texto que está sendo estudado. Essa ferramenta é usada para aprofundar a compreensão do significado da Escritura e para ajudar na interpretação e aplicação dos ensinamentos bíblicos na vida diária. Abaixo, temos as referências cruzadas do texto bíblico de Malaquias 4:1
Referências Cruzadas
| Êxodo 15:7 | e, com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti; enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. |
| Jó 18:16 | Por baixo, se secarão as suas raízes, e, por cima, serão cortados os seus ramos. |
| Salmos 21:9 | Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares; o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. |
| Salmos 119:119 | Tu tiraste da terra, como escórias, a todos os ímpios; pelo que amo os teus testemunhos. |
| Isaías 2:12 | Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta, para que seja abatido; |
| Isaías 5:24 | Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó; porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. |
| Isaías 40:24 | E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado; sopra sobre eles, e secam-se; e um tufão, como pragana, os levará. |
| Isaías 41:2 | Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu as nações à sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como pragana arrebatada do vento, ao seu arco. |
| Isaías 47:14 | Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará; não poderão salvar a sua vida do poder da labareda; ela não será um braseiro, para se aquentarem, nem fogo, para se assentarem junto dele. |
| Ezequiel 7:10 | Eis aqui o dia, eis que vem; veio a tua ruína; já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. |
| Joel 2:1 | Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade; perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto; |
| Joel 2:31 | O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. |
| Amós 2:9 | Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos; mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. |
| Obadias 1:18 | E a casa de Jacó será fogo; e a casa de José, chama; e a casa de Esaú, palha; e se acenderão contra eles e os consumirão; e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. |
| Naum 1:5 | Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem; e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. |
| Naum 1:10 | Porque, ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. |
| Sofonias 1:14 | O grande dia do Senhor está perto, está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor; amargamente clamará ali o homem poderoso. |
| Sofonias 1:18 | Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. |
| Zacarias 14:1 | Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. |
| Malaquias 3:2 | Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. |
| Malaquias 3:15 | Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os que cometem impiedade se edificam; sim, eles tentam ao Senhor e escapam. |
| Malaquias 3:18 | Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus e o que não o serve. |
| Malaquias 4:5 | Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; |
| Mateus 3:12 | Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. |
| Lucas 19:43 | |
| Lucas 21:20 | |
| II Tessalonicenses 1:8 | como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo; |
| II Pedro 3:7 | Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o Dia do Juízo e da perdição dos homens ímpios. |
| Rute 2:12 | O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. |
| II Samuel 23:4 | E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. |
| Salmos 67:1 | Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. (Selá) |
| Salmos 84:11 | Porque o Senhor Deus é um sol e escudo; o Senhor dará graça e glória; não negará bem algum aos que andam na retidão. |
| Salmos 85:9 | Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. |
| Salmos 92:12 | O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano. |
| Salmos 103:3 | É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades; |
| Salmos 147:3 | sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas; |
| Provérbios 4:18 | Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. |
| Isaías 9:2 | O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. |
| Isaías 30:26 | E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol, sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. |
| Isaías 35:6 | Então, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros, no ermo. |
| Isaías 49:6 | Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel; também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra. |
| Isaías 49:9 | para dizeres aos presos: Saí; e aos que estão em trevas: Aparecei. Eles pastarão nos caminhos e, em todos os lugares altos, terão o seu pasto. |
| Isaías 50:10 | Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. |
| Isaías 53:5 | Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. |
| Isaías 55:12 | Porque, com alegria, saireis e, em paz, sereis guiados; os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. |
| Isaías 57:18 | Eu vejo os seus caminhos e os sararei; também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. |
| Isaías 60:1 | Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. |
| Isaías 60:19 | Nunca mais te servirá o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará; mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus, a tua glória. |
| Isaías 66:1 | Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? |
| Jeremias 17:14 | Sara-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor. |
| Jeremias 31:9 | Virão com choro, e com súplicas os levarei; guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão; porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. |
| Jeremias 33:6 | Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. |
| Ezequiel 47:12 | E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer; não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto; nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário; e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha, de remédio. |
| Oséias 6:1 | Vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. |
| Oséias 6:3 | Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor: como a alva, será a sua saída; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. |
| Oséias 14:4 | Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei; porque a minha ira se apartou deles. |
| Malaquias 3:16 | Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro; e o Senhor atenta e ouve; e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. |
| Mateus 4:15 | A terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, |
| Mateus 11:5 | |
| Mateus 23:37 | |
| Lucas 1:50 | E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. |
| Lucas 1:78 | pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o oriente do alto nos visitou, |
| Lucas 2:32 | luz para alumiar as nações e para glória de teu povo Israel. |
| João 1:4 | Nele, estava a vida e a vida era a luz dos homens; |
| João 1:8 | Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. |
| João 1:14 | E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. |
| João 8:12 | Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: |
| João 9:4 | |
| João 12:35 | Disse-lhes, pois, Jesus: |
| João 12:40 | Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. |
| João 15:2 | |
| Atos 13:26 | Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. |
| Atos 13:47 | Porque o Senhor assim no-lo mandou: Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. |
| Atos 26:18 | |
| Efésios 5:8 | Porque, noutro tempo, éreis trevas, mas, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz |
| II Tessalonicenses 1:3 | Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, |
| II Pedro 1:19 | E temos, mui firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, |
| II Pedro 3:18 | antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém! |
| I João 2:8 | Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós; porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. |
| Apocalipse 2:28 | |
| Apocalipse 11:18 | E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. |
| Apocalipse 22:2 | No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. |
| Apocalipse 22:16 |
| Gênesis 3:15 | E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. |
| Josué 10:24 | E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. |
| II Samuel 22:43 | Então, os moí como o pó da terra; como a lama das ruas os trilhei e dissipei. |
| Jó 40:12 | Olha para todo soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. |
| Salmos 91:13 | Pisarás o leão e a áspide; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. |
| Isaías 25:10 | Porque a mão do Senhor descansará neste monte; mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. |
| Isaías 26:6 | O pé a pisará: os pés dos aflitos e os passos dos pobres. |
| Isaías 63:3 | Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo; e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor; e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. |
| Ezequiel 28:18 | Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. |
| Daniel 7:18 | Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade. |
| Daniel 7:27 | E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. |
| Miquéias 5:8 | E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. |
| Miquéias 7:10 | E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a confusão, a ela que me diz: Onde está o Senhor, teu Deus? Os meus olhos a verão sendo pisada como a lama das ruas. |
| Zacarias 10:5 | E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos; porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. |
| Malaquias 3:17 | E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro; poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. |
| Romanos 16:20 | E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém! |
| Apocalipse 11:15 | E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. |
| Apocalipse 14:20 | E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de mil e seiscentos estádios. |
| Êxodo 20:3 | Não terás outros deuses diante de mim. |
| Êxodo 21:1 | Estes são os estatutos que lhes proporás: |
| Levítico 1:1 | E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: |
| Deuteronômio 4:5 | Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. |
| Deuteronômio 4:10 | No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. |
| Salmos 147:19 | Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos, a Israel. |
| Isaías 8:20 | À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. |
| Isaías 42:21 | O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça; engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. |
| Mateus 5:17 | |
| Mateus 19:16 | E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom Mestre, que bem farei, para conseguir a vida eterna? |
| Mateus 22:36 | Mestre, qual é o grande mandamento da lei? |
| Marcos 12:28 | Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? |
| Lucas 10:25 | E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? |
| Lucas 16:29 | |
| João 5:39 | |
| Romanos 3:31 | anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma! Antes, estabelecemos a lei. |
| Romanos 13:1 | Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. |
| Gálatas 5:13 | Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. |
| Gálatas 5:24 | E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. |
| Tiago 2:9 | Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. |
| Isaías 40:3 | Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus. |
| Joel 2:31 | O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. |
| Malaquias 3:1 | Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim; e, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais; eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. |
| Malaquias 4:1 | Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. |
| Mateus 11:13 | |
| Mateus 17:10 | E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? |
| Mateus 27:47 | E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. |
| Marcos 9:11 | E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? |
| Lucas 1:17 | e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. |
| Lucas 7:26 | |
| Lucas 9:30 | E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, |
| João 1:21 | E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. |
| João 1:25 | e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? |
| Atos 2:19 | e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. |
| Apocalipse 6:17 | porque é vindo o grande Dia da sua ira; e quem poderá subsistir? |
| Deuteronômio 29:19 | e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: Terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração; para acrescentar à sede a bebedice. |
| Isaías 11:4 | mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. |
| Isaías 24:6 | Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados; por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. |
| Isaías 43:28 | Pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel, um opróbrio. |
| Isaías 61:2 | a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os tristes; |
| Isaías 65:15 | e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição; e o Senhor Jeová vos matará; e a seus servos chamará por outro nome. |
| Daniel 9:11 | Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer à tua voz; por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós; porque pecamos contra ele. |
| Daniel 9:26 | E, depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será mais; e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas assolações. |
| Zacarias 5:3 | Então, me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra; porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado; e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. |
| Zacarias 11:6 | Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei; eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. |
| Zacarias 13:8 | E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão; mas a terceira parte restará nela. |
| Zacarias 14:2 | Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém; e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres, forçadas; e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. |
| Zacarias 14:12 | E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém: a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. |
| Mateus 22:7 | |
| Mateus 23:35 | |
| Mateus 24:27 | |
| Marcos 11:21 | E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. |
| Marcos 13:14 | |
| Lucas 1:16 | E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, |
| Lucas 1:76 | E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, |
| Lucas 19:41 | E, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, |
| Lucas 21:22 | |
| Hebreus 6:8 | mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição; o seu fim é ser queimada. |
| Hebreus 10:26 | Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, |
| Apocalipse 19:15 | E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. |
| Apocalipse 22:3 | E ali nunca mais haverá maldição contra alguém; e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. |
| Apocalipse 22:20 | Aquele que testifica estas coisas diz: |
As notas de rodapé presentes na Bíblia versão LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, são explicações adicionais fornecidas pelos tradutores para ajudar os leitores a entender melhor o texto bíblico. Essas notas são baseadas em referências bíblicas, históricas e linguísticas, bem como em outros estudos teológicos e literários, a fim de fornecer um contexto mais preciso e uma interpretação mais fiel ao texto original. As notas de rodapé são uma ferramenta útil para estudiosos da Bíblia e para qualquer pessoa que queira compreender melhor o significado e a mensagem das Escrituras Sagradas.
Notas de rodapé da LTT
Gematria é a numerologia hebraica, uma técnica de interpretação rabínica específica de uma linhagem do judaísmo que a linhagem Mística.
Gematria
Quarenta (40)
E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma; e, terminados eles, teve fome.
(Mateus 4:2 - Marcos 1:13 - Lucas 4:2)
E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que entraram em terra habitada: comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã.
(Êxodo 16:35)
Porque, passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites; e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz.
(Gênesis 7:4)
No alfabeto hebraico as letras têm correspondentes numéricos e vice-versa. O número 40 possui um correspondente alfabético: uma letra chamada "Mem" (מ).
Essa letra seria um paralelo a nossa letra "eme".
Água, em hebraico, é "main" (מים) e a primeira letra, o "mem" possuía uma grafia mais primitiva mais parecida com as ondas.
Quando o autor bíblico insere o número 40, está chamando a atenção do estudioso para o tema central. Quando o assunto é deserto, o tema central é a água.
As letras, no hebraico, além dos fonemas, possuem significados e ainda outro significado oculto, e quase sempre cifrado, pelo número correspondente.
O que precisamos saber aqui é que o 40, nessas passagens, refere-se a água, O 40 está pedindo ao estudioso que reflita sobre o significado da água para o morador do deserto e, a partir desse ponto, extrair os sentidos espirituais do que representa a água para quem mora no deserto. O primeiro significado é a Fertilidade e a Destruição.
Para se entender esse significado, precisa-se antes entender como é o deserto de Israel. Quando pensamos em deserto, a primeira imagem que nos vem na cabeça é a do deserto do Saara, mas o deserto de Israel, apresentado na Bíblia, não é esse.
O Saara é liso, cheio de dunas que se movem com o vento, feito de areia.
O deserto de Israel é diferente. Rochoso, cheio de escarpas, abismos, precipícios, penhascos, desfiladeiros, montanhas, vales. É seco e árido com pouquíssima vegetação.
Essa região possui dois climas bem distintos. Uma grande parte do ano, essa região permanece árida e muito seca e no outro período com chuvas.
No topo das cadeias montanhosas da região do Líbano, sobretudo no topo do monte Líbano, tem acúmulo de gelo e neve. Em um certo período do ano, a neve derrete e escorre pelos penhascos, e vai escoando por toda a Palestina até chegar no mar Morto.
Movimentos parecidos com esses acontecem em outros montes da região, como no monte Sinai. Nessas regiões rochosas cheia de precipícios, a água desce levando tudo: gente, rebanhos, casas.
No tempo de Jesus, quando alguém olhava para o céu e via nuvens escuras, tremiam de medo.
Sabiam que viria um período de destruição. Quando uma chuva se aproximava, os pastores corriam com seus rebanhos para os montes mais altos.
Depois, quando a chuva passava, o subsolo, no lençol freático, ficava cheio de água. O solo ficava fértil. Nessa época, depois das chuvas, podia-se furar poços e explorar a água pelo resto do ano.
A água trazia um caos e destruição. Depois, trazia vida. Viver, depois das chuvas, ficava mais fácil.
Então, para o povo hebreu, água (מים) representa transformação através de grandes abalos, transtornos, confusões.
Outro período da vida do deserto é o árido.
Quando Jesus foi peregrinar no deserto, foi no período árido. Saiu da Galileia para Jerusalém pelo deserto. Naquele tempo, existiam diversos caminhos que levavam à Judeia quem vinha de Galileia. O caminho mais difícil era o que passava pelo deserto. Esse foi o caminho escolhido por Jesus (possivelmente junto com João Batista). Nessas travessias, no período árido, uma moringa de água representa outra coisa: conforto e consolo.
A água, então, representa a força transformadora de Deus (a força renovadora, revitalizadora), mas também o poder que Deus têm de consolar, confortar, aliviar o sofrimento.
No caso da peregrinação de Jesus no deserto, teve um componente adicional. A tentação.
Mateus 4:1
ENTÃO foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Nos primeiros capítulos da obra "O céu e o inferno", Kardec nos lembra que "demônio" é aquela má tendência que todos nós temos no nosso psiquismo. É aquele impulso infeliz em mim que ainda não presta.
Quando Jesus aceita conviver como um ser humano, aceita também enfrentar tudo o que o ser humano enfrenta, como pegar uma gripe. Ele também aceitou conviver com todo o tipo de seres humanos: encarnados e desencarnados.
Jesus aceitou conviver com o Pilatos, aceitou conviver com aquele soldado que colocou a coroa de espinhos a cabeça dele e aceitou, também, conviver com os espíritos desencarnados que vimem ao nosso redor. Jesus foi, então, "assediado" por um espírito desencarnado:
Mateus 4:2
E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome;
Jesus, como tinha aceitado todas as agruras da experiência humana, sentiu fome e a entidade infeliz disse:
Mateus 4:3
Disse-lhe o diabo: Se és filho de Deus, dize a esta pedra que se torne pão.
A entidade fez uma alusão à passagem do povo pelo deserto conduzido por Moisés, que ficou peregrinando 40 anos o deserto e receberam de Deus o maná.
Jesus, peregrinando 40 dias no deserto, recebeu do diabo a oferta de pão.
Fica claro que, no deserto, tanto Deus quando o Diabo oferecem comida.
Mateus 4:4
Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O maná não é pão. Mana é farinha, ou seja, um ingrediente. Deus não mandava a comida pronta, mandava um ingrediente. Quando vem das mãos de Deus, não vem pão, vem farinha e o homem precisa trabalhar para transformar o ingrediente em comida. Isso porquê deus nunca nos dá uma coisa pronta. Deus não oferece facilidades, mas a matéria-prima.
Para poder ter pão, o homem precisava trabalhar.
Já o Diabo, oferece facilidade. Representa a porta larga.
Quando uma facilidade é apresentada na nossa vida, devemos ter cuidado pois é a tentação que chegou.
A dificuldade é Deus. Chamemos as dificuldades de "propostas de serviço". É a oportunidade de trabalho durante a nossa travessia da Galileia para Jerusalém.
Durante as nossas travessias do Egito para Canaã.
Do diagnóstico à alta.
O socorro de Deus chega em forma de convite ao trabalho.
Quando um paciente sofre de diverticulite, pode ter dois tipos de propostas médicas.
Um médico pode dizer ao paciente que a proposta de cura é caminhar, comer muita fibra e beber bastante água.
O paciente vai precisar ter disciplina e perseverança. Vai precisar se esforçar. O paciente precisa trabalhar pela sua própria cura, pois a medicina sã exige que o paciente tenha disciplina, empenho, força de vontade para melhorar, exige dieta, esforço físico. Não tem mágica. A cura não acontece num estalo de dedos.
Agora, se outro médico pode dizer que existe um remédio, muito caro, mas que garante que nunca mais o paciente terá diverticulite na vida. Neste caso, precisamos ter cuidado, pois se você está no meio do deserto, desesperado e sofrendo propostas tentadoras, este pode ser o Diabo.
Entre a matrícula na faculdade até o diploma de formatura existe uma outra trajetória no deserto. Nessa trajetória, para enfrentar as dificuldades de uma matéria difícil, virá das mãos de Deus, através do professor, as oportunidades de estudar aos domingos em aulas extras para ajudar com o estudo a matéria.
Também virá aquele professor indecoroso que oferecerá a facilidade de aprovar o aluno em troca de dinheiro.
Vai ter sempre uma porta larga e outra estreita. A cura, de verdade, vem sempre pala porta estreita.
Neste ponto, podemos dizer que o 40 significa a transformação que ocorre pelo esforço realizado para passar pela porta estreita quando uma dificuldade é apresentada, mas superada com esforço e trabalho.
Se nessa transformação você for tentado a seguir por uma porta larga, não fará esforço e não será transformado.
Os mapas históricos bíblicos são representações cartográficas que mostram as diferentes regiões geográficas mencionadas na Bíblia, bem como os eventos históricos que ocorreram nesses lugares. Esses mapas são usados para contextualizar a história e a geografia das narrativas bíblicas, tornando-as mais compreensíveis e acessíveis aos leitores. Eles também podem fornecer informações adicionais sobre as culturas, as tradições e as dinâmicas políticas e religiosas das regiões retratadas na Bíblia, ajudando a enriquecer a compreensão dos eventos narrados nas Escrituras Sagradas. Os mapas históricos bíblicos são uma ferramenta valiosa para estudiosos da Bíblia e para qualquer pessoa que queira se aprofundar no estudo das Escrituras.
Mapas Históricos
O CLIMA NA PALESTINA
CLIMAÀ semelhança de outros lugares no mundo, a realidade climática dessa terra era e é, em grande parte, determinada por uma combinação de quatro fatores: (1) configuração do terreno, incluindo altitude, cobertura do solo, ângulo de elevação e assim por diante; (2) localização em relação a grandes massas de água ou massas de terra continental; (3) direção e efeito das principais correntes de ar; (4) latitude, que determina a duração do dia e da noite. Situada entre os graus 29 e 33 latitude norte e dominada principalmente por ventos ocidentais (oceânicos), a terra tem um clima marcado por duas estações bem definidas e nitidamente separadas. O verão é um período quente/seco que vai de aproximadamente meados de junho a meados de setembro; o inverno é um período tépido/úmido que se estende de outubro a meados de junho. É um lugar de brisas marítimas, ventos do deserto, terreno semidesértico, radiação solar máxima durante a maior parte do ano e variações sazonais de temperatura e umidade relativa do ar. Dessa forma, seu clima é bem parecido com certas regiões do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, conforme mostrado no gráfico da página seguinte.
A palavra que melhor caracteriza a estação do verão nessa terra é "estabilidade" Durante o verão, o movimento equatorial do Sol na direção do hemisfério norte força a corrente de jato (que permite a depressão e a convecção de massas de ar e produz tempestades) para o norte até as vizinhanças dos Alpes. Como consequência, uma célula estacionária de alta pressão se desenvolve sobre os Açores, junto com outra de baixa pressão, típica de monção, sobre Irã e Paquistão, o que resulta em isóbares (linhas de pressão barométrica) basicamente norte-sul sobre a Palestina. O resultado é uma barreira térmica que produz dias claros uniformes e impede a formação de nuvens de chuva, apesar da umidade relativa extremamente elevada. O verão apresenta o tempo todo um ótimo clima, brisas regulares do oeste, calor durante o dia e uma seca quase total. No verão, as massas de ar, ligeiramente resfriadas e umedecidas enquanto passam sobre o Mediterrâneo, condensam-se para criar um pouco de orvalho, que pode estimular o crescimento de plantas de verão. Mas as tempestades de verão são, em sua maioria, inesperadas (1Sm
1. A área de alta pressão atmosférica da Ásia é uma corrente direta de ar polar que pode chegar a 1.036 milibares. As vezes atravessa todo o deserto da Síria e atinge a terra de Israel, vindo do leste, com uma rajada de ar congelante e geada (Jó 1.19).
2. A área de alta pressão atmosférica dos Bálcãs, na esteira de uma forte depressão mediterrânea, consegue capturar a umidade de uma tempestade ciclônica e, vindo do oeste, atingir Israel com chuva, neve e granizo. Em geral esse tipo de sistema é responsável pela queda de chuva e neve no Levante (2Sm
3. Uma área de alta pressão atmosférica um pouco menos intensa do Líbano pode ser atraída na direção do Neguebe e transportar tempestades de poeira que se transformam em chuva.
A própria vala do Mediterrâneo é uma zona de depressão relativamente estacionária, pela qual passam em média cerca de 25 tempestades ciclônicas durante o inverno. Uma corrente de ar mais quente leva cerca de quatro a seis dias para atravessar o Mediterrâneo e se chocar com uma dessas frentes. Caso essas depressões sigam um caminho mais ao sul, tendem a se desviar ao norte de Chipre e fazer chover pela Europa Oriental. Esse caminho deixa o Levante sem sua considerável umidade [mapa 21] e produz seca, que às vezes causa fome. 121 Contudo, quando seguem um caminho ao norte - e bem mais favorável - tendem a ser empurradas mais para o sul por uma área secundária de baixa pressão sobre o mar Egeu e atingem o Levante com tempestades que podem durar de dois a quatro dias (Dt
Em termos gerais, a precipitação aumenta à medida que se avança para o norte. Elate, junto ao mar Vermelho, recebe 25 milímetros ou menos por ano; Berseba, no Neguebe, cerca de 200 milímetros; Nazaré, na região montanhosa da Baixa Galileia, cerca de 680 milímetros; o jebel Jarmuk, na Alta Galileia, cerca de 1.100 milímetros; e o monte Hermom, cerca de 1.500 milímetros de precipitação (v. no mapa 19 as médias de Tel Aviv, Jerusalém e Jericó]. A precipitação também tende a crescer na direção oeste.
Períodos curtos de transição ocorrem na virada das estações: um entre o final de abril e o início de maio, e outro entre meados de setembro e meados de outubro. Nesses dias, uma massa de ar quente e abrasador, hoje conhecida popularmente pelo nome de "siroco" ou "hamsin", pode atingir a Palestina vinda do deserto da Arábia.127 Essa situação produz um calor tórrido e uma sequidão total, algo parecido com os ventos de Santa Ana, na Califórnia. Conhecida na Bíblia pelas expressões "vento oriental" (Ex
15) e "vento sul" (Lc
ARBORIZAÇÃO
Nos lugares onde a terra recebia chuva suficiente, a arborização da Palestina antiga incluía matas perenes de variedades de carvalho, pinheiro, terebinto, amendoeira e alfarrobeira (Dt
(1) o início da Idade do Ferro (1200-900 a.C.);
(2) o final dos períodos helenístico e romano (aprox. 200 a.C.-300 d.C.);
(3) os últimos 200 anos.
O primeiro desses ciclos de destruição é o que mais afeta o relato bíblico que envolve arborização e uso da terra. No início da Idade do Ferro, a terra da Palestina experimentou, em sua paisagem, uma invasão massiva e duradoura de seres humanos, a qual foi, em grande parte, desencadeada por uma leva significativa de novos imigrantes e pela introdução de equipamentos de ferro. As matas da Palestina começaram a desaparecer diante das necessidades familiares, industriais e imperialistas da sociedade. Na esfera doméstica, por exemplo, grandes glebas de terra tiveram de ser desmatadas para abrir espaço para a ocupação humana e a produção de alimentos (Js
Enormes quantidades de madeira devem ter sido necessárias na construção e na decoração das casas (2Rs
Muita madeira era empregada na extração de pedras nas encostas de montanhas e no represamento de cursos d'água. Mais madeira era transformada em carvão para o trabalho de mineração, fundição e forja de metais 130 Grandes quantidades também eram consumidas em sacrifícios nos templos palestinos.
Por fim, ainda outras áreas de floresta eram devastadas como resultado do imperialismo antigo, fosse na produção de instrumentos militares (Dt
É bem irônico que as atividades desenvolvidas pelos próprios israelitas tenham contribuído de forma significativa para essa diminuição do potencial dos recursos da terra, na Palestina da Idade do Ferro Antiga. O retrato da arborização da Palestina pintado pela Bíblia parece estar de acordo com esses dados. Embora haja menção frequente a certas árvores tradicionais que mais favorecem o comprometimento e a erosão do solo (oliveira, figueira, sicômoro, acácia, amendoeira, romázeira, terebinto, murta, bálsamo), a Bíblia não faz quase nenhuma referência a árvores que fornecem madeira de lei para uso em edificações (carvalho, cedro, cipreste e algumas espécies de pinheiro). E inúmeras vezes a mencão a estas últimas variedades tinha a ver com outros lugares - frequentemente Basã, monte Hermom ou Líbano (Iz 9.15; 1Rs
Pelo fato de a Palestina praticamente não ter reservas de madeira de lei, Davi, quando se lançou a seus projetos de construção em Jerusalém, achou necessário fazer um tratado com Hirão, rei de Tiro (e.g., 25m 5.11; 1Cr
A disponibilidade de madeira de lei nativa não melhorou no período pós-exílico. Como parte do decreto de Ciro, que permitiu aos judeus voltarem à sua terra para reconstruir o templo, o monarca persa lhes deu uma quantia em dinheiro com a qual deveriam comprar madeira no Líbano (Ed
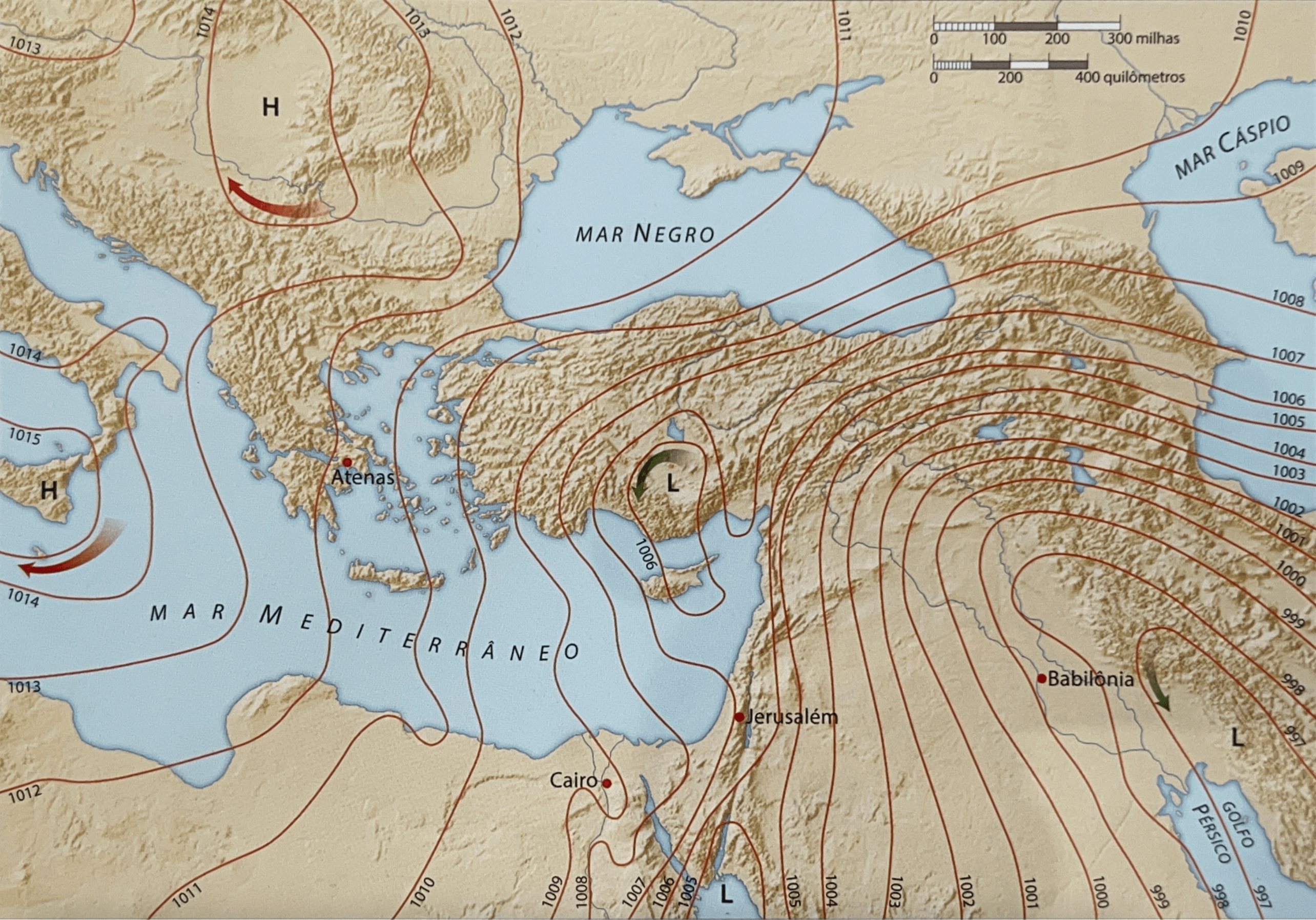
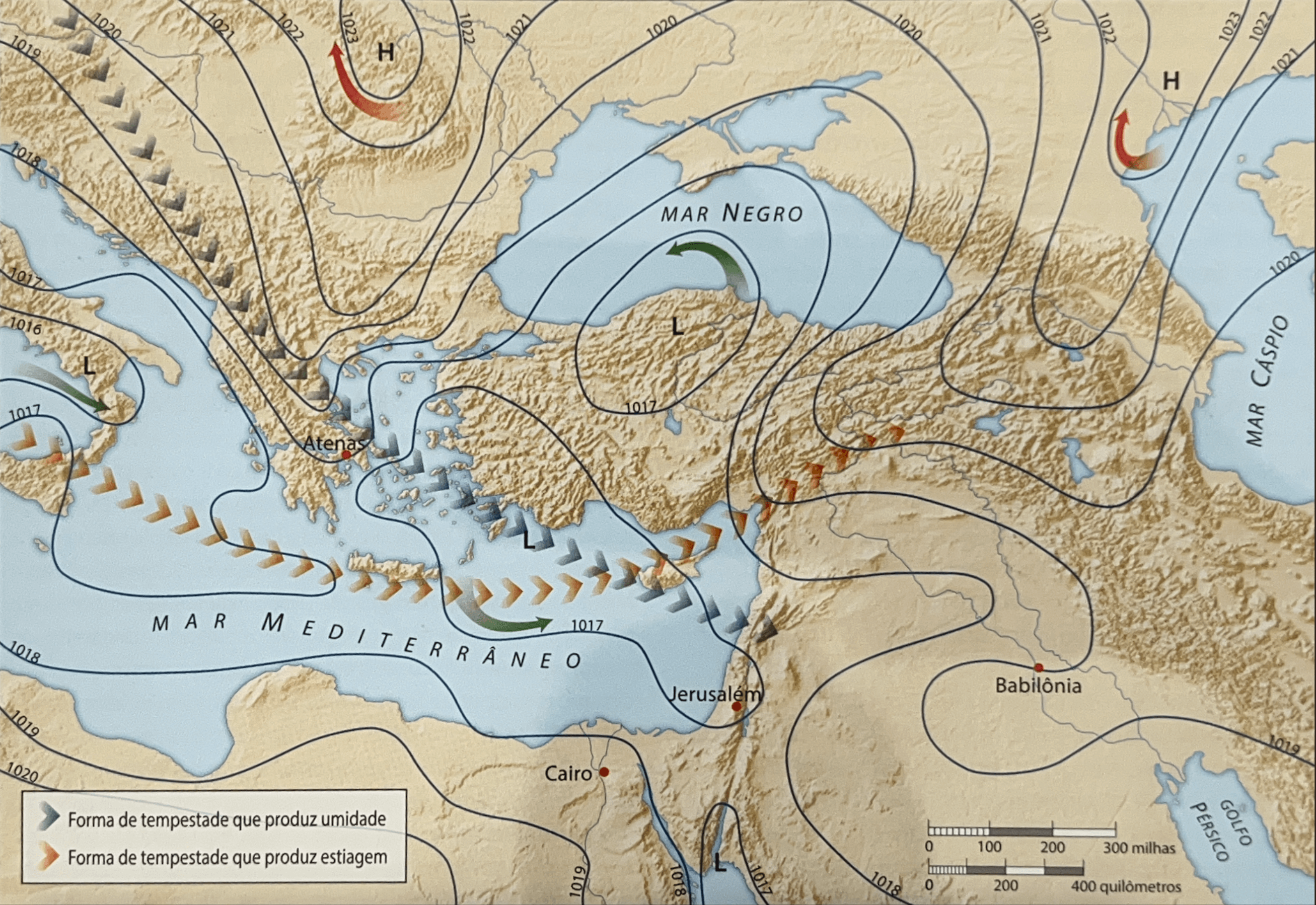
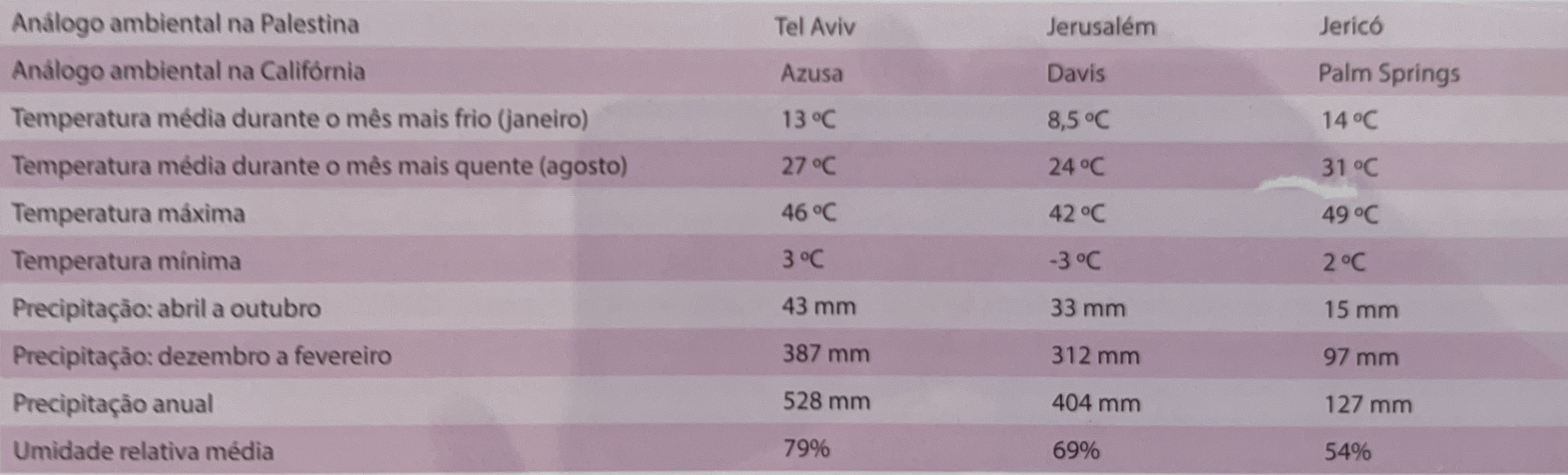
OS PROFETAS DE ISRAEL E DE JUDÁ
O termo "profeta" é derivado de uma palavra grega referente a alguém que "anuncia", e não "prenuncia". Já no século XVIII a.C., em Mari, na Síria, havia indivíduos anunciando mensagens dos deuses. No Antigo Testamento, o termo mais antigo "vidente" foi substituído posteriormente por "profeta", designação aplicada inclusive a Abraão, Moisés e Samuel.
ELIAS E ELISEU
O livro de Reis descreve as atividades de dois profetas do século IX a.C. Elias e seu sucessor, Eliseu. Durante o reinado de Acabe (873-853 a.C.), Elias anuncia uma seca como resposta divina ao pecado do povo. Passados três anos e meio sem chuva. Elias se encontra com 450 profetas de Baal, o deus da tempestade, no monte Carmelo e os desafia a fazer esse deus mandar fogo do céu. Os profetas de Baal são envergonhados, pois, a fim de mostrar que é o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor manda fogo do céu para consumir o sacrifício encharcado de água oferecido pelo seu profeta. Elias aproveita a ocasião e manda matar os profetas de Baal. Chuvas torrenciais põem fim à seca, mas Elias parece ser vencido pela depressão e foge para o deserto, onde pede para morrer. Restaurado pelo Senhor, Elias não teme confrontar Acabe por este haver confiscado a vinha de Nabote. Quando Elias é levado ao céu num redemoinho, Eliseu, seu sucessor ungido, herda seu manto e recebe uma porção dobrada do seu espírito. Vários milagres são atribuídos a Eliseu, inclusive a cura de Naamã, um comandante do exército arameu, que sofria de uma doença de pele grave." De acordo com o relato bíblico, Eliseu também ungiu a Jeú como rei de Israel e a Hazael como rei de Damasco. Em várias ocasiões, o profeta aparece na companhia de um grupo de discípulos.
OS PROFETAS ESCRITORES
Apesar de todas as suas atividades, não há registro das palavras de Elias e Eliseu além do relato encontrado nos livros de Reis. Porém, 22% do conteúdo do Antigo Testamento são constituídos de palavras de diversos profetas. Na Bíblia hebraica, quinze livros são dedicados a mensagens proféticas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e o Livro dos Doze (chamados, por vezes, de "Profetas Menores"). Na classificação da Bíblia cristã, o livro de Daniel é incluído entre os textos proféticos.
OSÉIAS
De acordo com a lista de reis em Oséias 1.1, esse profeta atuou na metade do século VIII a.C. Oséias atribuiu grande parte da decadência moral de Israel ao adultério spiritual dos israelitas com outros deuses. A situação de Israel é comparada com a de Gômer, a esposa adúltera de Oséias. Efraim, uma designação para os israelitas, buscou repetidamente a ajuda do Egito e da Assíria. Porém, Oséias insta o povo de Israel a voltar para Deus e evitar o julgamento vindouro: "Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque, pelos teus pecados, estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos a Senhor; dizei- lhe: Perdoa toda iniqüidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios" (Os
JOEL
E difícil datar o livro de Joel, pois o profeta não faz referência a nenhum rei contemporâneo. Joel descreve a devastação provocada por pragas sucessivas de gafanhotos. Esse fenômeno pode ser observado no mundo moderno, havendo registros de nuvens de gafanhotos que cobriram regiões de até 370 km de uma só vez, numa densidade de mais de seiscentos mil insetos por hectare. Joel insta o povo a se arrepender. "Ainda assim, agora mesmo, diz o SENHOR: Convertei- vos a mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos no SENHOR, VOSSO Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal."
Joel
O Senhor promete restauração: "Eu vos indenizarei pelos anos que os gafanhotos comeram os gafanhotos plenamente desenvolvidos, os que acabaram de nascer, os gafanhotos jovens e os que ainda não se desenvolveram de todo." JL
AMÓS
Amós era um boieiro de Tecoa (Khirbet Tequ'a), em Judá, que também cuidava de sicômoros, uma espécie de figueira.° Dotado de um senso de justiça social aguçado, dirigiu a maior parte das suas profecias à sociedade próspera, porém corrupta, de Israel durante o reinado de Jero- boão I (781-753 a.C.). Portanto, Amós foi contemporâneo de Oséias. Para Amós, o cerne de Israel estava corrompido e seria apenas uma questão de tempo até o povo ser exilado. "Gilgal, certamente, será levada cativa, e Betel será desfeita em nada" (Am
Os ministérios de Elias e Eliseu
O profeta Elias e seu sucessor, Eliseu, exerceram seus ministérios no século IX a.C.Os números se referem aos lugares visitados (em sequência cronológica) por esses dos profetas influentes. Elias (círculos em vermelho)
1) Tisbé, cidade natal de Elias
2) Alimentado por corvos em Querite durante uma estiagem
3) Visita a viúva de Sarepta e realiza os milagres da multiplicação do alimento e da ressurreição do filho da viúva
4) Confronto com os profetas de Baal no monte Carmelo
5) Corre para Jezreel sob chuva torrencial
6) Foge para Berseba em crise de depressão
7) Viaja para o monte Horebe, no Sinai, onde o Senhor lhe aparece
8) Unge Hazael como rei em Damasco
9) Unge Eliseu, originário de Abel-Meolá, como seu sucessor
10) Confronta Acabe, rei de Israel, por este ter confiscado a vinha de Nabote
11) Vla|a para Betel com Eliseu
12) É arrebatado ao céu num redemoinho perto de Jericó.
Eliseu (círculos em amarelo)
1) Ungido por Elias
2) Presencia o arrebatamento de Elias e recebe a capa deste como herança
3) Em Betel, é zombado por ser careca
4) Aconselha Josafá, rei de Judá, durante a campanha militar contra Moabe
5) Visita uma mulher em Suném e restaura a vida do filho dela
6) Em Gilgal, remove o veneno de um ensopado
7) Presente em Dotã quando o exército arameu (sírio) invade Israel
8) Conduz os arameus cegos para a Samaria; falece depois do reinado de Jeoás, rei de Israel (798-781 a.C.).
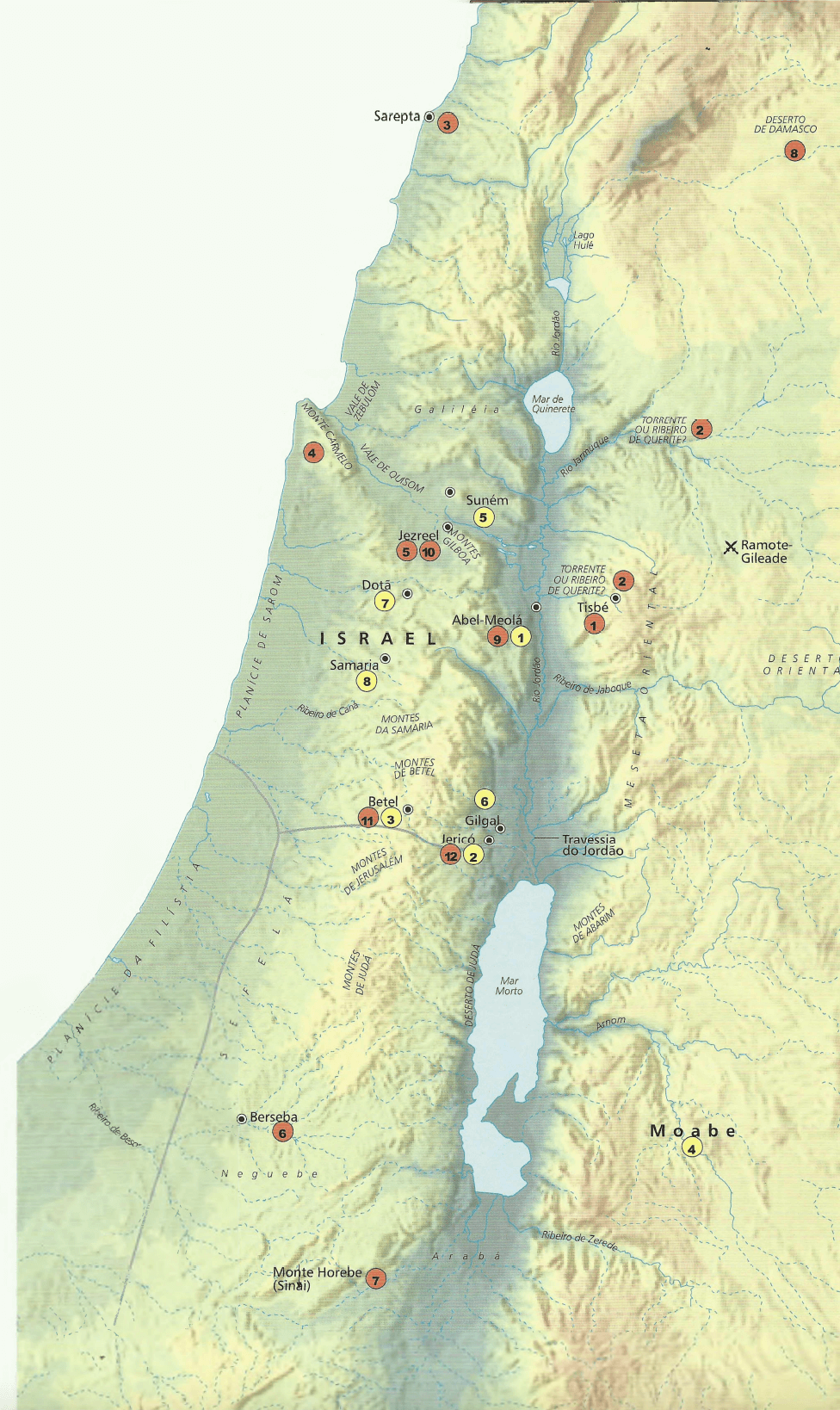
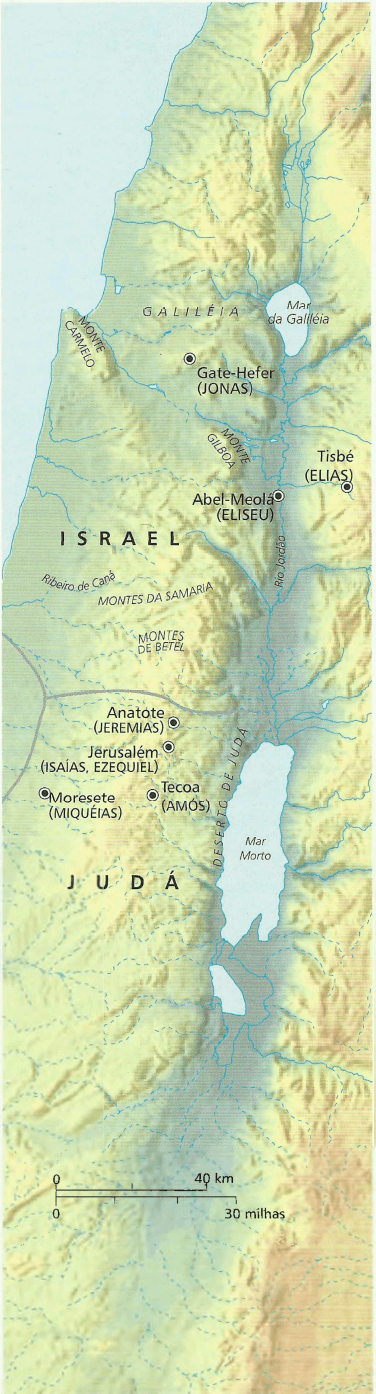
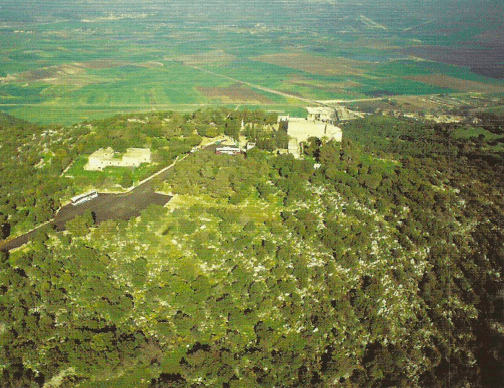
ESDRAS E NEEMIAS
No sétimo ano de Artaxerxes (485 a.C.), Esdras, um mestre versado na lei de Moisés, deixou a Babilônia e foi para Jerusalém,' acompanhado de um grande grupo de famílias e levando consigo prata e ouro que o rei, seus conselheiros e oficiais e os judeus haviam doado para o templo em Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém depois de quatro meses de jornada, Esdras teve de tratar de uma questão séria. Temendo que Deus voltaria a castigar seu povo pelo fato de vários homens terem desobedecido à lei e se casado com mulheres de povos vizinhos. Esdras exigiu que esses homens se divorciassem de suas esposas estrangeiras e abandonassem os filhos desses casamentos. Entre os judeus de períodos posteriores, Esdras adquiriu a reputação de "segundo Moisés" que deu a lei ao povo novamente.
NEEMIAS
Neemias era copeiro de Artaxerxes e servia vinho ao rei na cidadela de Susâ, no sudoeste do atual Irá. No vigésimo ano de Artaxerxes (445 .C.), Neemias foi informado por um parente chamado Hanani que os muros de Jerusalém se encontravam em ruínas. Não sabemos se Hanani estava se referindo aos muros destruídos por Nabucodonosor 141 anos antes ou se havia ocorrido uma rebelião ou outro problema (talvez mencionado em Ed
OS OPOSITORES DE NEEMIAS
Neemias sofreu a oposição de Sambalate, o horonita; Tobias, o amonita; e Gesém, o árabe.' Dois desses indivíduos são atestados diretamente em registros arqueológicos. Nos papiros encontrados em Elefantina, um local próximo a Assuà, na primeira catarata do Nilo, Sambalate é atestado como governador de Samaria no ano dezessete de Dario II (407 a.C.).
O nome de Gesém foi, também, encontrado no Egito. Uma tigela de prata de um santuário árabe em Wadi Tumilat na região leste do Delta traz a seguinte inscrição: "Aquilo que Qaynu, filho de Gesém, rei de Quedar, trouxe como oferta para a deusa Hanilat". Como seu filho e sucessor Qaynu, Gesém era rei ou chefe supremo de Quedar, uma tribo da região norte da Arábia. Um memorial da antiga cidade de Dedà (Khuraybah), próximo a al-Ula, no noroeste da Arábia, diz: "Nos dias de Gesém, filho de Shahr e (de) Abdi, governador de Deda.
OS MUROS SÃO CONCLUÍDOS
Apesar de forte oposição, as obras foram concluídas em 52 dias." O traçado exato desses muros é assunto sujeito a diferentes interpretações, mas parte deles ainda pode ser vista em Jerusalém nos dias de hoje. Josefo afirma que a reconstrução levou dois anos e quatro meses, um período que, sem dúvida, incluiu a fortificação e outras obras menores. A dedicação dos muros, na qual dois grandes corais circundaram a cidade em procissão jubilosa, andando em direções contrárias, é descrita em Neemias
Neemias foi governador de Judá até o trigésimo segundo ano de Artaxerxes (433 a.C.). Durante esse período, a fim de não ser um peso para o povo, recusou fazer uso das provisões às quais tinha direito como governador. Foi chamado de volta à corte, mas voltou a Jerusalém para um segundo mandato cuja duração não é especificada. Não ocupava mais o cargo em 407 a.C., pois os papiros de Elefantina atestam outro governador de Judá nessa época.
MALAQUIAS ENCERRA O ANTIGO TESTAMENTO
O último rei persa mencionado no Antigo Testamento é "Dario, o persa", uma referência a Dario II (424 404 a.C.) ou Dario III (336-330 a.C.). Foi nesse período que Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, exerceu seu ministério. No final de sua profecia, Malaquias declara: "Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível Dia do Senhor; ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição" (MI 4:5-6). Assim termina o Antigo Testamento (na sequência de livros da Bíblia crista): com uma promessa de maldição sobre aqueles que não reconhecerem o profeta Elias que está por vir. Por cerca de quatrocentos anos até a vinda de João Batista no espírito de Elias, nenhum profeta se manifestou. Era como se Deus tivesse se calado e a terra se encontrasse, de fato, sob maldição.

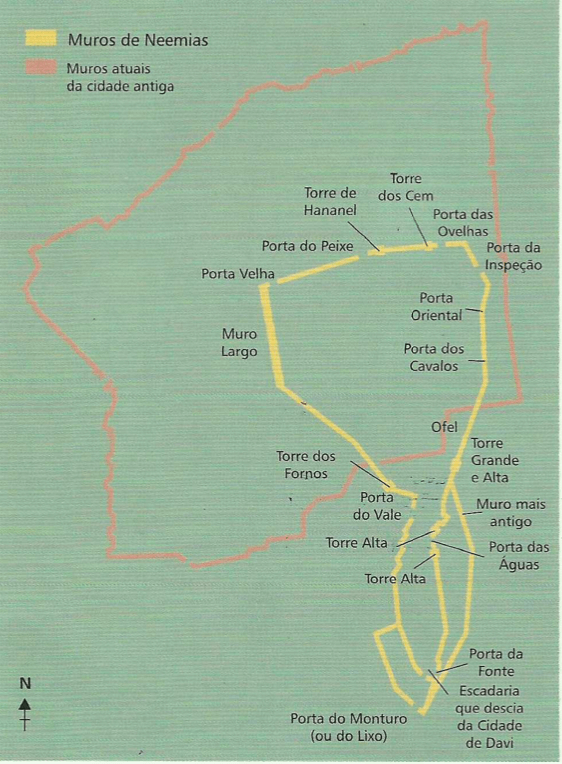
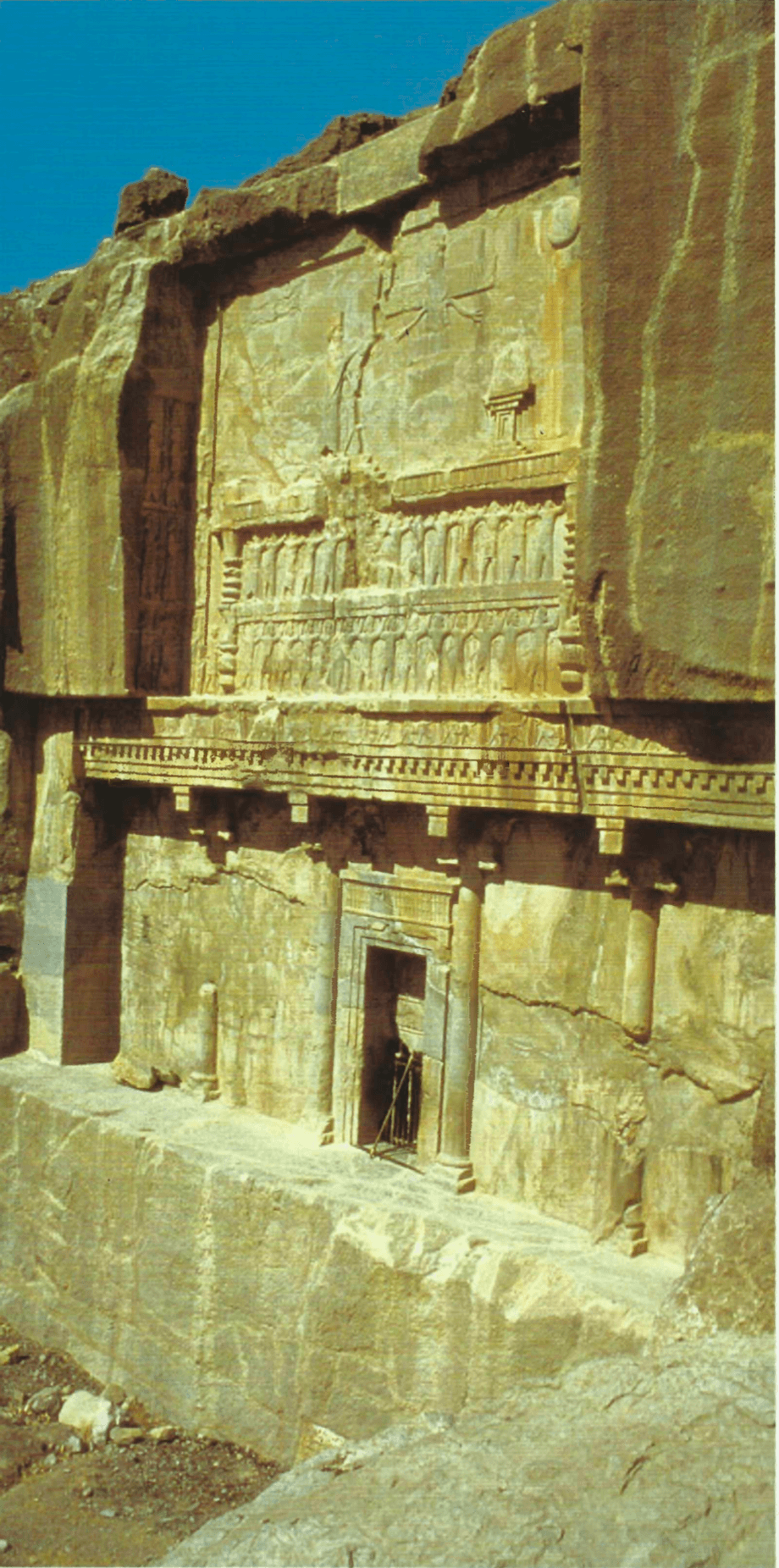

Os apêndices bíblicos são seções adicionais presentes em algumas edições da Bíblia que fornecem informações complementares sobre o texto bíblico. Esses apêndices podem incluir uma variedade de recursos, como tabelas cronológicas, listas de personagens, informações históricas e culturais, explicações de termos e conceitos, entre outros. Eles são projetados para ajudar os leitores a entender melhor o contexto e o significado das narrativas bíblicas, tornando-as mais acessíveis e compreensíveis.
Apêndices
Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 1)

Roboão: 17 anos
980Abias (Abião): 3 anos
978Asa: 41 anos
937Jeosafá: 25 anos
913Jeorão: 8 anos
c. 906Acazias: 1 ano
c. 905Rainha Atalia: 6 anos
898Jeoás: 40 anos
858Amazias: 29 anos
829Uzias (Azarias): 52 anos
Jeroboão: 22 anos
c. 976Nadabe: 2 anos
c. 975Baasa: 24 anos
c. 952Elá: 2 anos
Zinri: 7 dias (c. 951)
Onri e Tibni: 4 anos
c. 947Onri (sozinho): 8 anos
c. 940Acabe: 22 anos
c. 920Acazias: 2 anos
c. 917Jeorão: 12 anos
c. 905Jeú: 28 anos
876Jeoacaz: 14 anos
c. 862Jeoacaz e Jeoás: 3 anos
c. 859Jeoás (sozinho): 16 anos
c. 844Jeroboão II: 41 anos
Lista de profetas
Joel
Elias
Eliseu
Jonas
Amós
Tabela: Profetas e Reis de Judá e de Israel (Parte 2)

Jotão: 16 anos
762Acaz: 16 anos
746Ezequias: 29 anos
716Manassés: 55 anos
661Amom: 2 anos
659Josias: 31 anos
628Jeoacaz: 3 meses
Jeoiaquim: 11 anos
618Joaquim: 3 meses e 10 dias
617Zedequias: 11 anos
607Jerusalém e seu templo são destruídos pelos babilônios durante o reinado de Nabucodonosor. Zedequias, o último rei da linhagem de Davi, é tirado do trono
Zacarias: reinado registrado de apenas 6 meses
Em algum sentido, Zacarias começou a reinar, mas pelo visto seu reinado não foi plenamente confirmado até c. 792
c. 791Salum: 1 mês
Menaém: 10 anos
c. 780Pecaías: 2 anos
c. 778Peca: 20 anos
c. 758Oseias: 9 anos a partir de c. 748
c. 748Parece que foi somente em c. 748 que o reinado de Oseias foi plenamente estabelecido ou recebeu o apoio do monarca assírio Tiglate-Pileser III
740A Assíria conquista Samaria e domina 1srael; o reino de Israel de dez tribos, ao norte, chega ao seu fim
Lista de profetas
Isaías
Miqueias
Sofonias
Jeremias
Naum
Habacuque
Daniel
Ezequiel
Obadias
Oseias
Livros citados como referências bíblicas, que citam versículos bíblicos, são obras que se baseiam na Bíblia para apresentar um argumento ou discutir um tema específico. Esses livros geralmente contêm referências bíblicas que são usadas para apoiar as afirmações feitas pelo autor. Eles podem incluir explicações adicionais e insights sobre os versículos bíblicos citados, fornecendo uma compreensão mais profunda do texto sagrado.
Livros
Estes lugares estão apresentados aqui porque foram citados no texto Bíblico, contendo uma breve apresentação desses lugares.
Locais
ISRAEL
Atualmente: ISRAELPaís com área atual de 20.770 km2 . Localiza-se no leste do mar Mediterrâneo e apresenta paisagem muito variada: uma planície costeira limitada por colinas ao sul, e o planalto Galileu ao norte; uma grande depressão que margeia o rio Jordão até o mar Morto, e o Neguev, uma região desértica ao sul, que se estende até o golfo de Ácaba. O desenvolvimento econômico em Israel é o mais avançado do Oriente Médio. As indústrias manufatureiras, particularmente de lapidação de diamantes, produtos eletrônicos e mineração são as atividades mais importantes do setor industrial. O país também possui uma próspera agroindústria que exporta frutas, flores e verduras para a Europa Ocidental. Israel está localizado numa posição estratégica, no encontro da Ásia com a África. A criação do Estado de Israel, gerou uma das mais intrincadas disputas territoriais da atualidade. A criação do Estado de Israel em 1948, representou a realização de um sonho, nascido do desejo de um povo, de retornar à sua pátria depois de mil oitocentos e setenta e oito anos de diáspora. Esta terra que serviu de berço aos patriarcas, juízes, reis, profetas, sábios e justos, recebeu, Jesus o Senhor e Salvador da humanidade. O atual Estado de Israel teve sua origem no sionismo- movimento surgido na Europa, no século XIX, que pregava a criação de um país onde os judeus pudessem viver livres de perseguições. Theodor Herzl organizou o primeiro Congresso sionista em Basiléia, na Suíça, que aprovou a formação de um Estado judeu na Palestina. Colonos judeus da Europa Oriental – onde o anti-semitismo era mais intenso, começaram a se instalar na região, de população majoritariamente árabe. Em 1909, foi fundado na Palestina o primeiro Kibutz, fazenda coletiva onde os colonos judeus aplicavam princípios socialistas. Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) votou a favor da divisão da Palestina em dois Estados: um para os judeus e outro para os árabes palestinos. Porém, o plano de partilha não foi bem aceito pelos países árabes e pelos líderes palestinos. O Reino Unido que continuava sofrer a oposição armada dos colonos judeus, decidiu então, encerrar seu mandato na Palestina. Em 14 de maio de 1948, véspera do fim do mandato britânico, os líderes judeus proclamaram o Estado de Israel, com David Bem-Gurion como primeiro-ministro. Os países árabes (Egito, Iraque, Síria e Jordânia) enviaram tropas para impedir a criação de Israel, numa guerra que terminou somente em janeiro de 1949, com a vitória de Israel, que ficou com o controle de 75% do território da Palestina, cerca de um terço a mais do que a área destinada ao Estado judeu no plano de partilha da ONU.

Este capítulo é uma coletânea de interpretações abrangentes da Bíblia por diversos teólogos renomados. Cada um deles apresenta sua perspectiva única sobre a interpretação do texto sagrado, abordando diferentes aspectos como a história, a cultura, a teologia e a espiritualidade. O capítulo oferece uma visão panorâmica da diversidade de abordagens teológicas para a interpretação da Bíblia, permitindo que o leitor compreenda melhor a complexidade do texto sagrado e suas implicações em diferentes contextos e tradições religiosas. Além disso, o capítulo fornece uma oportunidade para reflexão e debate sobre a natureza da interpretação bíblica e sua relevância para a vida religiosa e espiritual.
Comentários Bíblicos
Beacon
Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo (1). O forno é figura de calor intenso (cf. Os
Os soberbos são todos aqueles a quem os murmuradores dizem que são "bem-aventurados" (3.15), e todos os que conseqüentemente deveriam ser como eles. Malaquias insiste na universalidade do julgamento; "todos os arrogantes e todos os malfeitores" (NVI) serão como palha (cf. Is
A declaração adicional que diz que este fogo lhes não deixará nem raiz nem ramo significa que não terão esperança de brotar outra vez à vida – a existência que é prometida aos justos. "Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos" (Jó
Mas para vós que temeis o meu nome, diz Deus, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas (2). A esplêndida imagem que Malaquias usa aqui é inigualável no Antigo Testamento, embora seja muito parecida com a idéia vista em Isaías
Acerca do versículo 3, Jones faz a observação pertinente: "O Antigo Testamento é o registro da preparação paciente e divina do povo de Deus para o Novo Testamento. Te-mos de esperar atender sentimentos que precisam da correção de nosso Senhor"." Para esta correção, leia Mateus
Em Ml
1) Quando a fé falha, Ml
2) Como fortalecer a fé, Ml
3) A última palavra de Deus, Ml
SEÇÃO VIII
CONCLUSÃO
Lembrai-vos da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos (4). Estas palavras nos lembram o final do livro de Eclesiastes: "De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos" (Ec
A nota final do Antigo Testamento é profética: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do SENHOR (5). Em certo senti-do, esta profecia dizia respeito a João Batista que iria "adiante dele [do Senhor] no espírito e virtude de Elias" (Lc
Champlin
Não há interrupção entre os capítulos Ml
Ml
Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. O julgamento de fogo de Deus é como um forno Mal. 3:2-5 enfatiza as propriedades de refinação deste fogo. mas aqui o tema é o poder destrutivo. Ver no Dicionário o artigo denominado Forno, para um matamento completo, inclusive dos usos metafóricos dessa palavra. Conforme Isa 56.15; Sf
O presente texto não tem nada que ver com o julgamento da alma no mundo além do sepulcro: não descreve o julgamento escatológico da terra. Ver minhas opiniões sobre a natureza do julgamento vindouro, no artigo Julgamento de Deus dos Homens Perdidos, na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Todos os julgamentos de Deus são restauradores, não meramente retributivos. Ver as notas em 1Pe
Ml
Para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Uma metáfora exaltada ilustra a bem-aventurança dos justos. Haverá cura divina para os que entrarem no Remo do Messias. O Sol da Justiça se levanta com asas poderosas e voa acima dos justos. Esta metáfora augusta deriva da fé egípcia, que se espalhou a outras religiões do Oriente Próximo. O disco do sol com asas se levanta acima do povo, trazendo vida, proteção e abundância. Os justos receberão a cura de todos os seus males e saúde perfeita para usufruir tudo o que os Poderes Divinos oferecem. Haverá realização de todas as esperanças: haverá alegria e triunfo com o fim das ansiedades e do sofrimento. O Problema do Mal terá solução definitiva. Ver as notas em Ml
Asas. As asas provavelmente se referem aos raios solares, onde a vida é gerada, as doenças são curadas, e as almas são renovadas. Sem estes raios a vida é impossível, Haverá alegria inefável e cheia de glória. Ver At
Talvez a figura se refira ao sol como um pássaro gigante que monta sobre asas poderosas, voando alto no céu, enquanto seus raios cobrem a terra inteira, curando todas as suas habitações.
"Como o sol, que com seus raios de luz e calor revívifica, alegra e frutifica a criação inteira, espalhando luz e vida, pelo poder de Deus, em toda parte, assim Jesus Cristo, pela influência de Sua graça e Espírito, vivifícará, iluminará, esquentará, vigorará, curará, purificará e refinará a alma de todos os que têm fé nele. Por suas asas ou raios, derramará bênçãos de um lado do céu para o outro" (Fausset, in loc.}.
Saltareis como bezerros soltos na estrebaria. A metáfora exaltada do Sol agora cede a uma humilde ilustração de bezerros que têm bastante para comer e são libertados de seu confinamento em estábulos. Assim, podem vaguear nos campos, regozijando-se com a liberdade. Os bezerros, em todos os sentidos, recebem os cuidados carinhosos do fazendeiro. Conforme Am
Esta linguagem é uma referência à vitória, à salvação e à instauração da justiça de Deus, que garante o triunfo do bem e protege o direito dos seus fiéis (conforme Sl
Conforme Êx
A Conclusão do Livro dos Doze (Ml
A conclusão de Malaquias também conclui os Profetas Menores (ver no Dicionário), que os judeus chamaram de Livro dos Doze, preservados num único rolo. Ver as anotações informativas sob o título, Ao Leitor, imediatamente antes do início da exposição.
“Os vss. Ml
Ml
Lembrai-vos de Moisés, meu servo. A lei foi a essência da fé dos hebreus, sendo o guia da vida espiritual (Dt
Note-se bem que Moisés e Elias são unidos nesta seção final do Antigo Testamento, como o foram também na transfiguração de Jesus, em Mat. 17. Alguns intérpretes então os vêem unidos, de novo, como as duas testemunhas de Apo. 11. Combinando-se as diversas uniões, temos a Lei e os Profetas representados como glorificando Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo.
Ml
Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Parte do trabalho do mensageiro será o de trazer paz e harmonia a Israel. Haverá amor mútuo nas famílias e entre os irmãos e irmãs do povo. O coração dos pais estará gentilmente à disposição de seus filhos, que os amarão. Velhos conflitos e ódios serão abolidos, na atmosfera de respeito mútuo. O amor de Deus vencerá a batalha, afinal. A velha idolatria-adultério-apostasia de Israel será aniquilada pela vitória do culto a Yahweh. que proporcionará salvação para todos.
E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o Libertador, ele apartará de Jacó as impiedades.
(Rm
Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Contrariamente, os homens (judeus ou gentios) que não obedecem a Yahweh, promovendo seus próprios interesses, e quebram a unidade da comunidade, sofrerão a maldição de Yahweh, que não permitirá que nada “azede" a realização da restauração. A terra de Israel ou a dos gentios compartilhará a maldição caso se oponham ao propósito de Deus no Reino do Messias.
Assim, com esta palavra terrível, maldição, o Antigo Testamento termina. De um ponto de vista, este final é infeliz, porque mancha a última página do Antigo Testamento, que é uma grande coleção de escritos espirituais. O profeta podia ter acabado seu livro de uma maneira mais elegante. De outro ponto de vista, o termino é apropriado, porque, em última análise, a Lei trouxe uma maldição para a humanidade, fazendo uma exigência que os homens não poderiam efetuar.
MakÈo todo aquele que não permanece em todas as cousas escritas no livro da lei, para praticá-las. Eé evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé.
O Novo Pacto em Jesus, o Novo Testamento, tirou a maldição das costas da humanidade.
Os rabinos, sensíveis ao modo inconveniente como terminou o “Livro dos Doze”, ordenaram que, em todas as leituras públicas do fim de Malaquias, o vs. Ml
É fato notável que o último trecho do Novo Testamento também contém uma maldição (Apo. 22:18-19). Isto é remido com o finis:
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
Amém.
Agradeço a Bill Barkley quem, durante todos os anos da minha produção literária, me encorajou, dando razões espirituais para não desisitir.
Adam Clarke fornece esta notícia, in loc., terminando seu comentário sobre a Bíblia inteira, obra que consumiu mais de 30 anos de sua vida. Ele finalizou sua labuta no dia 28 de março de 1825 D. C.: “Nunca esperava viver tanto para ver minha obra totalmente realizada. Seja meu trabalho um meio para glorificar a Deus, o Altíssimo, e um instrumento para a paz e a boa vontade entre os homens nesta terra! Amém, Amém!".
“Hoje, dia 3 de dezembro de 1997, terminei o comentário sobre o Antigo Testamento, que finaliza minha labuta árdua de muitos anos, produzindo um comentário, versículo por versículo, de toda a Bíblia portuguesa. O Novo Testamento Interpretado foi publicado em 1979; a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, em 1989. Espera-se que o Antigo Testamento Interpretado seja publicado em 1999. Levei 30 anos para completar esta obra gigantesca de aproximadamente 60.000 páginas. Vi a terra boa de Dã a Berseba por três vezes!
Oh, à graça de Deus quão devedor eu sou,
E diariamente sou constrangido a ser;
Que a tua bondade, como uma algema,
Prenda a Ti o meu coração vagabundo.
(Robert Robinson)
Agradeço pelas forças físicas, mentais e espirituais que me foram divinamente proporcionadas para realizar estes três projetos.
Vinde, vinde ó santos,
Nem trabalho nem labuta temam,
Mas com alegria percorrei vosso caminho.
Embora dura para vós pareça esta viagem,
Não é assim. Tudo está bem.
Agradeço a Bill BarWey quem, durante todos os anos da minha produção literária, me encorajou, dando razões espirituais para não desistir.
Nesta viagem de 30 anos, tive a colaboração e os esforços infatigáveis do meu tradutor, João Marques Bentes. Que a recompensa de Deus o acompanhe em seu caminho.
Se alguém chegar, batendo na minha porta, deixá-lo-ei saber que:
Eu estou indo pelo caminho superior:
Aquele caminho que segura o sol.
Estou subindo através das esferas estreladas,
Onde os rios celestiais correm.
Se você pensar em me procurar Na minha habitação escura de ontem,
Achará este escrito que deixei na porta:
“Ele está viajando no caminho superior".
Russell Norman Champlin, 3 de dezembro de 1997, Guaratinguetá, São Paulo, Brasil.
Genebra
4.1 os abrasará. Duas figuras de fogo são usadas em Malaquias para descrever o Senhor: o fogo purificador (3,2) e o fogo destruidor (4.1).
nem raiz nem ramo. O ímpio é comparado a uma árvore (Am
* 4.2 sol da justiça. Uma expressão exclusiva de Malaquias (conforme Sl
salvação. A Bíblia considera a doença física e a doença espiritual, ou o pecado, como análogos. A salvação é freqüentemente comparada à cura física (Êx
* 4.5 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. A conexão literária deste verso com 3.1 indica que “Elias” é a mesma pessoa que a do “meu mensageiro.” Ambos os versos começam com a palavra “Eis,” e usam a mesma forma do verbo “enviar.” Em ambos os casos a missão é trazer o arrependimento antes do dia da vinda do Senhor. O Novo Testamento identifica este “Elias” como João Batista (Mt
*
4.6 ele converterá o coração dos pais aos filhos. Arrependimento e conversão a Deus serão vistos na restauração dos relacionamentos familiares (Lc
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias começou com o anúncio do amor eletivo de Deus, contudo, o livro termina com a ameaça de uma maldição. A dupla mensagem de Malaquias, tanto de misericórdia quanto de juízo, ressoa no pronunciamento de Paulo, “Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus” (Rm
Matthew Henry
Wesley
No meio de tal ceticismo em Israel, e tão grandes iniqüidades nas nações, Deus ainda tem um remanescente fiel que temem (reverência e culto) Ele: aqueles que pensam em seu nome e falar com outras pessoas de como a fé a respeito de Sua bondade e fidelidade . A palavra hebraica para o pensamento (v. 16) é chashav . Em outras passagens é traduzida "regard" (Is
Além disso, eles ... falaram um com o outro , relativa a esse nome, relativo a suprema grandeza do Portador de mesmo nome, e que ele queria dizer a eles em todas as experiências de mudança de vida. O lugar da comunhão cristã bulked grande na experiência da Igreja primitiva: "Eles perseveravam na doutrina e na comunhão dos apóstolos ..." (At
Eles falaram um com o outro; eo Senhor atentou e ouviu. Esses verbos não são redundantes. Para ouvir significa literalmente "para picar até as orelhas." Isso significa "dar a atenção", "ouvir com atenção". Para ouvir é registrar na mente o que é dito. Como se isso não bastasse, o Senhor lhes assegura que um livro de recordações, um livro de honra, é mantido nos arquivos sagrados do céu. Nele, os nomes de todos aqueles que o temem e pensar no seu nome são escritos (conforme Ex
Três avenidas de abordagem para o ouvido de Deus são sugeridas aqui: (1) temente a Deus, (2) confraternizando uns com os outros, e (3) meditar sobre o seu nome.
No dia em que eu fizer (. marg, "fazer isso") - este é o dia do Senhor, o dia em que Deus vai agir em juízo (conforme 4: 1-2 ). Será um dia escuro e terrível para os ímpios (conforme Sf
Aqui é a última eis que do Antigo Testamento. A palavra sempre introduz uma questão de grande importância, especialmente quando dito pelos profetas.
Eu enviarei o profeta Elias, antes que o dia do Senhor ... vir. Esta é a mensagem de que o profeta chama a atenção neste momento. É este Elias, o tisbita, ou é outro que virá no espírito de Elias? Como ele vai transformar o coração dos pais aos filhos e preparar o caminho do Senhor? Ele vai fazê-lo, expondo o pecado, pregando o arrependimento e conversão, e anunciando o julgamento que cairá sobre os impenitentes.
Ele veio na pessoa de João Batista, o precursor de Jesus (conforme Jo
Bibliografia
Barnes, W. Emery. "Malaquias," A Bíblia Cambridge . Cambridge: The University Press, 1905. Calkins, Raymond. A Mensagem Modern dos Profetas Menores . New York: Harper, 1947. Dentan, Robert C. "O Livro de Malaquias," Bíblia do intérprete . Ed. George H. Buttrick. Vol. VI. New York: Abingdon, 1956. Dods, Marcus. Os Pós-exílio Profetas . Edinburgh: T. e T. Clark, nd Motorista, SR, ed. "Os Profetas Menores," A Bíblia New Century . Ed. Walter A. Adeney. Vol. II. New York: Frowde de 1906. Keil, Carl Friedrich. Os Doze Profetas Menores . Trans. Tiago Martin. Vol. II. Grand Rapids: Eerdmans, 1954 (Rep.). Orelli, C. von. Os Doze Profetas Menores . Trans. Bancos JS. Edinburgh: T. e T. Clark, 1897. Orr, Tiago. A International Standard Bible Encyclopedia . Vol. II. Grand Rapids: Eerdmans, 1949. Perowne, TT " Malaquias , " A Bíblia Cambridge . Cambridge: The University Press, 1908. . Raven, João Howard Antigo Testamento Introdução: Geral e Especial . New York: Revell de 1906. Robinson, George L. Os Doze Profetas Menores . New York: Harper, 1926. Smith, George Adão. "O Livro dos Doze Profetas Menores," A Bíblia do Expositor . Vol. IV. Grand Rapids: Eerdmans, 1940. Smith, João M. Powis. " A Crítica e Exegetical no livro de Malaquias , " The International Critical Commentary . Eds. SR Driver, A. Plummer, e CA Briggs. Edinburgh: T. e T. Clark, 1912.Wiersbe
Cristo é retratado como o "sol da justiça". Para a igreja, ele é a "brilhante Estrela da manhã" (Ap
Russell Shedd
4.2 O mesmo sol que destrói alguns, traz raios benéficos para outros. São símbolos do Messias, Jesus Cristo, que na Sua pessoa atua como salvador e com juiz (Ap
4.3 Cinzas. Metáfora para descrever a força da conquista de Cristo na sua vinda. Seu povo marchará vitorioso ao Seu encontro (Mt
4-5 Enviarei o profeta Elias. Enfrentamos aqui a última predição no AT. Prediz a vinda de Elias, que foi levado vivo ao céu. Terá a incumbência de conclamar novamente os homens a se preparem antes do juízo final.
4.6 Ainda que a linguagem seja algo ambígua, possivelmente indica a conversão do povo judeu antes da vinda de Cristo (Rm
NVI F. F. Bruce
Apêndice (4:4-6)
Os versículos finais concluem não somente a profecia de Malaquias, mas também o
“Livro dos Doze”. Não sabemos se eram parte original da profecia ou se são um acréscimo editorial. De qualquer modo, são uma conclusão adequada tanto para Malaquias quanto para os profetas hebreus.
v. 4. A Lei (heb. tõrãh) é resumida nesse versículo como os decretos (heb. huqqim-. lei categórica) e as ordenanças (heb. mishpãtím-. lei por jurisprudência) que Javé ordenou por meio de Moisés para o benefício de todo o povo de Israel. Horebe-. = monte Sinai (conforme Êx 3.1). v. 5,6. Tendo olhado para trás para a promulgação da Lei no Sinai, Malaquias agora olha para a frente, para a vinda de um profeta que vai desempenhar o papel de Elias e chamar a nação ao arrependimento antes do grande e temível dia do Senhor (uma expressão que também ocorre em Os
BIBLIOGRAFIA
Baldwin, J. G. Haggai, Zechariah, Malachi. TOTC.
London e Grand Rapids, 1972.
Hailet, H. Commentary on the Minor Prophets. Grand Rapids, 1972.
Jones, D. R. Haggai, Zechariah, Malachi. TB. London, 1962.
Laetsch, T. The Minor Prophets. St. Louis, 1956. Mason, R. The Books of Haggai, Zechariah and Malachi. Cambridge, 1977.
Smith, G. A. The Book of the Twelve Prophets, v. 2.
EB. London e New York, ed. rev., 1928. Smith, J. M. P. et alii. Haggai, Zechariah, Malachi and Jonah. ICC. Edinburgh e New York, 1912.
O ANTIGO TESTAMENTO E O CRISTÃO
O TEXTO DO ANTIGO TESTAMENTO
AS VERSÕES ANTIGAS
O CÂNON E OS APÓCRIFOS DO ANTIGO TESTAMENTO
A ARQUEOLOGIA E O ANTIGO TESTAMENTO
O PANO DE FUNDO GERAL DO ANTIGO TESTAMENTO
A TEOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO
A INTERPRETAÇÃO DO ANTIGO TESTAMENTO
INTRODUÇÃO AO PENTATEUCO
INTRODUÇÃO AOS LIVROS HISTÓRICOS
A CRONOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO
INTRODUÇÃO AOS LIVROS POÉTICOS
INTRODUÇÃO À LITERATURA SAPIENCIAL
INTRODUÇÃO AOS LIVROS PROFÉTICOS
O ANTIGO TESTAMENTO E O CRISTÃO
F. F. BRUCE
O ANTIGO TESTAMENTO NA 1GREJA
Além do seu status de Escritura sagrada, o AT é uma obra literária das mais interessantes e valiosas por si só, um objeto digno de estudos intensos e constantes. Posto na sua perspectiva histórica e interpretado corretamente, ele se constitui em fonte primária indispensável para uma fase importante da história — especialmente a história religiosa — do Antigo Oriente Médio. Parte do seu conteúdo é do mais elevado nível literário, e muito desse conteúdo ainda gera reações de apreciação espiritual no leitor e proporciona-lhe um meio de expressar as aspirações mais profundas da sua própria alma. Tudo isso vale tanto para leitores cristãos quanto para os outros, mas os cristãos têm de considerar ainda o seu status como parte das Escrituras Sagradas da igreja cristã.
O AT está investido de autoridade especial como Escritura sagrada não só para cristãos, mas também para judeus e muçulmanos. Na ortodoxia judaica, a Bíblia hebraica, que contém a Lei, os Profetas e os Escritos, é toda a Palavra de Deus. A sua interpretação é regulamentada pela tradição e, por motivos polêmicos ou apologéticos, a tradição tem recebido algumas vezes status equivalente ao do texto, mas tanto em princípio como de fato o texto escrito tem prioridade e é normativo. No islamismo, o tawrat (as Escrituras judaicas), e o injil (as Escrituras cristãs) registram a revelação de Deus dada por meio de profetas anteriores, que seria então finalmente reiterada e confirmada na revelação dada por meio de Maomé e registrada por escrito no Alcorão.
Já na igreja cristã, o AT é reconhecido tradicionalmente como o texto que registra os estágios iniciais desse processo contínuo de revelação divina e de resposta humana, que teve seu cumprimento em Cristo, sendo o NT o registro desse cumprimento. Se o que Deus falou a nossos antepassados por meio dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, está preservado no AT, o NT, por sua vez, nos conta que “nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho” (He 1:12). Mas, se colocarmos a questão dessa maneira, poderemos negligenciar o fato de que nas primeiras gerações da sua existência a única Bíblia da igreja cristã era o AT, e ela se deu muito bem tendo somente o AT. Quando nosso Senhor afirma que “são as Escrituras que testemunham a meu respeito” (Jo
Mesmo já quase na metade do segundo século da era cristã, os escritos do AT ainda desfrutavam dessa dignidade única. Tem-se comentado muitas vezes quão expressivo é o número de pagãos cultos do século II, como Justino Mártir e seu discípulo Taciano, que se converteram ao cristianismo — e eles mesmos dão testemunho disso — por meio da leitura do AT grego. Nessa época, naturalmente, a maioria dos documentos que constituem o NT já existia e circulava havia décadas, mas ainda não tinha recebido aceitação geral como uma coleção de escritos do mesmo nível que o AT, como sendo o volume do cumprimento ao lado do volume da promessa.
No entanto, quando falamos desse status singular do AT na igreja primitiva, estamos falando do AT interpretado e cumprido por Jesus. A igreja e a sinagoga compartilhavam do mesmo texto sagrado (faz pouca diferença se, em algumas regiões de fala grega, o cânon da igreja era ligeiramente mais abrangente do que o cânon da sinagoga), mas o texto era compreendido de formas tão diversas pela igreja e pela sinagoga que poderia até parecer que estivessem usando duas Bíblias diferentes. Em vão, Justino tenta convencer Trifo, no seu Diálogo com o judeu Trifo, da verdade do cristianismo, recorrendo às Escrituras que ambos reconhecem como divinas: o apelo de Justino pressupõe uma interpretação que Trifo não consegue aceitar.
Essa interpretação pode ser resumida na afirmação de que Cristo e o evangelho são o tema do AT. “Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome” (At
Os seus seguidores, portanto, descobriram que as Escrituras do AT estavam repletas de novo sentido à medida que desvendavam seus mistérios mais profundos com a chave que o seu Mestre lhes dera. Quando seu testemunho foi perpetuado de forma escrita, e os documentos que o perpetuaram foram, no devido tempo, reunidos e canonizados no NT, a autoridade do AT não foi, de forma alguma, diminuída. Também, quando na primeira metade do século II Marcião afirmou que Jesus e o evangelho eram coisas completamente novas, não relacionadas a nada que havia ocorrido antes, negando assim que o AT tivesse o direito de ser tratado como Escritura cristã, a igreja não deu nenhuma guarida a ele nem às suas convicções. Alguns argumentos usados para refutá-lo talvez tenham sido tolos, mas havia uma sã intuição de que o evangelho não floresceria com mais vigor se fosse cortado de suas raízes do AT.
A PALAVRA DE DEUS NO AT
É verdade que houve uma mudança de perspectiva na igreja desde os primeiros dias em que o AT era a sua única Bíblia, tornada compreensível pelo seu cumprimento em Cristo. Hoje em dia a tendência é valorizar mais o NT do que o AT. Creio que há concordância geral de que o conhecimento do AT é necessário para a compreensão do NT. Em primeiro lugar, ele registra a preparação para o evangelho, é o relato do que aconteceu antes, sem o que o evangelho não pode ser compreendido adequadamente. Além disso, o NT está de tal modo repleto de citações do AT que o conhecimento deste é tão essencial para sua apreciação quanto o conhecimento dos clássicos gregos e latinos é essencial para a apreciação da obra de Milton (por exemplo).1 Mas para Milton os clássicos em grego ou latim não continham autoridade própria; eles proporcionavam uma mina inexaurível de alusões literárias. As alusões ao AT no NT, no entanto, não estão ali para efeitos literários; elas implicam o reconhecimento da autoridade inerente ao próprio AT. Os autores do NT consideravam que o conteúdo da sua mensagem estava organicamente de acordo com a mensagem do AT, a ponto de o AT e o NT poderem ser considerados duas partes de uma mesma sentença, cada parte sendo essencial para a compreensão do todo. Essa percepção está destacada no artigo VII dos “Trinta e nove artigos”, que começa assim: “O Antigo Testamento não é contrário ao Novo; porquanto em ambos,
’John Milton (1608-1
674) é o maior poeta épico da língua inglesa. Sua obra-prima é Paradise Lost [Oparaíso perdido, Ediouro, 2000]. [N. do T.] tanto no Antigo como no Novo, a vida eterna é oferecida ao gênero humano por Cristo, que é o único Mediador entre Deus e o homem, sendo Ele mesmo Deus e Homem...”.
A unidade da mensagem dos dois testamentos não deve ser estabelecida por meio de exercícios tipológicos fantasiosos, que encontram nos escritos do AT as mais diversas doutrinas neotestamentárias, das quais nem os autores originais nem seus leitores poderiam sequer suspeitar. Essa unidade pode ser demonstrada de forma mais eficiente por meio do reconhecimento de um padrão recorrente de ação divina e resposta humana, como é traçado, por exemplo, em 1Co
A salvação de Deus e o seu juízo, no Antigo Testamento, são dois aspectos da mesma ação: se ele vindicou o seu nome ao permitir que seu povo fosse para o exílio por se rebelar contra ele, da mesma forma vindicou o seu nome ao trazê-lo de volta. A salvação desse povo é a sua vindicação (conforme SI 98:1-3). No ato culminante do evangelho, esses temas gêmeos de salvação e juízo coincidem: Jesus absorve o julgamento na sua própria pessoa e assim realiza a salvação do seu povo.
Nessa história da salvação, o ato divino e a palavra profética andam de mãos dadas: nenhum deles proporciona uma revelação completa sem o outro. A relação entre o ministério de Moisés e a libertação realizada no êxodo é equiparada à interação entre o ministério de profetas posteriores e os atos de misericórdia e juízo que eles proclamaram ou interpretaram. Quando chegamos à consumação do NT, o ato redentor e o ministério profético coincidem na mesma pessoa — Jesus.
Alguns estudiosos encontraram no tema da aliança um princípio unificador para o relato do AT, que conduz ao cumprimento do evangelho. O Deus de Israel é um Deus que faz alianças e as cumpre: ele estabelece um relacionamento especial com as pessoas e dispõe-se a ser o seu Deus, entendendo que elas querem ser o seu povo. Nos dias de Noé, ele faz uma aliança com toda a raça humana (Gn
A ESCRITA NO ANTIGO ISRAEL
Na conquista de Canaã, Israel tomou posse de cidades em que a escrita era conhecida, e o alfabeto básico era familiar. História, leis, profecias, itinerários, narrativas, listas de impostos, tudo já era registrado com facilidade (conforme Jz
Esse pano de fundo ajuda-nos quando consideramos as origens e o desenvolvimento dos livros do Antigo Testamento. Informações valiosas sobre os hábitos dos escribas podem ser tiradas dos próprios documentos antigos, e elas podem ajudar-nos a detectar os tipos de erro cometidos à medida que uma geração copiava os livros de outra. Até mesmo notas insignificantes, escritas em fragmentos de cerâmica, evidenciam a habilidade de uma eficiência prática, o cuidado para que se alcançasse a legibilidade, um modo de escrita aceito. Um cuidado semelhante pode ser identificado nos manuscritos literários assírios, babilónicos e egípcios de 2000 a.C em diante, os quais fornecem uma analogia satisfatória para a prática israelita. Por um lado, existe uma grande preocupação em reproduzir um texto antigo de forma exata, talvez com a atualização da ortografia, observando os danos causados à cópia mestra, contando as linhas, acrescentando o nome do escriba, às vezes também o nome de um revisor, a(s) fonte(s) da cópia mestra (ou cópias mestras), a data e o destino da cópia — rei, templo ou indivíduo. Por outro lado, uma composição podia passar por mudanças editoriais e por revisão, criando uma ampla variação entre diversas cópias. Nesses casos, as diferenças são muitas vezes inexplicáveis ou sem sentido agora e não seguem padrão algum; são impossíveis de ser descobertas ou previstas com base em apenas um texto, fato que precisa receber peso especial na hora de reconstruir a história literária dos escritos do Antigo Testamento.
Para leitura adicional acerca do tema desta seção, v. The Practice of Writing in Ancient Israel, The Biblical Archaeologist 35 (1972), p. 98-111; Approaching the Old Testament, Themelios 2 (1976), p. 34-9, ambos por este autor.
O TEXTO HEBRAICO TRADICIONAL DO ANTIGO TESTAMENTO
A escrita já existia em Israel, mas não sabemos como e quando os livros que herdamos foram escritos pela primeira vez, pois não há cópias disponíveis anteriores ao terceiro século a.C. As cópias mais antigas que ainda existem, os manuscritos do mar Morto, revelam certa diversidade que vai ser discutida a seguir. Elas também revelam a existência, entre 200 a.C. e 65 d.C., da forma textual conhecida em um estágio posterior como o Texto Massorético (TM) ou Tradicional, no qual as traduções para as línguas modernas são baseadas.
A partir do exílio, o hebraico decaiu para o status de língua de uma minoria entre os judeus, embora um dialeto persistisse na Judéia, sendo então substituído pelo aramaico, a lingua franca do Império Persa. A medida que o processo continuava, havia a necessidade crescente de preservar a pronúncia “correta” do texto da Bíblia hebraica na leitura da sinagoga. Para ajudar o leitor, algumas consoantes podiam representar vogais, um uso que se iniciou no período da monarquia e que alcançou o seu pico na época herodiana. Por volta dos séculos 7 e VIII d.C., surgiram métodos mais precisos de representação de vogais e acentos, que culminaram no esquema de pontos e sinais colocados acima, abaixo e dentro das letras, usados desde então para produzir os sons e a entonação aceitos. Os estudiosos judeus que aplicaram esse sistema ao texto consonantal herdaram regulamentações rígidas, designadas para manter a precisão nas cópias, as quais eram comparáveis às antigas atitudes babilónicas e, talvez, derivadas delas. Eles também registraram variantes no texto escrito que lhes foram repassadas (a Massorá).
Algumas dessas variantes, na verdade, corrigiam erros que foram conservados como relíquias no texto escrito; assim, em Is
A tradição também relata algumas passagens em que o texto fora alterado para evitar idéias inaceitáveis, como em 1Sm
Esse texto massorético é representado hoje por alguns manuscritos copiados nos séculos nono e décimo d.C., e os principais estão preservados no Cairo, Jerusalém, São Petersburgo e Londres e por todas as Bíblias hebraicas escritas ou impressas posteriormente.
TEXTOS MAIS ANTIGOS
A recuperação dos manuscritos do mar Morto provou a existência de outros textos hebraicos além do tipo tradicional, na Palestina, durante o século I a.C. até 68 d.C.
Tem-se dado destaque a esses textos variantes inevitavelmente porque são novos para nós, mas devemos observar que eles são minoria entre os manuscritos do mar Morto e, além disso, são muito fragmentários. Suas diferenças do texto massorético são mais do que erros acidentais resultantes de enganos dos escribas, embora estudos mais aprofundados mostrem que muitas delas são deslizes, e não mudanças intencionais. (Assim, o acréscimo de Ex
b) Transposição de letras, como em SI 49.11, em que o qirbãm do TM é traduzido por “pensamento interior” pela ARC (significa “interior”, “entranhas”), mas deveria ser lido qibrãm, “seus túmulos” como está na NVI.
c) Repetição por engano (“ditografia”), e.g., 2Rs
d) Omissão por engano (“haplografia”) exemplificada em muitas cópias que omitem Js
e) Separação incorreta de palavras. Um exemplo excelente é Jl
O grau de incerteza cresce com a extensão e a complexidade de qualquer suposto erro. Suponha que a haplografia em Is
Descobertas em outros documentos antigos podem lançar luz sobre passagens em que um erro textual não parece existir, mas mesmo assim o texto permanece obscuro, contendo, talvez, uma das 1.500 palavras que só aparecem uma vez no texto hebraico. O ugarítico, uma língua próxima do cananeu e do egípcio, preservou uma palavra para navio que nos permite traduzir Is
Todos esses métodos têm de ser usados com prudência, com atenção a cada alternativa, com cuidado para não impor um sentido estranho ao texto. O texto tem sido preservado de forma extraordinária ao longo de muitas gerações; é um tesouro a ser valorizado, estudado e reparado nos lugares em que o tempo causou pequenas imperfeições. Não pode ser distorcido ou remodelado para agradar gostos e opiniões sempre em mudança. A todos os que estão dispostos a ouvir de forma reverente e atenciosa, ele transmite sua mensagem eterna.
BIBLIOGRAFIA
V. a bibliografia conjunta no final de “As versões antigas”, p. 31-2.
AS VERSÕES ANTIGAS
ROBERT E GORDON
Enquanto os judeus permaneceram na Palestina e falaram sua língua materna, não tiveram problemas em entender suas Escrituras Sagradas. Mas já no século VI a.C., e muito tempo antes de ser concluído o cânon do AT, muitos judeus viviam longe da terra natal de seus ancestrais. Alguns foram deportados para a Mesopotâmia depois que os babilônios conquistaram Jerusalém, em 597 a.C.; outros — mais ou menos na mesma época — seguiram o precedente estabelecido, muito tempo antes, de buscar refúgio no Egito. Mas mesmo que essa dispersão não tivesse ocorrido, os judeus dificilmente teriam evitado a exposição aos sons estranhos do aramaico e do grego nos séculos seguintes à destmição do seu Estado. A hegemonia babilónica no Oriente Médio teve vida curta; seu fim repentino aconteceu com a chegada dos persas à Babilônia, em outubro de 539 a.C. Nos 200 anos seguintes, os persas dominaram o Oriente Médio, e sob o seu domínio o aramaico desfrutou do status singular de língua oficial do império. Tanto na Palestina quanto no Egito e na Mesopotâmia, os judeus descobriram que era necessário, para não dizer vantajoso, tornarem-se fluentes na lingua franca do império. Os arquivos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, mostram a profundidade com que o aramaico se arraigou nesse canto do império no quinto século a.C. Muito tempo depois que os persas foram expulsos por Alexandre e pelos gregos, o aramaico permaneceu como um monumento ao domínio persa, sendo falado e escrito em várias partes do Oriente Médio, incluindo a Palestina. Os feitos prodigiosos de Alexandre pavimentaram o caminho para a propagação da língua e cultura gregas no Oriente, e nenhum território vassalo foi mais afetado do que o Egito e sua recém-fundada Alexandria, de estilo grego. Foi em reconhecimento das necessidades dos judeus de fala aramaica, na Palestina, e dos judeus de fala grega, no Egito, que se fizeram as primeiras tentativas de traduzir o AT do original hebraico para essas línguas.
Há várias razões por que os estudiosos deveriam estar interessados nas versões antigas do AT. Em primeiro lugar, as traduções são importantes para o estudo das línguas em que foram escritas. Em cada caso, proporcionam informações valiosas a respeito do vocabulário, flexão e sintaxe dessas línguas em estágios específicos da sua história. Em segundo lugar, nenhuma tradução é feita num vácuo ideológico. “Muitos e diversos fatores deixam sua marca sobre a obra — os pressupostos intelectuais que os tradutores herdam de sua própria época e cultura, as opiniões religiosas e de outra natureza que defendem ou às quais devem demonstrar respeito, os preconceitos ou desejos pelos quais são condicionados consciente ou inconscientemente, o seu grau de instrução, a sua própria habilidade de se expressar e a amplitude dos conceitos da língua para a qual estão traduzindo, além de muitos outros fatores”.1 Além disso, a objetividade profissional e a neutralidade teológica não eram
'E. Würthwein. The Text of the Old Testament. Oxford, 1957, p. 33.
aspectos tão valorizados pelas equipes de tradução da Antiguidade — se é que havia equipes — como são hoje. A idéia de sofrimento vicário em Is
Samaritano (denominado PS a partir de agora), ele não é, nem de perto, tão antigo quanto a comunidade samaritana sempre acreditou. Afirmações inverossímeis são feitas especialmente em favor do rolo de Abishaf diz-se que foi copiado por Abishua (ou Abisua), o bisneto de Arão (lCr 6.3,4), no décimo terceiro ano da instalação dos israelitas em Canaâ. Isso, indubitavelmente, é propaganda exagerada que visa a amparar as afirmações a favor da recensão samaritana contra sua rival judaica. Na verdade, o rolo é constituído de duas partes costuradas. A cópia da parte mais antiga (contendo Nu 33:1— Dt
A rigor, o PS “na verdade não é uma versão, mas uma transcrição”.1 2 Por ser a forma textual do Pentateuco que foi transmitida no norte de Israel, tem suas peculiaridades, mas suas discrepâncias com a tradição massorética dificilmente podem ser consideradas substanciais. Pois, embora haja em torno Dt
A primeira cópia do PS a chegar ao Ocidente foi trazida de Damasco por Pietro delia Valle, em 1616, e as primeiras edições impressas foram as que apareceram nas Poliglotas de Paris e de Londres (1632 e 1657 respectivamente). Uma edição apenas com esse texto foi publicada em Oxford, em 1790, por Benjamin Blayney. Naquela época, o PS era tido em alta estima, e foram necessários as pesquisas e os pronunciamentos do grande crítico alemão Gesenius, no início do século XIX, para rebater as reivindicações infundadas que foram feitas em favor desse texto. Pesquisas mais recentes da morfologia do PS mostram que ele reflete o hebraico comum da Palestina, entre o século II a.G. e o século III d.C. Os estudos paleográficos do erudito americano F. M. Cross concordam com esta avaliação: a versão não pode ser datada antes do período asmoneu.
A SEPTUAGINTA
A Septuaginta é a decana das versões do AT. Além do seu direito de primogenitura, sua singularidade está garantida também por seu uso constante por parte dos autores do NT e dos cristãos primitivos, em geral. Além do mais, essa versão tem um lugar especial na antiga literatura grega, pois as Escrituras hebraicas foram “o único escrito religioso oriental que alcançou a honra de ter uma tradução para o grego”.3 Na verdade, o termo “Septuaginta” aplica-se apenas à tradução do Pen-tateuco, mas seu uso como referência a todo o AT grego pode ser verificado já nos escritos de Justino Mártir e Ireneu, no século II d.C. O relato mais antigo da origem da Septuaginta é dado na Carta de Aristéias, escrita no segundo século a.C. Aristéias conta como, por ordem de Ptolomeu II Filadelfo (285— 247 a.C.), uma equipe de 72 tradutores veio de Jerusalém para Alexandria e verteu o Pentateuco para o grego em 72 dias. A Carta é uma narrativa incoerente, contendo uma pequena quantidade de fatos e cercada de muita ficção. Ela é também uma obra apologética e parece ter sido escrita numa época quando a exatidão do Pentateuco grego (no mínimo) estava sendo questionada. Assim, o autor discorre longamente sobre a erudição impecável dos tradutores e o início auspicioso da sua tradução. Nos séculos seguintes, os elementos lendários da história multiplicaram-se e tornaram-se mais forçados e artificiais, e, em pelo menos alguns lugares, as pretensões acerca da tradução tornaram-se ainda mais exageradas. Para Fílon de Alexandria, que viveu no início da era cristã, a Septuaginta era tão divinamente inspirada quanto o original hebraico, e os seus tradutores tinham status profético e sacerdotal. Mas há detalhes no relato original de Aristéias que, de modo geral, são considerados dignos de crédito. É muito provável que o Pentateuco tenha sido a primeira parte do AT a ser traduzida para o grego e que o trabalho tenha sido realizado por judeus bilíngües em Alexandria, no início do século III a.C. Não é tão provável, por outro lado, que Ptolomeu Filadelfo tenha sido o instigador do empreendimento. Há razões suficientes para o projeto no fato de que nessa época existia no Egito uma grande comunidade de judeus que só sabiam falar o grego. Depois que o Pentateuco foi traduzido, o restante dos livros canônicos também deve ter sido tratado da mesma maneira, de modo que, em torno de 100 a.C., uma versão completa do AT grego estivesse à disposição.
A profusão de variantes nos MSS existentes da Septuaginta e o método apropriado de explicá-los são o nosso próximo assunto. O texto do AT grego nunca foi estático; ele era sempre copiado e submetido a revisões, buscando-se cada vez mais fidelidade ao original hebraico, ou um estilo grego melhor, ou ainda no intuito de seguir uma teoria específica de tradução. Assim, um dos principais unciais, o Códice Alexandrino, pode incorporar diferentes tipos de texto e recensões, e todos dependendo dos MSS de cada um dos livros, disponíveis na época da transcrição. Alguns estudiosos, seguindo a proposta do falecido Paul Kahle, argumentam que o excesso de variantes textuais é explicado de modo melhor com base na pressuposição de que não houve uma “Septuaginta original” (Ur-Septuaginta), mas somente uma variedade de traduções independentes, da qual eventualmente surgiu um texto-padrão. A maioria dos estudiosos da Septuaginta, embora não exclua a possibilidade de antigas tentativas “não-oficiais” de tradução, defende que os diversos textos e recensões tenham todos, em teoria, uma fonte comum.
Jerônimo, no seu Prefácio a Crônicas, fala de três recensões principais do AT grego que eram reconhecidas pela igreja nos seus dias. “Alexandria e o Egito reconhecem Hesíquio como o autor da sua Septuaginta; de Constantinopla até Antioquia, a versão de Luciano Mártir é reconhecida; as províncias da Palestina entre essas duas localidades usam códices que foram produzidos por Orígenes e publicados por Eusébio e Panfílio. O mundo todo discorda entre si acerca dessa tríplice variedade”. O estudo da história da transmissão da Septuaginta precisa começar com essas três recensões e, particularmente, com a obra de Orígenes. Desde cerca de 230 d.C. até 245 d.C., Orígenes empenhou-se na compilação de sua Hé-xapla, uma edição em seis colunas do AT em hebraico e grego. Era um empreendimento enorme, mas Orígenes estava convicto da sua utilidade; a Septuaginta tinha grande necessidade de uma revisão com base no texto hebraico para continuar sendo a poderosa arma apologética que fora nas mãos de gerações anteriores de cristãos. A primeira das seis colunas da Héxapla apresentava o texto hebraico do AT, e as cinco colunas restantes apresentavam uma transliteração do hebraico em letras gregas, as versões de Aquila e Símaco, a reconstrução que o próprio Orígenes fizera da Septuaginta e, finalmente, a versão de Teodócio. Usando os símbolos de Aristarco,4 Orígenes indicou acréscimos da Septuaginta ao original hebraico e também o material interpolado com que ele corrigira as omissões da Septuaginta. Somente pequena parte da obra de Orígenes sobreviveu. E mesmo que gerações subseqüentes de estudiosos tenham muito que agradecer a Orígenes, é preciso observar que, com respeito à coluna da Septuaginta que ele elaborou, “tendia a suprimir as características mais originais e distintivas da Versão”.5 O método de alinhar o texto grego com o hebraico, com o qual Orígenes estava familiarizado, não levou em consideração as mudanças que o hebraico veio sofrendo, ou pelo menos sofreu, desde o tempo em que a Septuaginta foi primeiramente traduzida. Não eram somente os aspectos físicos da antiga Septuaginta que se tornavam mais obscuros; a possibilidade de reconstrução de leituras hebraicas que fossem anteriores à padronização do texto protomassorético tornou-se mais remota.
Acerca das revisões de Luciano e de Hesí-quio, sabemos ainda menos. A primeira está associada ao nome de um presbítero de An-tioquia que foi morto como mártir em 311 ou 312 d.C. O interesse de Luciano era, em parte, o de um estilista literário, e sua obra mostra clara preferência pelas formas áticas mais clássicas, em contraste com os hele-nismos comuns à tradição mais aceita da Septuaginta. Com o propósito de preservar leituras antigas, Luciano fez questão de apresentar um texto que combinava leituras variantes; sua edição dos livros históricos (Os Profetas Anteriores) é especialmente valiosa como um relicário de leituras antigas. Mas há indicações de diversas fontes — as antigas versões latinas, o papiro grego Rylands n” 458, textos da caverna 4 de Cunrã — de que o mérito de Luciano é o de um con-tinuador, e não o de um inovador. “Encontramos no papiro Manchester (n° 458) uma passagem relacionada ao texto luciânico da Bíblia, escrita cerca de 500 anos antes do próprio Luciano”.6
Hesíquio provavelmente foi um bispo egípcio que viveu aproximadamente na mesma época de Luciano. Embora Jerônimo afirme que sua revisão se tornou o texto-padrão da igreja no Egito, tem sido difícil identificá-la nos MSS existentes hoje. Se soubéssemos mais sobre os princípios segundo os quais Hesíquio realizou sua revisão, a tarefa de identificar os originais desse revisor seria grandemente facilitada. Argumentos a favor da natureza hesiquiana de diversos MSS foram elaborados em uma ou outra época. Alguns estudiosos chegaram até a sugerir que a recensão de Hesíquio fora produto da imaginação de Jerônimo. De qualquer maneira, houve outras revisões da Septuaginta além das mencionadas por Jerônimo, e uma das realizações dos estudos modernos dessa versão foi identificar e isolar várias delas. Sem dúvida, o avanço mais significativo nessa área foi identificar a recensão chamada Kaige, precursora da versão extremamente literal de Aquila. O trabalho dessa escola de tradução é marcado por idiossincrasias, tais como a tradução do advérbio hebraico gam por kaige,
9P. E. Kahle. The Cairo Geniza. 2. ed., Oxford, 1959,
p. 221.
daí o seu nome. A pista da existência dessa corrente de recensões surgiu com a descoberta do rolo grego dos Doze Profetas (Menores) — o Dodekapropheton —, cujos fragmentos vieram à luz em Cunrã em 1952 e nos anos seguintes.7 8 O padre Barthélemy, pioneiro nesse campo, afirma que a versão de Teodócio e vários outros textos e tradições dentro do AT grego são representativos da escola Kaige.
Gomo tradução do AT hebraico, a Septuaginta é mais bem caracterizada como “boa, em partes”. Em virtude da primazia do Pen-tateuco na sinagoga, esses livros eram, como um todo, tratados com cuidado, e traduzidos de forma bastante literal." Outros livros, tais como Jó, Daniel e Provérbios, foram tratados com mais liberdade; neste último, provérbios hebraicos aparecem muitas vezes com forma ou feição grega. Há dois textos de Juízes mesclados na Septuaginta, mas não são versões independentes: “um usou o outro, ou ambos vieram do mesmo arquétipo”.9 A tradução de Isaías é — e isso é um tanto surpreendente — de qualidade mediana. Jó e Jeremias foram traduzidos de textos hebraicos que eram significativamente mais curtos do que o TM.
Provavelmente o fragmento mais antigo da Septuaginta ainda existente seja o papiro grego Rylands 458, já mencionado. E datado do século II a.C. e contém partes de Dt 23— 28. O papiro Fouad 266, com fragmentos de Gênesis e Deuteronômio, é quase igualmente tão antigo. Da caverna 4 de Cunrã vieram fragmentos de Lv
Um bom número de versões antigas baseou-se, no todo ou em parte, na Septuaginta, principalmente a Latina antiga (Vetus latina), a copta, a armênica, a geórgica, a gótica, a eslavônica, a etiópica, como também algumas traduções arábicas. Algumas dessas têm valor em virtude da luz que lançam sobre os seus originais gregos. As mais importantes nesse aspecto são as em etíope, latim e copta.13 A versão copta saídica desfruta ultimamente de uma estima incomum por conta de pontos de concordância com o já mencionado Dodekapropheton. Várias traduções foram produzidas para atender às necessidades de igrejas nativas em situações semelhantes às que são encontradas por missionários hoje. Úlfilas e Mesrop tiveram de inventar alfabetos, o gótico e o armênio respectivamente, para que pudessem verter as Escrituras para o vernáculo.
AS VERSÕES GREGAS MENORES
O uso — e o abuso — cristão da Septuaginta conduziu finalmente ao desagrado dessa versão por parte dos judeus, seus antigos promulgadores. Mas houve mais um fator responsável pela mudança de estima da Septuaginta por parte dos judeus. O processo de padronização do texto hebraico consonantal parece ter alcançado seu clímax no final do século I d.C. Enquanto os cristãos podiam usar — e de fato usavam — a Septuaginta como se nunca tivesse havido um original hebraico, a atitude dos judeus não podia ser a mesma. Ali, o abismo entre a tradição grega e a tradição hebraica, então estabilizada, foi considerado grande demais para continuar a ser tolerado. Tentativas anteriores de trazer a versão grega a uma conformidade maior
,3As versões armênica e geórgica talvez tenham sido apenas revisadas com base nos textos gregos.
com o hebraico foram agora canalizadas para uma versão cujo princípio dominante era o de fidelidade ao texto hebraico adextremum. Áquila publicou sua tradução em algum momento do início do século II d.C., provavelmente na Palestina. Sua reação à cristianização do AT foi produzir uma versão exageradamente literal dos originais hebraicos, representando nuanças, etimologias, solecismos e tudo o mais. Ao empregar essa sistemática, ele estava adotando os princípios exegéticos ensinados por seu provável mentor, o famoso rabino Akiba. Podemos comparar a versão de Áquila aos textos interlineares modernos do NT, quando fazem uma tradução absolutamente literal do original.10 Também a obra de Áquila deve ter tido o mesmo tipo restrito de público-alvo. A versão de Áquila desapareceu, em grande parte, mas há fragmentos em número suficiente para demonstrar a coerência com que foram aplicados os princípios de tradução. Um dos testemunhos mais importantes dessa versão é o palimpsesto da Héxapla do século X, descoberto pelo cardeal Mercati na Biblioteca Ambrosiana em Milão, em 1896. O palimpsesto contém em torno de 150 versículos de Salmos, omitindo somente a primeira coluna (o texto em hebraico) da Héxapla, conforme fora origi-nariamente produzida por Orígenes.
Pelo menos duas outras traduções gregas do AT foram publicadas no período entre o final do século II e o início do século III d.C. Assim como Áquila, Teodócio parece ter edificado sobre um alicerce estabelecido muito antes de sua época; de outra forma, seria difícil explicar leituras “teodociônicas” que já estão presentes no NT e nos pais apostólicos. Ireneu nos informa que Teodócio era judeu prosélito e natural de Efeso. Orígenes obviamente tinha a versão de Teodócio em alta estima, usando-a com freqüência para preencher omissões na coluna da Septuaginta de sua Héxapla. A superioridade da versão de Teodócio do livro de Daniel foi tamanha que desalojou quase que completamente a frágil versão da Septuaginta desse livro; há somente dois MSS para representar esta versão. A tradução de Teodócio está em algum lugar entre o literalismo de Áquila e a elegância estilística de Símaco. Ele tinha uma tendência desconcertante para a transliteração, especialmente de termos técnicos, e há mais de cem exemplos desse fenômeno nas porções de sua obra que sobreviveram.
Símaco, terceiro componente do trio, fazia parte da seita judaico-cristã dos ebio-nitas. Seu compromisso com a elegância do estilo grego faz da sua versão a antítese completa da obra de Áquila, embora haja evidências de que ocasionalmente fizera uso desta! Na sua atenuação dos antropomorfismos, talvez possamos descobrir mais uma expressão do desejo de Símaco de apresentar o AT ao mundo grego da forma mais favorável possível, embora seja possível também atribuir essa tendência a seu conhecimento e respeito pelas idéias rabínicas sobre a questão. E muito difícil determinar com exatidão a data da composição de sua obra; as primeiras décadas do século III talvez sejam um bom palpite.
OS TARGUNS ARAMAICOS
A tradição talmúdica associa a origem dos targuns à ocasião descrita em Ne
Nos targuns, entramos em contato com a atmosfera da sinagoga da Palestina, especialmente no material exortativo e parenético das passagens mais parafraseadas. E embora os targuns existentes tenham certamente atingido sua forma final na era cristã, provavelmente o período mais crucial do seu desenvolvimento foi a época intertestamen-tária. Os temas teológicos dos targuns, como também os temas prediletos nas sinagogas antigas, incluem a eleição de Israel, a proeminência da Torá, a esperança da libertação messiânica do domínio estrangeiro, a ressurreição dos mortos (seja a ressurreição geral, seja uma ressurreição apenas dos justos), recompensa e castigo. “Tu, ó casa de Israel, que pensas que quando um homem morre neste mundo o seu julgamento cessa” — que mostra pouca relação com o original hebraico de Ml
Se tanto targuns orais quanto escritos circulavam no período pré-cristão, não devemos nos surpreender ao encontrar seus ecos no NT, sempre nos lembrando de que era para a Bíblia grega que a igreja primitiva normalmente olhava em busca de inspiração. Como a citação de Is
A PESHITA (OU “VULGATA”) SIRÍACA
O siríaco, um dialeto do aramaico oriental, foi a língua do cristianismo da Mesopotamia por muitos séculos e ainda é falado em algumas regiões da Turquia Oriental e do norte do Iraque. O cristianismo provavelmente chegou à Mesopotamia durante o século I, mas, visto que já havia uma grande população judaica na região, é difícil saber se a tradução do AT para o siríaco foi realizada primeiramente pelos judeus ou pelos cristãos. A maioria dos eruditos prefere a origem judaica, e essa tese parece ter apoio na incidência de elementos targúmicos e rabínicos na tradução; tradutores cristãos poderiam ter feito alusões aos targuns, mas seria improvável que tivessem dependido de uma versão judaica na proporção encontrada na Peshita. A opinião se divide também em relação a se os targumismos do Pentateuco da Peshita remontam ao targum da Palestina ou ao targum Onkelos, da Babilônia. A primeira opção é apoiada pela ocorrência de alguns elementos palestinenses (aramaico ocidental) no aramaico oriental da Peshita. Por outro lado, o argumento em favor da dependência de Onkelos tem sido apresentado de forma convincente em épocas recentes. Nesse caso, a origem palestinense de Onkelos é apresentada como explicação adequada dos elementos do aramaico ocidental encontrados na versão siríaca. E, na realidade, o abismo entre os dois pontos de vista não é tão grande quanto às vezes se tem pensado. Se o Pentateuco da Peshita foi traduzido no final do século I ou no início do século II, só precisamos postular essa escolha não como entre a dependência de um targum palestino e de um targum babilônio, mas entre um targum palestino, especialmente importado para o uso dos tradutores, e um targum palestino que estava começando a se firmar na Babilônia }e que mais tarde seria reconhecido como o targum Onkelos. O ônus da prova estaria, então, com os que defendem a idéia de que um targum foi especialmente importado por essa razão.
Uma ilustração desse tipo de circunstâncias em que essa importação especial poderia ter ocorrido foi, de fato, apresentada pelo falecido Paul Kahle.15 Para Kahle, a aparente dependência do Pentateuco da Peshita de um targum palestino exigia uma relação especial entre a Mesopotâmia e a Palestina. Esse elo vital, ele julgou ser a conversão da casa real do reino de Adiabene, a leste do Tigre, ao judaísmo, e os estreitos vínculos que se seguiram entre Adiabene e Jerusalém nas décadas anteriores à destruição desta em 70 d.C. Depois da conversão da casa real, e como conseqüência da existência de um grande número de convertidos ao judaísmo na região, um targum deve ter sido levado da Palestina para a Mesopotâmia, especificamente para ajudar os tradutores judeus em seu trabalho na versão siríaca do Pentateuco. Essa teoria é citada com freqüência, mesmo na ausência de informações seguras sobre as origens da Peshita, mas ainda continua com pouca comprovação. Além disso, precisamos observar que a reconstrução que Kahle fez desse processo era necessária em vista da sua posição — agora amplamente rejeitada — de que o targum Onkelos era babilônio ab initio. Se todos os targuns originaram-se na Palestina — tanto Onkelos quanto os outros —, então não precisamos lançar mão desse tipo de especulação para explicar os elementos targúmicos palestinos na Peshita.
Até agora, nos ocupamos somente com o Pentateuco, mas há evidências de dependência de targuns em outros livros do AT na Peshita. Essa dependência é bem clara, por exemplo, na tradução siríaca de Malaquias; em outros livros, como em 1 e II Samuel, há características targúmicas que podem não ser empréstimos diretos por parte dos tradutores da Peshita. A medida que a versão conquistou aceitação nas igrejas orientais, os targumismos tenderam a ser eliminados, e a conformidade com a Septuaginta passou a ser a preocupação predominante. Apesar disso,
15Op. cit., p. 270ss.
a Peshita concorda mais com o TM do que com a Septuaginta. A qualidade da tradução varia consideravelmente de acordo com cada livro, embora possamos destacar duas características gerais:
1) havia a tendência de se omitir palavras ou frases que eram ininteligíveis para os tradutores;
2) a tradução de versículos citados no NT, ou de versículos aludidos no NT, pode ter sido influenciada pela respectiva referência do NT.
As origens da Peshita já se mostravam um assunto difícil de ser tratado desde meados do primeiro milênio. Teodoro de Mopsuéstia, no início do século V, confessa não poder contribuir em nada para esse assunto. Os mais antigos MSS datados estão agora abrigados no Museu Britânico; um deles, datado de 459/60 d.C., contém partes de Isaías e um fragmento de Ezequiel, e o outro, copiado em 463/4 d.C., contém o Pentateuco, menos Levítico. A pesquisa acerca da história da Peshita é dificultada pela falta de uma edição crítica adequada, como a que existe para a maioria dos livros da Septuaginta. Para corrigir essa situação, em 1959 a Organização Internacional para o Estudo do Antigo Testamento autorizou P. A. H. de Boer, de Leiden, a iniciar o projeto siríaco do AT, com a ajuda de uma equipe de colaboradores internacionais. O primeiro volume do projeto dedicado a um livro canônico — 1 e II Reis — foi publicado em 1976. Seria inútil, no entanto, esperar que a importância da Peshita para a crítica textual algum dia pudesse alcançar a importância da Septuaginta.
Outras versões siríacas do AT, como a Filoxeniana (início do século VI) e a Héxapla siríaca (616/7 d.C.), são baseadas na Septuaginta. A Héxapla siríaca, associada ao nome de Paulo, bispo de Telia, é uma tradução da coluna da Septuaginta da edição antológica do AT de Orígenes, descrita anteriormente, e uma de suas testemunhas mais importantes. A chamada Versão Siríaca Cristã-Palestina, da qual existem porções de lecionários do AT, na realidade é uma tradução aramaica registrada em um tipo modificado de escrita siríaca. Uma tentativa de datação entre os séculos 4 e VI é o máximo que podemos fazer com base nas evidências existentes.
A VULGATA LATINA
As igrejas de fala latina do norte da África e da Europa (principalmente a Gália e algumas regiões da Itália) tiveram sua própria tradução da Bíblia quase desde o seu início. Citações bíblicas nos escritos de Tertuliano e de Cipriano certamente indicam a existência de versões latinas dos dois testamentos no início do século III. Há razões suficientes para pensar que a história do que se tornou conhecido como “as antigas versões latinas” remonta ao século II. Durante os dois séculos seguintes, houve uma proliferação de traduções latinas, todas baseadas na Septuaginta e, mesmo assim, exibindo uma ampla variedade de versões. Essa era a situação quando, em torno do ano 382 d.C., Dâmaso, bispo de Roma, comissionou seu secretário, chamado Jerônimo, a começar uma revisão da Bíblia em latim. Com relação ao AT, os primeiros esforços de Jerônimo foram empenhados em estabelecer um texto em latim que representasse fielmente a Septuaginta. Mas essa fase do seu trabalho nunca foi concluída; quanto mais Jerônimo observava a Latina antiga (Vetus latina), tanto mais ele se convencia de que a necessidade real era de uma tradução baseada no original hebraico, a “verdade hebraica” CHebraica ventas) como ele o chamou.
Três séculos de tradição cristã estavam no caminho de um empreendimento do tipo que Jerônimo agora começava, pois a inspiração divina da Septuaginta era proclamada e aceita em muitos cantos da igreja. As discrepâncias entre o grego e o original hebraico dificilmente eram levadas em conta, pois raramente alguém sabia hebraico. Jerônimo foi motivado, em parte, por considerações apologéticas e missionárias, percebendo que o evangelismo entre os judeus, em particular, estava fadado à ineficácia enquanto os cristãos usassem traduções que fossem inaceitáveis para os seus oponentes. “Uma coisa é cantar os salmos nas igrejas cristãs, outra, bem diferente, é responder a judeus que contestam capciosamente as palavras”,11 era como ele via as coisas. Assim, em torno de 390 d.C., Jerônimo começou o trabalho que viria a ser seu monumento mais duradouro. Os primeiros livros que traduziu do hebraico foram os de Samuel e de Reis, e no prefácio desses livros ele apresentou a apologia do seu trabalho. Já o título do seu prefácio, Prologus Galeatus (“O prólogo com capacete”), ilustra muito bem seu estranho senso de humor e também mostra que tipo de reação ele esperava das fileiras conservadoras da igreja. Não somente o texto, mas também o cânon foram afetados por esse retorno ao hebraico; sob esse novo regime, não se perdeu muito tempo com os acréscimos apócrifos aceitos no cânon alexandrino. Livros como Tobias e Judite foram traduzidos de textos inadequados, com enorme rapidez e pouca precisão; outros nem receberam qualquer atenção de Jerônimo.
Na sua tradução dos livros canônicos, como também nos comentários sobre eles, Jerônimo incorpora com freqüência explanações judaicas tradicionais, especialmente quando é uma questão de geografia, filologia ou algo semelhante. Em muitos pontos dos comentários, ele reconhece sua dívida para com o seu professor de hebraico com respeito a alguma explanação ou interpretação específica. (Sua partida para o Oriente, em 386, só fez incrementar sua familiaridade com a erudição judaica. Desse ponto em diante, fez de Belém o seu lar, morrendo ali em 420.) A causa da precisão no trabalho também foi favorecida pelo constante recurso de Jerônimo às antigas versões latinas, e também à Septuaginta e às versões menos significativas de Aquila, Teodócio e Símaco. Sendo ou não servilmente literal, a obra de Aquila recebeu a maior consideração por parte de Jerônimo. Sua própria tradução foi colocada em algum lugar entre a literalidade de Aquila e a forma mais livre de equivalência de idéias de algumas das versões modernas. Com base nas introduções aos diversos livros traduzidos, podemos extrair informações acerca do modus operandi de Jerônimo e da ordem em que ele lidou com os livros. Depois de traduzir Samuel—Reis, trabalhou com Jó e os Profetas, depois com Salmos e os livros tradicionalmente atribuídos a Salomão. Os livros de Moisés foram os últimos a ser traduzidos, e o empreendimento todo foi concluído em 405.
Como no caso da maioria das versões antigas, não é sábio generalizar muito acerca do AT da Vulgata. Os diversos livros apresentam características diferentes na tradução. Em um determinado livro, Jerônimo talvez tenha dependido mais de uma versão individual latina ou grega do que era seu costume, ou talvez tenha se permitido mais liberdade de expressão estilística do que em outro. Há também o que Roberts chama de “tendência de Jerônimo de imitar no Antigo Testamento o latim do Novo Testamento”.12 Dessa forma, o escândalo do desconhecido foi, se não removido, pelo menos reduzido! Jerônimo também não era avesso à prática de interpolar uma ou outra palavra para ajudar seus leitores a obter a correta compreensão do texto, ou de eliminar repetições em benefício de uma leitura mais agradável. Já comentamos sua preferência pela cristianização dos textos, especialmente aqueles que pareciam passíveis de uma interpretação messiânica. Assim, a interpretação errônea da ARC de Ag
A esperada oposição à nova tradução concretizou-se, mas, por meio de um processo gradual, entre os séculos 6 e IX, a Vulgata alcançou uma posição insuperada no cristianismo ocidental, exercendo, afinal, grande influência sobre as línguas e a literatura da
17B. J. Roberts. The Old Testament Text and Versions (Cardiff, 1951), p. 255.
18Para obter a tradução correta, v. a RSV (ou a NVI) e observe a nota de rodapé do versículo na Amplified Bible.
Europa Ocidental. E mais uma vez o problema de textos divergentes começou a surgir. Um fator importante foi a contaminação da Vulgata por textos da Latina antiga (Vetus latina) que ainda não tinham saído de circulação. Finalmente, em 1546, o Concílio de Trento deliberou sobre a necessidade de uma edição precisa e oficial da Vulgata. A primeira resposta a esse desafio, a edição Sixtina publicada pelo papa Sixto V em 1590, tinha falhas tão evidentes que uma versão corrigida, a edição Sixto-Clementina foi publicada por Clemente VIII dois anos depois. Esta manteve o seu posto até o presente século (XX); a revisão beneditina de toda a Vulgata, comissionada pelo papa Pio X em 1907, ainda não foi concluída.
A suprema ironia está no fato de que, na comunhão romana, a tradução que Jerônimo fez, com base nas línguas originais da Bíblia, tem sido reconhecida por séculos como autorizada, a ponto de excluir outras tentativas de representar com mais fidelidade aqueles mesmos originais. O retorno ao texto original como refletido na Bíblia de Jerusalém, na edição católica da RSV (agora fundida na Common Bible de 1
973) e na New American Bible precisa, portanto, ser bem acolhido e encorajado — mesmo que as linhas de batalha ainda precisem ser definidas acerca da questão do cânon.
BIBLIOGRAFIA
Geral
Bruce F. F. The Books and the Parchments. 4. ed., Basingstoke, 1984.
The Cambridge History of the Bible. V. I, ed. P. R. Ackroyd & C. F. Evans, Cambridge, 1970; v. II, ed. G. W. H. Lampe, Cambridge, 1969.
Kahle, P. E. The Cairo Geniza. 2. ed., Oxford, 1959. Noth, M. The Old Testament World. Philadelphia— Edinburgh, 1966.
Orlinsky, H. M. Essays in Biblical Culture and Bible Translation. New York, 1974.
Estudos especiais
1) Texto hebraico
Ap-Thomas, D. R. A Primer of Old Testament Text Criticism. Oxford, 1965.
Cross, F. M. The Ancient Library ofQumran and the Biblical Text. 2. ed. rev., Grand Rapids, 1980.
_. Scrolls from the Wilderness of the Dead Sea.
New Haven e London, 1965.
Harrison, R. K. Introduction to the Old Testament.
Grand Rapids, 1969, London, 1970, p. 211-59. Roberts, B. J. The Old Testament Text and Versions. Cardiff, 1951.
Weingreen, J. Introduction to the Critical Study of the Hebrew Bible. Oxford, 1982.
Würthwein, E. The Text of the Old Testament. 2. ed. em inglês, London, 1979.
2) Pentateueo Samaritano
Coggins, R. J. Samaritans and Jews. The Origins of the Samaritanism Reconsidered. Oxford, 1975. Purvis, J. D. The Samaritan Pentateuch and the Origin of the Samaritan Sect. Harvard—Oxford, 1968. Waltke, B. K. The Samaritan Pentateuch and the Text of the Old Testament, cap. 14. In: New Perspectives on the Old Testament. Ed. J. B. Payne; Waco, 1970.
3) Septuaginta e versões relacionadas
Jellicoe, S. The Septuagint and Modern Study. Oxford, 1968.
Jellicoe, S., ed. Studies in the Septuagint: Origins, Recensions, and Interpretations. New York, 1974. Kenyon, F. G. & Adams, A. W. The Text of the Greek Bible. 3. ed., London, 1975.
Gooding, D. W. Relics of Ancient Exegesis. Cambridge, 1976.
Tov, E. The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research. Jerusalém, 1981.
Walters, P. The Text of the Septuagint. Its Corruptions an their Emendation. Ed. D. W. Gooding, Cambridge, 1973.
4) Targuns
Bowker, J. W. The Targums and Rabbinic Literature. Cambridge, 1969.
Chilton, B. D. The Glory of Israel. The Theology and Provenience of the Isaiah Targum, Sheffield, 1983. Churgin, P. Targum Jonathan to the Prophets. New Haven, 1927.
Levey, S. H. The Messiah: An Aramaic Interpretation. The Messianic Exegesis of the Targum. New York, 1974.
McNamara, M. The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch. Roma, 1966/1978. McNamara, M. Targum and Testament, Shannon, 1972.
5) Peshita
Emerton, J. A. Unclean Birds and the Origin of the Peshitta, JSS VII, 1962, p. 204-11.
Koster, M. D. ThePeshitta of Exodus. Assen, 1977. Lamsa, G. M, trad. The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscripts. Philadelphia, 1957.
Robinson, T. H. The Syriac Bible, cap. III. In: The Bible in its Ancient and English Versions. Ed. H. W. Robinson, Oxford, 1940 (reimpr. 1954).
6) Vulgata
Kelly, J. N. D. Jerome: His Life, Writings and Controversies. London, 1975.
Sparks, H. F. D. “The Latin Bible”, cap. IV. In: The Bible in its Ancient and English Versions. Ed. H. W. Robinson, Oxford, 1940 (reimpr. 1954).
O CÂNON E OS APÓCRIFOS DO ANTIGO TESTAMENTO
GERALD F. HAWTHORNE
DEFINIÇÃO DE TERMOS
A palavra “cânon” deriva do grego kanõn, uma palavra cujo significado literal é vara, barra ou linha, como a linha do prumo de um pedreiro. Era usada para medir coisas ou manter um objeto em movimento retilíneo.
A palavra passou a ter o significado metafórico de padrão pelo qual as pessoas comparavam coisas e pelo qual julgavam suas qualidades ou valor (conforme G1 6.16). As vezes “cânon” se referia às regras de uma arte ou negócio, ou ao padrão usado para orientar o artesão. Na escultura, por exemplo, a estátua “o lanceiro”, de Policleto, “era considerada
0 cânon ou a forma perfeita do corpo humano” (TDNT\ 3, 597). A sua forma era o modelo de excelência do escultor.
Desse significado metafórico surgiu a idéia de aplicar a palavra “cânon” a uma lista de escritos sagrados que possuíam autoridade divina especial — autoridade que dava a esses escritos uma característica normativa. Por isso, tornaram-se o padrão, o modelo, o paradigma segundo o qual os fiéis poderiam avaliar outros escritos e idéias, e o conjunto de regras pelas quais poderiam ordenar a própria vida de fé, ensino e prática.
E este último significado que temos em mente quando falamos do cânon do AT — uma coleção de escritos inspirados pelo Espírito de Deus, santos, sagrados e revestidos de autoridade. Esse cânon contém:
1) o Pentateuco (Gn, Êx, Lv, Nm, Dt);
2) os Profetas: os Profetas Anteriores (Js, Jz
1 e 2Rs) e os Profetas Posteriores (Is, Jr, Ez, e os Doze, i.e., os chamados “Profetas Menores”); e
3) Os Escritos (Sl, Pv, Jó, Gt, Rt, Lm, Ec, Et, Dn, Ed—Ne ele 2Cr). Embora em épocas e locais diferentes esses livros do AT apresentem variações na sua ordem e quantidade (o número de livros canônicos varia entre 22 e 39, dependendo de como são agrupados), para os judeus e a maioria dos protestantes todos esses livros e somente esses livros constituem o cânon do AT — um registro fechado e normativo da revelação divina.
A palavra “apócrifos” também deriva de uma palavra grega — apokryphos. Originaria-mente significava “coisas escondidas, secretas”, “coisas obscuras, de difícil compreensão”. Com o passar do tempo, no entanto, como a palavra “cânon”, tornou-se um termo técnico aplicado a escritos sagrados e revestidos de autoridade; foi usada dessa forma por Jerônimo para designar aqueles livros que outros pais da Igreja tinham chamado de “eclesiásticos” — i.e., livros dignos de serem lidos na igreja, mas não de serem empregados para estabelecer doutrinas.
Ninguém sabe ao certo por que essa palavra foi escolhida para descrever esses escritos sagrados. Talvez porque algumas pessoas os considerassem sagrados demais para serem usados pelas pessoas comuns, ou profundos e difíceis demais para serem compreendidos pelos não iniciados. Por isso, eram mantidos longe e escondidos dos leigos. Por outro lado, talvez tenha sido porque alguns os considerassem indignos de serem lidos lado a lado com as “verdadeiras Escrituras Sagradas”, ou documentos perigosos cheios de ensinos falsos e destrutivos que precisavam ser mantidos escondidos e distantes das massas ignorantes que são facilmente enganadas.
Não importa qual tenha sido a verdadeira razão, a expressão “Apócrifos do AT” agora se refere aos escritos excluídos do cânon hebraico, mas que mesmo assim foram incluídos no cânon de alguns grupos cristãos, especialmente o dos católicos romanos. Esses escritos perfazem o total Dt
O que dissemos a respeito de Josué se aplica igualmente aos livros de Juízes, Samuel e Reis — os outros Profetas Anteriores. Seus autores não são identificados, e a data de sua autoria não é especificada. Se esses livros como os conhecemos hoje não foram escritos durante o período que descrevem (como alguns eruditos pressupõem), são baseados, mesmo assim, em documentos que facilmente poderiam ter sido escritos na mesma época dos eventos registrados neles — documentos como o Livro das Guerras do Senhor (Nu 21:14), o Livro de Jasar (Js
14.29). É um fato histórico, no entanto, que os “Profetas Anteriores” sobreviveram e se tornaram parte do cânon do AT, enquanto suas fontes caíram no esquecimento. Mas por que, visto especialmente ser possível que algumas dessas fontes escritas fossem claramente proféticas na sua origem — Os Registros
Históricos do Vidente Samuel, do Profeta Natã, do Vidente Gade, do Profeta Semaías, do Vidente Ido, de Jeú, filho de Hanani (lCr 29.29; 2Cr
O AT tampouco responde completamente a essas perguntas quando são feitas acerca dos Profetas Posteriores — Isaías, Jeremias, Ezequiel e os Doze. Em grande parte, a mensagem dos profetas foi transmitida de forma oral (o termo hebraico, massã, “levantar” i.e., a voz, encontrada tantas vezes em Isaías e traduzida por “oráculo”, implica uma palavra [de juízo] falada). Por isso ficamos pensando se o próprio profeta escreveu o livro que leva o seu nome, ou se o trabalho de colecionar e anotar seus oráculos foi deixado para os seus discípulos, i.e., os “filhos dos profetas” (conforme 2Rs
O que dizer dos outros livros do cânon — Rute, 1 e II Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações de Jeremias e Daniel? Precisamos repetir que o próprio AT não tem muito (ou nada) a dizer acerca de quem de fato escreveu esses livros, ou exatamente quando eles foram escritos e quando tomaram o seu lugar no cânon das Escrituras. Por isso somos compelidos a concordar com a afirmação de que, embora o AT “deva legitimamente ter o direito de definir e descrever a canonicidade, ele na verdade não tem quase nada a dizer acerca da maneira em que os escritos sagrados foram colecionados ou acerca das personagens que exerceram influência sobre o corpus de escritos durante os diversos estágios do seu crescimento” (Harrison, p. 262).
b) Fontes externas ao AT. Apesar do fato de que o AT tem pouco a dizer acerca do seu próprio desenvolvimento histórico, quando os 39 livros do cânon hebraico estavam finalmente completos, foram eles, e não suas fontes subjacentes, que as pessoas preferiram, aceitaram e usaram como Escrituras sagradas. Mas quando esses livros foram concluídos e considerados canônicos? Visto que o próprio AT não responde a essa pergunta, precisamos buscar a resposta em outro lugar. Apesar das muitas evidências externas ao AT, a pergunta nunca é respondida de forma totalmente satisfatória.
O nosso testemunho mais antigo da conclusão do cânon do AT é o Pentateuco Sa-maritano. De acordo com Ne
A Septuaginta (LXX), a primeira tradução do AT, é mais uma testemunha antiga da existência do cânon das Escrituras. Esse projeto de tradução foi realizado no Egito e planejado, de acordo com a lenda, por Ptolomeu Filadelfo (285—247 a.C.). A Epístola de Aristéias (c. 100 a.C.) narra essa lenda, contando como 72 tradutores versados em hebraico e grego foram levados por Ptolomeu para Alexandria e hospedados na ilha de Faros, onde, em consulta entre si, produziram uma tradução harmônica. Tradições posteriores (registradas, e.g., por Fílon, Ireneu e Clemente de Alexandria) embelezaram a lenda ao descrever como os tradutores foram isolados em 72 cômodos separados e produziram 72 traduções independentes, porém concordes umas com as outras, palavra por palavra! Se essa história fosse crível, não somente provaria que a LXX era inspirada, mas também que todo o AT era reconhecido como canônico já em 250 a.C. Mas não podemos dizer mais do que o fato que o projeto de tradução foi iniciado em alguma época durante o século III a.C. — e foi iniciado sem dúvida pelo Pentateuco. “A falta de unidade de plano nos livros que não fazem parte da Lei indica que provavelmente muitas mãos diferentes trabalharam em épocas diferentes nesses livros” (Robinson, p. 556). A LXX, portanto, que provavelmente levou praticamente um século para ser concluída (c. 250— 150 a.C.), nos conta pouco mais do que o fato de que o cânon mais antigo das Escrituras do AT foi o Pentateuco.
Jesus ben-Siraque (c. 180 a.C.) escreveu um livro em hebraico intitulado Eclesiástico. Nessa obra, a Lei está em alta estima no pensamento e na admiração desse autor (2.16;
19:20-24; 39.1). Mas, nos caps. 44—50, ele canta um “hino aos pais” e elogia os homens famosos do AT de Enoque a Neemias, indicando com isso que ele sabia da existência da maior parte, se não de todo o cânon do AT. Se ele considerava esse cânon “fechado” é outra questão. Pois em 24.33 (“ainda derramarei ensino como profecia e o deixarei para as gerações vindouras”) Jesus ben-Siraque parece indicar que se considerava uma pessoa inspirada capaz de escrever verdades normativas que deveriam ser acrescentadas ao cânon existente.
O neto de Jesus ben-Siraque traduziu Eclesiástico para o grego e acrescentou um prólogo de sua autoria. Esse prólogo (c. 130
a.C.) talvez seja a evidência mais antiga da canonicidade de todo o AT. Certamente é a evidência mais antiga do fato de que o cânon hebraico era dividido em três partes — Lei, Profetas e Escritos (hagiógrafos). As suas palavras são: “Embora muitas e grandes coisas nos tenham sido transmitidas pela Lei e pelos Profetas, e por outros [...] a Lei e os Profetas e os outros livros dos nossos pais [...] a Lei, os Profetas e o restante dos livros”. Com base nisso, está claro que os nomes que ele dá de forma coerente aos primeiros dois grupos são os termos técnicos padrão usados para denominar o Pentateuco e os Profetas Anteriores e Posteriores. Mas ele descreve o último grupo de forma tão geral que: a) ele poderia estar se referindo àquela coleção final e variada de escritos canônicos agora conhecidos como os hagiógrafos e, portanto, se toma testemunha de um cânon fechado de 39 livros, ou b) ele poderia estar indicando que essa última seção ainda não estava completa e que o cânon ainda permanecia aberto nos seus dias como nos dias do seu avô.
Os textos das cavernas de Cunrã são mais uma evidência antiga da formação do cânon do AT. Esses rolos do mar Morto pertenciam a uma seita que se separou do restante do judaísmo não mais tarde do que c. 130 a.C., e ocupou Kirbet Cunrã por aproximadamente 200 anos. Esses rolos contêm citações de quase todos os livros do AT. Pesquisas feitas nessas citações indicam que “não mais tarde que 130 a.C. a Lei e os Profetas (no sentido hebraico da palavra) e a maior parte dos Escritos (hagiógrafos) eram aceitos e considerados canônicos, havendo talvez algumas dúvidas acerca de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Ester e Eclesiástico” (Eybers, p. 36).
O Primeiro Livro de Macabeus (c. 130 a.C.) é importante porque destaca Daniel e os Salmos e aparentemente confirma o fato de que esses livros eram tratados como canônicos no século II a.C. Primeiro Macabeus
1.54 conta como Antíoco Epifânio erigiu o “sacrilégio terrível” em Jerusalém (Ez
27); IMacabeus 2.59,60 descreve a libertação dos três jovens hebreus da fornalha ardente e o livramento de Daniel na cova dos leões (Ez
7.16,17 cita claramente de Salmos (Sl
O Segundo Livro de Macabeus (c. 124 a.C.) menciona duas cartas supostamente enviadas em 144 a.C. por judeus da Palestina a seus irmãos no Egito. Uma dessas cartas, após algumas histórias apócrifas acerca de Jeremias e Neemias, continua dizendo: “As mesmas coisas foram também relatadas nos arquivos públicos e nos registros relacionados a Neemias, e como, fundando uma biblioteca, ele reuniu as coisas concernentes aos reis e profetas, e os [escritos] de Davi, e cartas de reis acerca de dádivas sagradas. E de forma semelhante Judas também reuniu para nós todos aqueles escritos que tinham sido espalhados [...] em virtude da guerra que tivemos; e eles permanecem conosco” (2:13-15).
A importância dessas cartas está no fato de que, embora elas mesmas possam ser ilegítimas, contêm o que parece ser uma recordação verdadeira de um estágio antigo da formação do cânon do AT. A observação “as coisas concernentes aos reis e profetas” sem dúvida se refere aos Profetas Anteriores e Posteriores; “os [escritos] de Davi” é uma expressão que lembra o livro de Salmos ou parte dele; e as palavras “cartas de reis acerca de dádivas sagradas” lembra os editos dos reis persas publicados a favor da reconstrução do templo, como encontramos em Esdras —Neemias. Essas observações indicam que os livros da segunda divisão do cânon do AT (os Profetas) e alguns da terceira (os hagiógrafos) foram reunidos por Neemias para formar parte de uma coleção maior ou uma biblioteca fundada por ele. Observe, no entanto, que elas associam o nome de Neemias (século V a.C.) com a preservação do cânon, e não com a composição ou a edição final dele. E impossível deduzir dessas afirmações que Neemias teve algo que ver com a canonização, mesmo que só de uma parte do AT — trata-se somente do reconhecimento de que esses livros mencionados eram normativos, marcados com a autoridade divina e dignos de serem adicionados aos que ele já possuía.
Fílon (morreu c. 50 d.C.) também dá testemunho a favor da divisão tripartite do cânon do AT. Ele escreve acerca de “leis, e as palavras anunciadas pelos profetas, e hinos e outros escritos” (De vita contemplativa, 25). Mas para ele a Lei, e somente a Lei, era o supercânon.
Ele nunca faz exegese, no verdadeiro sentido da palavra, de uma passagem que não seja do Pentateuco. Simplesmente alude a textos de outras partes do AT no decurso de suas exposições de passagens da Torá (Von Campenhausen, p. 14). A sua maneira de citar, no entanto, é instrutiva. Mesmo que tenha sustentado que a inspiração não estava confinada às Escrituras do AT (Green, p. 130), nunca citava de fontes outras que as Escrituras canônicas do AT — nem mesmo dos apócrifos. O cânon que ele usava, portanto, era essencialmente o cânon do AT hebraico. Será que a ação desmente a verdadeira convicção de uma pessoa?
O NT talvez seja a melhor evidência antiga (50—100 d.C.) do cânon “estabelecido” das Escrituras do AT. Embora venhamos a dizer mais acerca da relação entre o AT e o NT mais tarde, observe de passagem que os autores do NT referem-se ao AT como “a Escritura” (Jo
15.25; 1Co
c. 100 d.C. Nesse tratado há uma seção (1.8) de interesse especial para a nossa discussão acerca da história do cânon e sobre a teoria da inspiração e da canonicidade. Aqui está o que ele escreveu: “Pois não temos um grande número de livros discordantes e conflitantes entre si. Temos somente 22, contendo o registro de todo o tempo, livros que são me-recidamente considerados divinos. Desses livros, cinco são os livros de Moisés, que abarcam as leis e as tradições mais antigas desde a criação da humanidade até o tempo da sua própria morte [...]. Da morte de Moisés até o reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, o sucessor de Xerxes, os profetas que seguiram a Moisés escreveram a história dos eventos que ocorreram no seu tempo em 13 livros. Os quatro documentos restantes incluem hinos a Deus e preceitos práticos para os homens. De Artaxerxes até os nossos dias, tudo foi registrado detalhadamente. Mas esses registros recentes não foram considerados dignos do mesmo crédito que foi dado aos que os precederam, visto que a exata sucessão de profetas cessou. Mas a fé que depositamos nos nossos próprios escritos está evidente na nossa conduta; pois mesmo que um tempo tão longo tenha passado até agora, ninguém ousou acrescentar, remover ou alterar uma sílaba deles. Mas é natural para todos os judeus desde o seu nascimento considerá-los mandamentos de Deus”.
Há várias coisas a serem destacadas nessas declarações de Josefo: a) Para ele, o cânon, cuja forma verbal era inviolável, estava fechado e de fato tinha sido fechado já na época de Artaxerxes (465—425 a.G.) — essencialmente a época de Malaquias. “O número de livros ‘confiáveis’ que não permitem alteração e são o código sobre o qual está fundamentada a vida dos judeus [...] é definitivo [...] e é traçada uma linha muito clara entre eles e os inúmeros registros do período após Artaxerxes nos quais não se pode confiar completamente” (Katz, p. 76). b) Esse cânon fechado era um cânon Dt
Para muitos estudiosos, os concílios realizados em c. 90 d.C. em Jâmnia (Jabneh), um lugar não muito ao sul de Jope no mar Mediterrâneo, foram decisivos para a canonização dos 39 livros do AT (v. Bentzen, p. 22-29; Von Campenhausen, p. 5). Mas sabemos muito pouco a respeito desses concílios. O que sabemos é que, depois da destruição de Jerusalém, o rabino Johanan ben Zakkai pediu permissão aos romanos para estabelecer sua escola em Jâmnia. Aí ocorreram então debates rabínicos acerca de se as Escrituras “contaminam as mãos”, e de tempos em tempos havia discussões acerca da canonicidade de alguns livros — Ezequiel, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Provérbios, Ester. Mas “as fontes [...] não têm registro de nenhum debate canônico oficial em Jabneh durante a liderança de Johanan”. Com base nisso, “poderia parecer que as afirmações feitas com freqüên-cia de que uma decisão definitiva foi tomada em Jabneh cobrindo todas as Escrituras é conjectural, na melhor das hipóteses [...]. A erudição mais sóbria admite ignorância e dá espaço para que as questões permaneçam tão vagas quanto as fontes” (Lewis, p. 126, 132). Mas do pouco que podemos saber, as discussões em Jâmnia parecem ter girado mais em torno de quais livros deveriam ser excluídos do cânon do que de quais livros deveriam ser incluídos. Há indicações de que o cânon já estava relativamente bem definido antes dos encontros da “academia”, da “corte” ou da “escola” em Jâmnia. No entanto, questões acerca da canonicidade de Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Ester, Ezequiel e Jonas continuaram a ser levantadas pelos líderes judeus ainda no século II e até mais tarde.
Nossa evidência final da formação do cânon vem do Talmude, uma obra judaica que consiste na Mishná (concluída em c. 200 d.C.) e na Guemará, um comentário colossal da Mishná (concluído em c. 500 d.C.). No tratado do Talmude Babilónico chamado Baba Bathra (14b-15a), há um extrato, uma famosa glosa não autorizada (uma baraitha), contemporânea da Mishná (embora não esteja incluída nela) que, entre outras coisas, lista os livros do AT de forma muito semelhante à ordem encontrada na Bíblia hebraica. Além do Livro de Moisés, a ordem dos profetas é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Jeremias, Ezequiel 1saías [observe a ordem incomum de Jeremias, Ezequiel e Isaías], os Doze. A ordem dos Kethübim [Escritos, hagiógrafos] é Rute, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações de Jeremias, Daniel, o rolo de Ester, Esdras e Crônicas.
Essa baraitha nos conta também quem escreveu os livros do AT. Embora esse tratado seja considerado “destituído de valor histórico, tardio na época de composição e desacreditado pelo seu próprio conteúdo” (Driver, p. vi), pode, no entanto, refletir corretamente uma convicção mantida por muitos judeus na sua época e provavelmente durante séculos anteriores a eles. Sem dúvida, ele influenciou o pensamento de autores posteriores acerca da autoria dos livros e destaca o critério de canonicidade já expresso por Josefo: somente os livros que podem legitimamente reivindicar origem profética têm o direito de ser incluídos no cânon. “Quem escreveu os livros?”, pergunta essa baraitha. “Moisés escreveu o seu livro, a seção a respeito de Balaão e Jó; Josué escreveu o seu livro e os últimos oito versículos da Torá; Samuel escreveu os seus livros, Juízes e Rute. Davi escreveu os Salmos sob a orientação dos Dez Anciãos [...]. Jeremias escreveu o seu livro, o livro dos Reis e Lamentações; o rei Ezequias e o seu conselho escreveram o livro de Isaías, Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Os homens da Grande Sinagoga escreveram Ezequiel, os Doze Profetas, Daniel e Ester. Esdras escreveu o seu próprio livro e a genealogia de Crônicas até o seu próprio período. Neemias a concluiu” (v. Ryle, Excurso B, para ler o texto completo. “Os livros separados do Pentateuco não são mencionados, como também não o são quatro dos Profetas Menores; mas aqueles estão, obviamente, incluídos na ‘Torá’, e estes, nos ‘Doze’.”).
Portanto, esse tratado contém tradições interessantes, estranhas e às vezes incríveis acerca da autoria dos livros do AT. Ele é mais uma evidência da divisão em três partes do AT, e parece, junto com 2Esdras, ter fornecido o material em que o erudito judeu Elias Levita (1
549) baseou-se para elaborar sua teoria questionável de que todos os livros e documentos pertencentes ao AT, antes transmitidos separadamente, foram reunidos por Esdras e seus companheiros (i.e., os homens da “Grande Sinagoga”), ordenados nas três partes conhecidas do AT e fechados para excluir permanentemente outros escritos desse cânon. Mas na verdade ele não fornece nenhuma evidência sólida sobre a qual possamos construir uma história confiável da formação do cânon.
2) Resumo e conclusão
Depois dessa longa investigação das evidências e testemunhas a favor do cânon do AT, ainda sabemos muito pouco acerca do cânon
— como se formou, acerca do processo de canonização: a redação, o processo de coleta dos livros, o preparo do texto, a avaliação, a seleção etc. — quando, onde, por que e em que circunstâncias esses livros do AT passaram a existir. Descobrimos que o AT não dá uma autobiografia completa da sua existência desde os documentos escritos até o seu cânon completo. A Bíblia samaritana nos conta somente que o Pentateuco era considerado Escritura sagrada e normativa em 432 a.C.
— outros livros do AT além do Pentateuco talvez até tenham existido muito antes disso, mas a atitude dos samaritanos não nos diz nada a respeito dessa parte da história. A LXX indica que todos os livros da Bíblia hebraica estavam na sua forma completa e foram considerados dignos de tradução no mais tardar em 150 a.C. Jesus ben-Siraque sabia a respeito do cânon em 180 a.C., mas aparentemente não o considerava algo definitivo ou fechado. Seu neto foi o primeiro a mencionar uma divisão do AT em três partes, e foi apoiado nisso por Fílon (c. 50 d.C.), Josefo (c. 100 d.C.) e as tradições judaicas posteriores que encontramos no Talmude. O Primeiro Livro de Macabeus (c. 130 a.C.) testemunha a favor da cano-nicidade de Daniel e dos Salmos. Josefo e 2Esdras são os primeiros a mencionar o número total de livros no cânon, embora não concordem acerca desse número (24 ou 22). O Segundo Livro de Macabeus (c. 124 a.C.), 2Esdras (c. 100 d.C.) e o tratado do Talmude Baba Bathra (c. 200 d.C.) fazem a ligação de Esdras (e Neemias) de alguma forma literária com o cânon — um fato que indica que havia uma convicção antiga de que Esdras teve papel importante na formação do cânon. Qual foi esse papel, contudo, não está claro. As evidências disponíveis, portanto, não dão uma história real da formação do cânon.
A erudição crítica moderna tem tentado preencher as lacunas (v. Harrison, p. 279-83, para ler os resumos). Algumas dessas tentativas, embora esclarecedoras, são inadequadas pelo menos por não darem espaço à revelação direta de Deus. Consideram o cânon um produto meramente humano, desde a concepção até a conclusão, desde a redação do texto até a intervenção dos concílios que o declararam normativo para a sinagoga ou a igreja. Outras tentativas fracassam porque não dão espaço suficiente ao elemento humano no processo de produção do cânon. À luz disso, o que segue é uma história um tanto imaginativa do AT fundamentada nos textos bíblicos e nas tradições citadas anteriormente. Tenta combinar o aspecto divino com o aspecto humano da Escritura Sagrada.
As tradições antigas, que datam do início dos tempos concernentes à criação do mundo, à origem da vida, às atividades dos patriarcas antes do Dilúvio etc., foram provavelmente transmitidas com santo cuidado de boca em boca e de geração em geração, ao longo de centenas de anos, em circunstâncias e contextos geográficos muito diversos. Essas tradições eram um tipo de cânon, pois as pessoas que as passavam adiante — talvez sacerdotes — devem ter crido que elas tinham origem na direta revelação de Deus. Por conseguinte, esses “sacerdotes” provavelmente insistiam que todos os mínimos detalhes fossem memorizados e repetidos com grande cuidado.
A certa altura, essas muitas tradições orais, essas histórias sagradas, que circúlavam em diferentes lugares do mundo antigo, assumiram forma escrita. Ninguém pode dizer com certeza quando isso aconteceu ou quem foi responsável por fazê-lo. Pode ter acontecido um milênio antes dos dias de Moisés. “A escrita era conhecida e usada no Antigo Oriente Médio muito antes de os hebreus tomarem posse da Palestina [...] de forma que afirmações anteriores de que a escrita não era conhecida na Palestina na época dos patriarcas são infundadas” (Bainton, IDB, 4.909). Descobertas arqueológicas recentes feitas por dois estudiosos italianos, Paolo Matthiae e Giovanni Pettinato, de aproximadamente 20 mil tabuinhas de Ebla (perto de Aleppo, na Síria), escritas num dialeto semítico ocidental e datando de c. 2400—2300 a.C., simplesmente confirmam esse fato (v. Orientalia, 44, 3 [1975], 337-74).
Não importa onde ou por quem essas tradições foram escritas, sem dúvida elas também foram consideradas “canônicas”, pelo menos no sentido de que eram tratadas como escritos divinamente inspirados, relatos autorizados dos atos de Deus na história, e registros normativos da origem humana e das raízes da civilização dos hebreus.
Em algum ponto do tempo, essas tradições, ou epopéias históricas, foram reunidas em torno de um tema comum — o relacionamento de aliança entre Deus e o ser humano, encontrando o seu ponto central na Lei de Deus, na Torá. Há razões para acreditar que Moisés, do ponto de vista humano, foi o gênio que esteve por trás desse esforço integrativo, mesmo que não tenha dado ao Pentateuco sua forma final: a) ele pode ter aprendido as histórias das antigas tradições das origens e dos patriarcas com sua família, pois o início de sua educacão ocorreu em casa (Ex
Deus escolheu mediar a lei da sua aliança ao seu povo; o seu nome está há muito tempo associado aos primeiros cinco livros do AT;
d) a Lei em geral e o livro de Deuteronômio em particular datam de um período antigo na história dos hebreus — um período certamente tão an-tigo quanto o de Moisés. A fórmula de “maldição”, por exemplo, invocada sobre a cabeça de qualquer pessoa que ousasse acrescentar ou subtrair algo de um código normativo escrito e divinamente mediado (Dt
Por isso, “visto que não há uma única passagem em todo o Pentateuco que pode ser seriamente considerada ter sofrido influência pós-exílica [ou tardia] nem em forma nem em conteúdo” (Albright, From Stone Age to Christianity, p. 345), não é arrogância nem ingenuidade concordar com o ponto de vista tradicional segundo o qual o próprio Moisés produziu e reuniu muito do que hoje conhecemos como o Pentateuco.
Não importa quanto Moisés escreveu durante a sua vida, isso imediatamente se tornou “cânon” — reconhecido pelo povo de Israel como texto investido de autoridade divina: em virtude de seu valor intrínseco e do valor de Moisés. Ele era o seu grande estadista, um homem por meio de quem Deus se revelava e transmitia suas leis. Em um sentido, os escritos de Moisés tornaram-se a expressão normativa da vontade de Deus para Israel para todos os tempos, o “cânon supremo” em comparação com o qual todos os outros livros do AT tinham de ser medidos. Pensa-se que esses outros livros nunca alcançaram o mesmo status da Lei, mesmo que fossem inspirados, produto do trabalho de profetas de reconhecida autoridade. De alguma forma, o termo qabbala, “tradição”, foi associado a eles porque acreditava-se que eles não acrescentavam coisa alguma à lei, mas somente a interpretavam para os seus dias (Bentzen, p. 33). De qualquer maneira, na divisão do cânon em três partes, a Lei (um termo de tamanha importância que era aplicado a todo o Pentateuco) sempre recebe o primeiro lugar.
A interpretação, porém, da história como atos de Deus não cessou com Moisés. Sem dúvida, parte dessa história contínua foi preservada em cânticos e recitações e circulava oralmente. Mas não há razão para supor que todos os eventos importantes foram preservados dessa forma até épocas muito posteriores. A escrita já existia em tempos bem antigos, e é possível que muitos eventos primitivos tenham sido imediatamente registrados dessa forma mais permanente. No começo, esses eventos registrados talvez tenham existido como histórias isoladas e circulado separadamente sem nenhuma estrutura que as ligasse umas às outras. Gradualmente foram reunidas em algum tipo de coleção. Livros começaram a aparecer, como o Livro de Jasar, o livro dos Registros Históricos dos Reis de Israel e de Judá, os Registros Históricos dos 5identes etc. Esses livros e registros foram os precursores e estavam entre as fontes dos livros históricos do AT. Mas quando e por quem esses livros foram compostos? Não se pode dar nenhuma resposta segura a essa pergunta. No entanto, à luz do testemunho que o AT dá de si mesmo e das tradições descritas acima, é bem possível que tenham surgido, e recebido praticamente a mesma forma que possuem hoje, entre os séculos 8 e VI a.C., sob a iniciativa e supervisão dos profetas, talvez 1saías e Jeremias, para citar apenas dois — videntes de Deus, homens de sabedoria e percepção divinas. Por essa razão, as muitas histórias que surgiram ao longo dos séculos e formavam um enorme conjunto de informações amorfas foram então processadas por homens inspirados, que selecionaram dessas fontes coisas que estavam em harmonia com a lei da aliança e registraram o relacionamento contínuo entre Deus e o seu povo. Eles escreveram história interpretada, e não é de surpreender então que Josué, Juízes, Samuel e Reis sejam chamados “Profetas Anteriores” e tenham sido prontamente reconhecidos como portadores de autoridade divina.
Enquanto supervisionavam a escrita dos Profetas Anteriores, se é que não faziam eles mesmos o trabalho, os profetas estavam anunciando as advertências de Deus contra Israel e chamando o povo ao arrependimento. Os seus muitos oráculos eram orais em grande parte e foram transmitidos em diferentes épocas a diferentes audiências. Mas foram lembrados e registrados. Os “filhos dos profetas” (2Rs
Que papel Esdras teve na formação do cânon do AT? Uma tradição muito antiga o associa de forma literária com o cânon (2Ed
14.21 ss; Baba Bathra 14b). Essas tradições, embora evidentemente lendárias, muitas vezes têm alguma base em fatos históricos. Será possível que Esdras, sacerdote e escriba versado na Lei (Ed
8,9) tenham feito a edição final do Pentateuco e a coleção e edição finais dos Profetas Anteriores e Posteriores? Isso não significa dizer que ele ou a “Grande Sinagoga” de alguma forma canonizaram esses livros. Pois está evidente nos textos bíblicos que a Lei era algo muito antigo, muito mais antigo do que Esdras, algo que possuía autoridade firmada havia muito tempo no pensamento do povo de Israel. Isso significa simplesmente reconhecer que alguém ou um grupo sob a orientação de
Deus tinha de reunir esses livros e uni-los em torno de um tema comum — o mesmo tema que dera coesão aos textos do Pentateuco: a aliança de Deus com o seu povo. E óbvio que as diversas histórias, leis, oráculos etc. encontrados no AT e escritos ao longo de um período de muitos anos não se juntaram por iniciativa própria nem por acaso. Um escriba devoto e letrado como Esdras, junto com os seus eruditos companheiros (incluindo Neemias; conforme 2Macabeus 2:13-15), certamente era capaz de realizar essa tarefa tão desafiadora, de tão grande importância histórica e teológica. E se seu trabalho foi além de coletar e editar o material, certamente se limitou estritamente a “aprovar como canônicas as obras que havia muito tempo eram veneradas como normativas e marcadas pela autoridade divina” — de forma alguma conferiu-lhes status normativo (Harrison, p. 283).
De qualquer maneira, os Profetas Anteriores e Posteriores juntos constituem a segunda parte do cânon. De alguma forma, por direção divina, esses foram selecionados de um corpo mais amplo de literatura hebraica, foram reconhecidos pelo povo de Deus como escritura normativa e foram universalmente usados como tal — talvez desde o tempo de Esdras e Neemias, se não antes. Nas tradições acerca do cânon, esses livros — os Profetas — são considerados distintos da Lei, por um lado, e dos hagiógrafos, por outro.
Os hagiógrafos (Kethübim, “Escritos”) constituem a terceira e última parte do cânon hebraico. Que o AT foi dividido em três partes, não é algo questionado por muitas pessoas. Mas por que foi assim dividido e quais livros estavam em cada parte, é questão de muitos debates.
Talvez, por um lado, as três seções reflitam os estágios no desenvolvimento do cânon, sendo os hagiógrafos o último e mais recente estágio na seqüência cronológica. Por outro lado, talvez a divisão tripartite indique que as duas primeiras partes foram escritas por homens pertencentes à ordem profética, enquanto a última, embora por pessoas inspiradas, foi escrita por homens que eram reis (Davi, Salomão), oficiais do governo (Daniel), governadores (Neemias) etc., e não por profetas no sentido técnico. Não se deveria incluir aqui então a questão do tempo, e seria possível que muitos dos hagiógrafos tivessem sido escritos antes dos documentos mais antigos dos profetas escritores. Não há concordância entre os estudiosos do AT acerca dessa questão. Se eu tiver de escolher entre as duas alternativas apresentadas aqui, escolho a segunda, porque é uma alternativa razoável e não implica que os livros dessa divisão tenham de ter necessariamente uma data de composição muito recente — i.e., uma data posterior à época de Esdras.
Quais livros estão incluídos nessa terceira divisão? Também não há resposta segura para essa pergunta. Uma tradição judaica razoavelmente uniforme (talmúdica, massoré-tica e as edições impressas da Bíblia hebraica) situa nela, em diversas ordens, Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias, Ester, Daniel, Esdras—Neemias e Crônicas. As palavras de Jesus “desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias” (Mt
Por isso, é impossível falar com qualquer grau de certeza sobre essa terceira parte, acerca de que livros faziam parte dela, se um, quatro ou 11 (Rt, Sl, Pv, Jó, Ct, Ec, Lm, Et, Dn, Ed—Ne e Cr), sobre a época em que os livros dessa parte receberam sua forma final, quem foi o instrumento humano que os escreveu ou reuniu, ou qual foi o motivo de sua preservação. Talvez, novamente, Esdras tenha sido a pessoa-chave, não somente em coletar e editar os livros, mas também em compor alguns deles. E importante lembrar que por muitos séculos prevaleceu o ponto de vista de que o cânon do AT foi concluído durante a vida de Esdras, um ponto de vista que tem alguma base bíblica (Ed
38) e nenhum autor do NT introduz suas referências a fontes literárias que não estão na Bíblia hebraica com fórmulas que indiquem que ele as considerasse Escritura inspirada. Fórmulas como “Está escrito” ou “A Escritura diz” são usadas somente para prefaciar citações dos 39 livros do cânon hebraico.
Assim, embora os livros apócrifos já existissem no século I d.C., e provavelmente constituíssem uma parte do cânon da LXX, e sem dúvida fossem conhecidos e usados por alguns autores do NT (cp. 1Co
7:25-27; He 11:35 com 2Macabeus 6.18—7.42 etc; v. Sundberg, Old Testament of the Early Church, p. 54-5), mesmo assim não há evidências claras de que o NT atribuiu a esses escritos a mesma autoridade que conferiu aos escritos do cânon hebraico. Aliás, as evidências apontam no sentido contrário. Parecem indicar que Jesus e os autores do NT, mesmo conscientes da existência dos apócrifos, intencionalmente decidiram não reconhecer nem usar os apócrifos como Escritura sagrada. Pode não ser possível definir com precisão o conceito de cânon defendido pelos escribas e fariseus, os mestres da lei, nos dias de Jesus, nem determinar em detalhes o conteúdo do cânon deles. Mas parece possível dizer que as Escrituras usadas pelos autores do NT para explicar a pessoa e a missão de Jesus eram principalmente as Escrituras encontradas no cânon hebraico. Nesse sentido podemos dizer que para os autores do NT o cânon estava fechado — fechado mais por consentimento comum do que por decreto formal.
A IGREJA E O CÂNON DO AT
Se o NT citava somente dos escritos do cânon hebraico enquanto simplesmente aludia ocasionalmente aos apócrifos e sem fórmulas que denotassem inspiração, a situação é totalmente diferente no caso dos pais da Igreja. Clemente de Roma (95 d.C.), por exemplo, cita das três seções do cânon hebraico — da Lei, dos Profetas e dos Hagiógrafos — usando fórmulas que indicam que esses escritos estão revestidos de autoridade divina. Mas ele vai além e cita também dos escritos não-canônicos, tanto dos apócrifos quanto dos pseudepígrafos, “de uma forma não diferente do seu uso dos escritos canônicos” (Hagner, p. 111; v. p. 86-93). E interessante observar que Clemente não introduz nenhum dos escritos apócrifos com a sua fórmula especial de introdução. Mas isso não tem muita importância, visto que ele emprega essas fórmulas com outros escritos não-canônicos (Hagner, p. 29-30). Policarpo, Barnabé, Ire-neu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cipriano, Orígenes — tanto pais gregos quanto latinos — citam as duas classes de livros, os do cânon hebraico e os do cânon dos apócrifos, sem fazer distinção. Agostinho (354— 430 d.C.) na sua Cidade de Deus (18.42,43) defende a inspiração divina igual e idêntica tanto do cânon judaico quanto do cânon cristão: “Se alguma coisa está nas cópias hebraicas e não nas versões da LXX, o Espírito de Deus escolheu não dizer isso por meio destas mas somente por meio dos profetas. Mas tudo que está na LXX e não está nas cópias hebraicas, o mesmo Espírito escolheu dizer isso por meio destas e não daquela, assim mostrando que os dois cânones eram meros profetas”. Agostinho, embora admitindo a diferença entre o cânon hebraico e os “livros de fora”, considerou aquele apropriado para a época em que foi formado, e a LXX apropriada para a igreja.
Essa aceitação de todos os livros da LXX como canônicos persistiu em geral em toda a igreja até o século IV com uma provável exceção. Melito de Sardes (morreu c. 190 d.C.) foi da Ásia Menor para a Palestina e trouxe do Oriente uma lista oficial das Escrituras hebraicas. Ela continha 22 livros essencialmente idênticos ao cânon hebraico, um cânon que excluía os apócrifos.
Com poucas exceções, os autores ocidentais continuaram, mesmo depois do século IV, a considerar canônicos os livros extras da
LXX, em pé de igualdade com os livros do AT hebraico. Três concílios no norte da África (Hipona, 393 d.C. e Cartago, 397 d.C. e 419 d.C.) incluíram nas suas definições do AT tanto os livros protocanônicos quando os deuterocanônicos, sem nenhuma distinção.
No Oriente, a opinião era diferente. Autores como Orígenes, Cirilo de Jerusalém e Atanásio, que tinham entrado em contato com o conceito hebraico de cânon, reconheceram a distinção entre os dois grupos de escritos. Jerônimo (morreu em 420 d.C.), um pai latino, em virtude de seus estudos do hebraico, declarou apócrifos todos os escritos que não estavam na Bíblia hebraica. [Observação: Apesar das suas teorias acerca do cânon, mesmo assim ele incluiu os apócrifos, de acordo com a prática da igreja, na sua tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata], Consequentemente, na opinião de alguns estudiosos do cânon, “a principal razão da perda de autoridade sofrida [pelos apócrifos] foi que, quando o cânon judaico se tornou conhecido na igreja, entendeu-se a priori que o cânon judaico era determinante para o AT da igreja” (Sundberg, CBQ, p. 152). “Assim, na igreja primitiva, o grau de estima de que desfrutava o cânon hebraico determinou a atitude adotada em relação aos apócrifos” (Harrison, ZPEB, 1.205).
Com a descoberta dos textos hebraicos e a sua tradução e com o advento da Reforma e do seu tema central, sola Scriptura, toda a questão do que realmente constituía as Escrituras Sagradas foi levantada novamente. Líderes protestantes ignoraram a aceitação tradicional de todos os livros da LXX e negaram a condição de inspiração aos livros da Vulgata que não estavam no cânon hebraico. Lutero negou autoridade canônica aos apócrifos, embora ele os tenha incluído (exceto 1 e 2Esdras) como apêndice na sua tradução da Bíblia (em 1534). Ele os chamou “úteis e bons para a leitura”. Calvino e seus seguidores abdicaram completamente da idéia de canonicidade em relação aos apócrifos e os excluíram da Bíblia, visto que os judeus que tinham recebido os oráculos de Deus (Rm
546) declarou que todos os livros apócrifos, com exceção Dt
Essa Escritura Sagrada, no entanto, foi escrita por seres humanos em linguagem humana, em momentos específicos do tempo e em locais geográficos específicos, com todas as limitações que a humanidade, a língua, o espaço e o tempo, as sociedades e suas culturas lhe impõem. A Bíblia é vista, então, como o resultado de um esforço conjunto da parte de Deus e do homem no tempo e no espaço — um produto iniciado por Deus e sob seu controle, para que cada parte e forma dela possa ser classificada como “inspirada [soprada] por Deus” (theopneustos, 2Tm 3:16; conforme 2Pe
Deus impele o homem pelo seu Espírito Santo, Deus age por meio da personalidade humana mas não a violenta, Deus inicia mas também coopera com homens santos, e assim dá ao mundo um conjunto de obras literárias que se tornaram Escritura normativa. A inspiração precedeu a canonização. A inspiração, portanto, é o fator determinante máximo na decisão da extensão do cânon do AT.
No entanto, se a doutrina da inspiração inclui tanto o fator divino quanto o humano, o mesmo se aplica à idéia da canonização. O Espírito de Deus que trabalhou por intermédio de homens na composição da Escritura Sagrada também agiu no coração e na mente daqueles que a leram e aceitaram. Se o cânon do AT é o resultado da atividade providencial de um Deus que está se revelando, num sentido muito real ele é também o produto da ação decisiva de seres humanos pensantes e que tomam suas decisões.
Visto que a idéia de cânon inclui a escolha humana, que fatores contribuíram para essas escolhas? Em que base certos livros foram reconhecidos como canônicos e outros não? Vários critérios são sugeridos.
1) Somente livros escritos em hebraico podem ser reconhecidos como revestidos de autoridade. Este critério, no entanto, não explica o fato de que livros como Eclesiástico,
Tobias e IMacabeus — escritos em hebraico — foram excluídos do cânon hebraico, enquanto Daniel, que contém partes escritas em aramaico, foi incluído.
2) Somente livros cujo conteúdo estejam em harmonia com a Lei podem ser considerados canônicos. E verdade que desde a sua origem o Pentateuco foi considerado normativo, porque foi reconhecido como a revelação de Deus a Moisés. Por isso, é impensável que pudesse ser acrescentado ao cânon qualquer livro que fosse contrário a seu tema básico: a aliança de Deus com o seu povo. E não há dúvida de que esse “prumo” foi usado para julgar todos os escritos posteriores. Mas certamente esse não poder ser o único critério para decidir a canonicidade. Há livros entre os chamados apócrifos que estão em harmonia com o Pentateuco mas que foram excluídos do cânon hebraico.
3) Somente livros que foram escritos antes do tempo de Malaquias, a época em que a voz do Espírito cessou de falar ou de ser ouvida, podem ser considerados canônicos. Esse era o ponto de vista de Josefo (Contra Apionem, 1.8). Mas não explica o fato de que muitos livros escritos antes dessa linha divisória no tempo — O Livro das Guerras do Senhor (Nu 21:14), o Livro de Jasar (Js
4) Somente livros escritos por profetas podem ser considerados canônicos — “pro-feticidade é o princípio da canonicidade” (Geisler, p. 43ss). Este também foi um princípio primeiramente formulado por Josefo. Somente os livros que podem legitimamente reivindicar origem profética têm direito à canonicidade (Contra Apionem, 1.8). Escritos normativos eram escritos inspirados. E, para Josefo, que talvez tenha simplesmente expressado as idéias da sua época, o período da atividade profética era limitado. Para ele, a sucessão ininterrupta dos profetas estendia-se somente de Moisés a Artaxerxes — o fato supremo que conferiu a seus 22 livros do AT (os nossos
39) seu valor normativo. Sem dúvida, esse critério teve um papel importante no processo de seleção. Por um lado, explica a ausência dos apócrifos na lista hebraica dos livros do AT (eles foram escritos depois de cessar a voz da profecia). Mas não explica o fato de que livros claramente escritos por profetas e videntes — Os Registros Históricos do Profeta Natã, do Vidente Gade (lCr 29.29; 2Cr
5) Somente os livros que demonstraram o seu valor por meio do uso religioso, que adquiriram importância com base na sua relação próxima com a adoração de Israel, podem ser considerados canônicos. Este critério é bom, mas inadequado. Não explica o fato de que, embora Eclesiástico e IMacabeus tivessem indubitável valor religioso para Judá, esses dois livros não conquistaram o seu lugar na lista dos livros do AT (Harrison, p. 284).
6) Somente os livros de que Jesus deu testemunho podem ser considerados canônicos. “Sem dúvida, nosso Senhor deu crédito a todos os livros do AT e, assim, deu crédito ao AT inteiro como palavra de Deus. Visto que ele é o Filho eterno de Deus, a sua palavra é final [...] [Ele] colocou o imprimatur da sua autoridade infalível nas Escrituras do AT pelo fato de que as considerou divinas” (Young, p. 156-7). As dificuldades com esse tipo de argumentação são várias: a) A atitude de Jesus em relação ao AT não teria influência alguma sobre os judeus na determinação da extensão do cânon deles, b) As declarações de Jesus acerca da Lei, ou da Lei e os Profetas, as suas referências ao profeta Daniel e ao fato de que “a Escritura não pode ser anulada” (Jo
7) Somente podem ser considerados canônicos os livros que estão livres de contradições, incorreções, incoerências, práticas peculiares etc. Com base nesse critério, muitos dos apócrifos seriam certamente eliminados. Alguns livros apócrifos apresentam muitos erros geográficos, cronológicos e históricos (Green, p. 195). Outros defendem idéias novas como o purgatório, a oração pelos mortos,- a remissão dos pecados depois da morte etc. Mas se esse critério foi (ou for) usado contra os apócrifos, também poderia ter sido usado (e foi) contra a própria Bíblia hebraica. Se as questões de canonicidade tivessem sido fundamentadas somente em padrões como este, “é impossível ver como os judeus poderiam em algum momento ter aceitado os livros do AT como investidos de autoridade divina [...] visto que a maioria das composições do AT eram profundamente críticas acerca dos antigos hebreus de alguma ou de outra maneira” (Harrison, p. 284). E um critério como este teria tomado a aceitação do AT como normativo ainda mais difícil para os cristãos. A história da igreja registra que muitos dos primeiros pais da Igreja viam o que consideravam práticas estranhas, cruéis e peculiares no AT como coisas indignas da sua concepção de Deus, coisas que se viam obrigados a rejeitar, alegorizar ou explicar por meio da tipologia.
Se todos esses critérios são inadequados, em que base então alguns escritos foram selecionados como sagrados e normativos, e outros foram rejeitados? Não podemos pretender aqui dar a resposta. Pode ser uma combinação de vários ou de todos os critérios mencionados. Mas o critério supremo é o valor intrínseco que os próprios escritos têm, atestado por aquilo que os reformadores chamavam de “testemunho interno do Espírito Santo”. A sua autoridade inerente, o seu valor espiritual sujeitava o leitor/ouvinte ao julgamento de Deus, forçava-o a reconhecer que esses livros eram mais do que humanos em sua origem e o conduziam finalmente a adotá-los como o seu padrão de fé e prática. Independentemente do papel que os concílios e sínodos tiveram na história do cânon do AT, eles nunca poderiam produzir essa autoridade. Eles só podiam reconhecê-la e se submeter a ela. O cânon não depende da igreja ou de concílios, mas em primeiro lugar do Espírito Santo no coração de escritores e leitores. Existe algo nos próprios escritos que demanda a aceitação e o uso universal, e algo dentro do povo de Deus que o conduz a dizer sim a essa demanda. Sendo esse o caso, talvez tenhamos razões suficientes para não considerar os apócrifos canônicos — material valioso para a compreensão de panos de fundo históricos e para edificação moral, sim, mas não Escritura normativa. Parece que os apócrifos nunca tiveram peso próprio suficiente para serem universalmente aceitos por judeus e cristãos.
BIBLIOGRAFIA
Albright, W. F. From the Stone Age to Christianity. Baltimore, 1957.
Archer, G. L. Survey of Old Testament Introduction. Chicago, 1974 [Merece confiança o Antigo Testamento?, Edições Vida Nova, 1986].
Barr, J. Holy Scripture: Canon, Authority, Criticism. Oxford, 1983.
Beckwith, R. T. The Old Testament apocrypha in the New Testament. London, 1985.
Bentzen, A. Introduction to the Old Testament. Copenhagen, 1952 [Introdução ao Antigo Testamento, 2 v., ASTE, 1968],
Buhl, F. Canon and Text of the Old Testament. E.T. Edinburgh, 1892.
Charlesworth, J. H., ed. The Old Testament Pseudepigrapha, 2 v., Garden City, N.Y., 1983— 1984.
Childs, B. S. Introduction to the Old Testament as Scripture. London, 1979.
Coats, G. W. & Long, B. O. Canon and Authority. Philadelphia, 1977.
Driver, S. R. Introduction to the Literature of the Old Testament. Edinburgh, 1913, reimpr. 1972.
Ellis, E. E.Paul’s UseoftheOldTestament. Edinburgh, 1957.
Eybers, I. H. Some Light on the Canon of the Qumran Sect. In: The Canon and Masorah of the Hebrew Bible. Ed. S. Z. Leiman, New York, 1974.
Geisler, N. L. The Extent of the Old Testament Canon. In: Current Issues in Biblical and Patristic Interpretation. Ed. G. F. Hawthorne, Grand Rapids, 1975.
Green, W. H. General Introduction to the Old Testament: The Canon. New York, 1899.
Hagner, D. A. The Use of the Old and New Testaments in Clement of Rome. Leiden, 1973.
Harrison, R. K. Introduction to the Old Testament. Grand Rapids, 1969; London, 1970.
Harrison, R. K. Apocrypha. In: Yxmdervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, v. 1. Grand Rapids, 1975.
Katz, P. The Old Testament Canon in Palestine and Alexandria. In: The Canon and Masorah of the Hebrew Bible. Ed. S. Z. Leiman, New York, 1974.
Leiman, S. Z. The Canon and Masorah of the Hebrew Bible. Ed. S. Z. Leiman, New York, 1974.
_. The Canonization of Hebrew Scripture.
Hamden, Conn., 1976.
Lewis, J. P. What do We Mean by Jabneh? JBR 32 (1964), p. 125-32.
New Catholic Encyclopedia. New York, v. 2, 1967, artigo Bible, seções Canon of the Old Testament (J. C. Turro) e Apocrypha of the Old Testament (C. Stuhlmueller); v. 3, artigo Canon, Biblical (L. F. Hartman).
Pfeiffer, R. H. Canon of the Old Testament. In: Interpreter's Dictionary of the Bible. New York, v. 1, 1962.
Robinson, G. L. Canon of the Old Testament. In: ISBE, ed. J. Orr, v. 1. Grand Rapids, 1937.
Ryle, H. E. The Canon of the Old Testament. London, 1904.
Sanders, J. A. Torah and Canon. Philadelphia, 1972.
Sundberg, A. C. The Old Testament of the Early Church. Cambridge, Mass., 1964.
_. The “Old Testament”: A Christian Canon,
CBQ 30 (1968), p. 143-55.
Von Campenhausen, H. The Formation of the Christian Bible. E.T. London, 1972 [Aformação da Bíblia cristã, Editora Teológica, 2006].
Young, E. J. The Canon of the Old Testament. In: Revelation and the Bible. Ed. C. F. H. Henry, Grand Rapids, 1958.
A ARQUEOLOGIA E O ANTIGO TESTAMENTO
D. J. WISEMAN
A arqueologia é o principal meio de recuperar o passado por intermédio da descoberta de sítios antigos e ao se encontrar, por meio da escavação, construções, artefatos e documentos escritos que eles continham em tempos passados. Dessa forma, ela dá ao historiador uma ferramenta para que ele possa fazer um retrato do homem, de suas atividades e do seu pensamento em dado período e lugar na história. Visto que o AT em si já é uma coleção de escritos pertencentes a um contexto de vida específico, não é de surpreender que a arqueologia das terras bíblicas, principalmente da Síria-Palestina e seus vizinhos, comumente chamada de “arqueologia bíblica”, tenha feito muito para melhorar nossa compreensão dos povos, lugares, línguas, tradições e costumes entre os quais os hebreus tinham o seu lugar especial.
Enquanto a exploração antiga, e também alguma mais recente, tinha na Bíblia seu motivo principal de interesse, a arqueologia moderna desenvolveu-se em uma disciplina reconhecida e independente para descobrir, datar, examinar, preservar e interpretar os seus achados. A arqueologia não é uma ciência exata, embora já seja atualmente um campo de pesquisa contemporânea em rápido desenvolvimento que utiliza métodos de comparação e tipologia. Seus resultados, com exceção das evidências documentais, talvez sejam subjetivos, sujeitos a interpretações variáveis ou limitadas pela falta de material de comparação ou até pelos pontos de vista e métodos empregados pelo escavador. Não 54 obstante, alguns princípios de métodos ou resultados agora impõem respeito e ampla aceitação independentemente de qualquer convicção teológica, ou falta dela, do próprio arqueólogo.
A função da arqueologia está limitada à determinação do pano de fundo material de uma civilização. As idéias e os pensamentos de um povo antigo às vezes podem ser reconstruídos com base nesses vestígios materiais, mas são traçados mais comumente e de forma mais confiável com base em seus escritos. A arqueologia bíblica tem ilustrado, explicado e ocasionalmente confirmado o texto bíblico, embora às vezes tenha levantado problemas ainda não resolvidos. No entanto, ela não “comprova que a Bíblia é verdadeira”. Os autores do AT selecionam seus fatos, fontes e palavras e muitas vezes têm percepções e preocupações espirituais que estão além do escopo do questionamento ou da confirmação da arqueologia. Assim, a arqueologia bíblica se propõe a iluminar e suplementar, como também confirmar, ou, mais raramente, corrigir interpretações tradicionais. Visto que ela leva o leitor a conhecer o pano de fundo contemporâneo aos autores bíblicos, tornou-se uma ferramenta indispensável, se não essencial, para a completa compreensão da Bíblia.
1. Sítios
As estimativas dão conta de que somente três por cento dos 5 mil sítios descobertos e estudados na Palestina ou dos 10 mil lugares antigos em países limítrofes têm sido sistematicamente examinados. Com base neles, parece que algumas cidades se desenvolveram no quarto milênio a.C., provavelmente sob influência da Mesopotâmia, embora algumas como Jerico datem do quinto milênio a.C. Lugares citados na narrativa do começo de Gênesis — e.g., Nínive, Cala, Ereque, Erid(u) etc. — são atestadas já no terceiro milênio. Lugares citados nas histórias dos patriarcas — e.g. Betei, Siquém, Hebrom (Quiriate-Arba), Sodoma e Gomorra — representam cidades-Estado cuja existência é confirmada como aspecto dominante do período. Em torno de 1700 a.C., as defesas maciças das cidades em toda a região foram fortificadas em vista dos novos armamentos (carros e cavalos) e das incursões dos hicsos (povos do mar). Essas fortificações podem ser observadas em toda a Síria e Palestina (Dã, Hazor, Laís, Siquém, Tirza, Gaza) e até no Egito. E possível que tenham sido motivo de espanto para os hebreus que estavam chegando (Nm
13.28). Cada cidade-Estado tinha seus próprios governantes e túmulos que testemunhassem da prosperidade do período. Mais tarde, no século XVI a.C., Megido, Jerico e Bete-Zur estavam entre os lugares aparentemente destruídos pelos egípcios que vieram após os hicsos. O domínio deles sobre as fortalezas principais da Palestina pode ser visto também na correspondência do século XIV entre governantes locais e os faraós (cartas de El-Amarna).
E difícil afirmar com certeza que os níveis de destruição em Tell el-Hesy (Eglom?), Megido, Laquis, Asdode e Hazor estejam relacionados à vinda dos hebreus. Não há evidência alguma da ocupação de Ai, e K. M. Kenyon afirma não ter encontrado sinal algum de muros caídos em Jerico datados dessa época (ao contrário da suposição inicial de
J. Garstang), embora haja sinais de abandono em c. 1325 a.C., a época em geral mais atestada pela evidência arqueológica para a ocorrência desse evento.
No período “filisteu”, Gate, Gaza, Asca-lom, Ecrom e Jope são apresentadas como cidades principais e independentes, e encontramos cerâmica, objetos, esquifes, pilares e templos decorados no estilo dos filisteus. Os templos são fundamentalmente diferentes dos posteriores. O de Tell Qasile elucida o ato de Sansão ao se firmar contra as duas colunas centrais para deslocá-las das suas bases de pedra fazendo ruir o telhado com um movimento só (Jz
Ciro registra que o seu anúncio de restauração de templos de muitos deuses e o retorno dos judeus depois do exílio na Babilônia está em harmonia com isso. Cartas em papiro de Elefantina, no Egito, citam tanto Sambala-te quanto o sumo sacerdote Joanã (Ne
25). Outros oponentes de Neemias, “Gesém, rei de Quedar” e “Tobias, o amonita” deixaram inscrições. Uma “profecia dinástica” babilónica recentemente divulgada dá detalhes da queda da Assíria, do surgimento e queda da Babilônia e da Pérsia e do surgimento das monarquias helenistas. Como em Daniel, embora nomes de reis não sejam dados, há detalhes circunstanciais suficientes para identificar as pessoas e os períodos descritos.
3. Os rolos do mar Morto e o AT
A descoberta acidental ocorrida em 1947 perto do uádi Cunrã, a noroeste do mar Morto, levou à recuperação de manuscritos que antecedem os mais antigos textos do TM do AT conhecidos até agora. Eles são datados de c. 250 a.C. (Êxodo) até pouco antes da queda de Jerusalém (c. 68 d.C.). Mostram a exatidão com que os escribas copiavam textos hebraicos antigos. Outros mostram sinais de revisão ou são cópias de várias recensões que precederam ou seguiram as traduções gregas da LXX c. 245 a.C. Foram encontrados também escritos em aramaico e textos samaritanos. Livros deuterocanônicos (não aceitos no cânon hebraico) em hebraico, aramaico e grego também estão representados. Os livros mais copiados eram Deutero-nômio, no Pentateuco; Salmos, nos Escritos; e Isaías, nos Profetas. É digno de observação que esses livros, usados no sistema educacional da sinagoga da Palestina a partir de 75 a.C., foram os mais citados por Jesus Cristo. Os rolos de Cunrã também ilustram os métodos de exegese usados na época. Documentos sectários entre os mesmos achados incluem também o Manual da disciplina e o Rolo do templo da seita, em geral e provavelmente com razão, identificada como uma ramificação dos essênios. Embora esses textos sejam muito valiosos em mostrar a continuidade e as variações nos textos do AT, é importante observar que as 14 cópias de Isaías apresentaram somente seis mudanças reconhecidas em comparação com o texto como era anteriormente conhecido, de importância menor. A importância principal desses rolos está no âmbito dos estudos do NT.
4. Avaliação
O que foi dito acima é apenas parte do retrato que pode ser reconstruído com base nas evidências arqueológicas. Isso pode testar teorias exageradas e negativas, derivadas tanto de fatos reconhecidos como de formas literárias e de interpretação. Visto que se acumulam novos dados constantemente, “precisamos lembrar que as evidências que a arqueologia e os textos fornecem sempre serão incompletas [...] precisamos admitir também que só a ausência de evidências arqueológicas não seria suficiente para lançar dúvidas sobre as afirmações dos testemunhos escritas” (R. de Vaux). A arqueologia também levanta problemas que ainda aguardam uma solução definitiva, como, por exemplo, a falta de evidências, apesar de amplas escavações, da ocupação de Ai e Jerico na época da entrada dos hebreus na terra, embora diferentes soluções possam ser genuinamente propostas. Ela tem resolvido uma série de problemas levantados pelos críticos, como a existência e o uso de camelos na Palestina no período antigo dos patriarcas (Gn
BIBLIOGRAFIA
Há muitas informações novas quando as descobertas são publicadas em revistas especializadas, e.g., The BiblicalArchaeologist, American School of Oriental Research; IsraelExploration Journal, Iraq, Levant, Palestine Exploration Quarterly etc. Textos relacionados ao AT foram reunidos em Pritchard, J. B., ed. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. 2. ed., Princeton, 1955, e Ancient Near
Eastern Pictures Relating to the Old Testament. 2. ed., Princeton, 1969, abreviado em seu The Ancient Near East, an anthology of Texts and Pictures, Princeton, 1973; e em Thomas, D. Winton, ed. Documents from Old Testament Times. London, 1968. Um compêndio recente e confiável de dados de arqueologia bíblica pode ser encontrado em The New Bible Dictionary. 2. ed., Leicester, 1982 (ou com ilustrações em The Illustrated Bible Dictionary, v. 1 a 3. Leicester e Wheaton, 1980).
Albright, W. F. The Archaeology of Palestine. Harmondsworth, 1960.
Avi-Yonah, M. Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. London, 1976— 1977.
Bruce, F. F. Second Thoughts on The Dead Sea Scrolls. Exeter, 1969.
Burrows, M. What Mean these Stones? London, 1957. Kitchen, K. A. Ancient Orient and Old Testament. London, 1966.
_. The Bible in its World. Exeter, 1977.
Millard, A. R. The Bible BC: What Can Archaeology Prove? Leicester, 1977.
Moorey, P. R. S. Biblical Lands. London, 1975.
Paul, S. M. & Devers, W. G. Biblical Archaeology. Jerusalem, 1973.
Sanders, J. A. Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century. Garden City, N.Y., 1969.
Thomas, D. Winton, ed. Archaeology and Old Testament Study. Oxford, 1967.
Thompson, J. A. The Bible and Archaeology. 3. ed., Grand Rapids, 1982 [A Biblia ea arqueologia, Editora Vida Crista, 2004].
Wiseman, D. J. Chronicles of Chaldaean Kings (626556 B.C.) in the British Museum. London, 1956.
Wiseman, D. J. Peoples of Old Testament Times. London e Oxford, 1973.
Wiseman, D. J. & Yamauchi, E. Biblical Archaeology: An Introductory Study. Grand Rapids, 1979.
Wright, G. E. Biblical Archaeology. London, 1962.
Yamauchi, E. The Stones and the Scriptures. London, 1973.
O PANO DE FUNDO GERAL DO ANTIGO TESTAMENTO
J. M. HOUSTON
Os estudos do pano de fundo geral da Bíblia já passaram por várias fases de desenvolvimento. Um dos principais interesses tem sido naturalmente a descrição da terra da Palestina. A ciência da geografia só amadureceu nos últimos 50 anos, de forma que uma síntese satisfatória entre a paisagem e a cultura é um desenvolvimento recente. Mas o interesse topográfico na identificação dos locais bíblicos; uma apreciação ampla, mesmo que obscura, da situação da terra em relação ao assentamento do povo, o clima e os recursos da agricultura; e outras considerações sobre o ambiente há muito tempo têm atraído as atenções. Jerônimo expressou isso no início do século V, quando no prefácio da sua tradução latina do texto grego Onomasticon de Eusébio escreveu o seguinte:
Assim como os que viram Atenas entendem melhor a história grega, e assim como os que viram Tróia entendem as palavras do poeta Virgílio, assim vai entender as Sagradas Escrituras com uma compreensão mais clara aquele que viu a terra de Judá com os seus próprios olhos e chegou a conhecer as referências das cidades e lugares antigos e os seus nomes, tanto os nomes principais quanto os que mudaram.1
Por essa razão, Jerônimo incumbiu-se de sua tarefa. Mas a verificação precisa, empírica dos nomes de lugares foi impossível até os
ditado por Yohanan Aharoni, The Land of the Bible (Westminster Press, Philadelphia, 1967), p. xii.
primeiros estudos sistemáticos do dr. Edward Robinson, no século XIX, que no período entre 1838 e 1856 identificou 177 do total de 622 nomes de lugares na Bíblia.2 Em 1889, 469 nomes de lugares tinham sido localizados, em grande parte como resultado das pesquisas do Palestina Exploration Fund.3 O desenvolvimento do mapeamento topográfico, inclusive os levantamentos geológicos,4 tornou possível então que fosse publicada a primeira geografia histórica, a de sir George Adam Smith.5 Desde então, novos estudos geográficos como os de Abel,6 du Buit7 e Baly,8 e inúmeras descrições em atlas acrescentaram muito à compreensão popular do seu terreno, mas raramente contribuíram com percepções realmente novas.
Uma segunda fase de pano de fundo geral e ambiental começou na verdade em 1890 com a escavação de sir Flinders Petrie em Tell el-Hesy e o uso cuidadoso da cronologia
2J. M. Houston. The Geographical Background in Old Testament Exegesis, Trans. Victoria Inst., 86 (1954), p. 63.
3Palestine Exploration Fund, The Survey of Western Palestine (London, 1881).
4E. Hull. Memoir on the Physical Geology and Geography of Palestine (London, 1886).
3Sir George Adam Smith. An Historical Geography of the Holy Land (London, 1894; 25. ed., 1931).
6F. M. Abel. Géographie de la Palestine, 2 v. (Paris, 1933).
7M. du Buit, O. P. Géographie de la Terre Sainte (Editions du Cerf, Paris, 1958).
8Denis Baly. The Geography of the Bible (Harper & Row, New York, 1974).
da cerâmica.9 Agora, buscas arqueológicas de distritos inteiros, como as iniciados por Nelson Glueck10 e seus sucessores, nos ajudam a reconstruir as paisagens enterradas de épocas passadas, iluminando o estudo dos processos de assentamento de grandes regiões. Isso foi intensificado alguns anos atrás por meio das questões controversas levantadas por Alt,11 Albright12 e Mendenhall.13 O seu sentido de Territorialgeschichte [história territorial] contribuiu para muitas reavaliações dos pressupostos tradicionais acerca do assentamento dos hebreus na Palestina. Eruditos israelenses como Yohanan Aharoni14 e Samuel Abramsky15 aumentaram muito a nossa compreensão das circunstâncias físicas nas quais a vida social e religiosa de Israel se desenvolveu.
Uma terceira evolução foi passar a ver os dois ambientes do homem como um: o ambiente social das realizações culturais do homem mesclado e combinado com o ambiente físico em que ele está inserido. Ou seja, enxergar os inter-relacionamentos entre história e natureza como um todo no qual para os hebreus a iminência de Deus nos eventos está associada à transcendência de Deus no ambiente físico. Para os hebreus, não havia abstrações como história ou natureza, pois a presença de Deus era reconhecida nos acontecimentos e na qualidade das duas.16 Mas os
’Aharoni, op. cit., p. xiii.
’“Nelson Glueck. The River Jordan (Lutterworth Press, London, 1946); Rivers in the Desert (Weidenfeld & Nicolson, London, 1959).
”A. Alt. The Settlement of the Israelites in Palestine. InEssaysin Old Testament History and Religion (B. Blackwell, Oxford, 1966), p. 133-69 [Terra prometida: ensaios sobre a história do povo de Israel, Editora Sinodal, 1986].
1ZW. F. Albright. Archaeology and the date of the Hebrew conquest of Palestine, Bull. Amer. Schools of Orient. Research, 58 (1935), p. 10-18; e The Israelite conquest of Canaan in the light of archaeology, ditto 74 (1939), p. 11-23.
,3G. E. Mendenhall. The Hebrew Conquest of Palestine, The Biblical Archaeologist, 25 (1962), p. 66-87.
14Y. Aharoni, op. cit.
15S. Abramsky. Ancient Towns in Israel (World Zionist Organization, Jerusalém, 1963).
16H. Wheeler Robinson. Inspiration and Revelation in the Old Testament (Oxford University Press, Oxford, 1946),
p. 1-16.
estudiosos da Bíblia debatem há muito tempo sobre se a singularidade da fé do povo de Israel era absoluta ou somente derivada das diferenças com seus vizinhos e a cultura destes. Além disso, será que as diferenças são atribuíveis aos respectivos contextos físico-sociais, ou será que a singularidade da fé e da cosmovisão de Israel é um evento da revelação? A resposta depende em grande parte das pressuposições dos estudiosos da Bíblia.
As pressuposições dos estudiosos incluem dois aspectos da interpretação dos dados. O primeiro está relacionado à causalidade. Será que este mundo é um sistema fechado de causa e efeito, de forma que a única coisa que se tem de buscar são as explanações “naturais”, em termos de compreensão racional? Em épocas passadas da pesquisa, era mais fácil identificar os estudiosos que adotavam um método positivista ou evolucionista em virtude das preocupações pela origem da consciência religiosa e pela origem dos textos. Mas atualmente predominam as questões teológicas, e a própria teologia bíblica transformou-se em um escudo útil atrás do qual o estudioso pode esconder seus pontos de vista ao explicar as convicções e perspectivas dos israelitas. Muitas vezes o leitor leigo não está interessado em saber o que os israelitas acreditavam com relação ao fenômeno da criação, mas se na década de 1980 este ou aquele autor crê na criação. O vento soprando sobre o “mar Vermelho” é uma explicação insuficiente para a libertação de Israel do Egito na época do êxodo. As vezes chegamos a pedir que as armadilhas míticas das explanações contemporâneas sejam completamente desnudadas, para que possamos afirmar no espaço e no tempo o que cremos que literalmente aconteceu. No entanto, as perspectivas historicistas e geográficas têm uma percepção concreta e específica dos eventos que a mente moderna considera desconcertante, se não frontalmente ofensiva, para o sistema de pensamento fechado do evolucionista e do que não crê na soberania transcendente de Deus.
A segunda preocupação dos estudos modernos de pano de fundo é ligar as esferas dos ambientes físico e social. Homem-hábitat-cultura são inextricavelmente um campo. Pois o homem percebe do seu ambiente o que a sua cultura o treina a ver, de modo que a sua cultura é um filtro ou uma série de filtros pelos quais ele seleciona o que lhe é significativo no seu contexto. Assim, em certa época era popular seguir Gunkel e Gressmann na suposição de que as idéias mitológicas da criação e da escatologia veterotestamentária refletiam empréstimos de fontes babilónicas. Agora está claro que as perspectivas teológicas e as do contexto estavam sendo coerentemente contrastadas.13 Da mesma forma, assim como as idéias distintivas e a vida religiosa de Israel são progressivamente admitidas, também a antiguidade da sua expressão é deslocada mais para trás, em vez de para a frente. De forma que a legislação “mosaica” de Wellhausen, considerada uma inovação do período pós-exílico agora é descartada em favor de uma datação mais tradicional. Por trás dessa forma de procedimento, está a interpretação geral de tantos eruditos bíblicos de que a religião dos israelitas é um resultado do ambiente do Antigo Oriente Médio. Alguns estudiosos apontam para tendências monoteístas entre outros povos semitas; outros apontam para o que consideram elementos pagãos na religião de Israel. Esse ponto de vista deve ser rejeitado completamente. A fé do povo de Israel é uma criação original de Deus, e a sua cosmovisâo mono-teísta não tem antecedentes no paganismo. O mundo de Israel era singular, não obstante sua utilização de materiais pagãos antigos como elementos de polêmica e defesa da sua Fm
Uma terceira preocupação contemporânea por maior clareza em relação às questões de pano de fundo é investigar a unidade formidável do Antigo Testamento em relação às responsabilidades éticas de Javé-Israel-terra prometida. Elas nos fornecem novas idéias e percepções acerca da crise ecológica do nosso mundo atual, pois a perspectiva de como o mal no coração do homem influencia e multiplica fontes do mal no mundo físico era um aspecto bem percebido e reconhecido pelos profetas.
O homem na sua liberdade está aberto para o mundo, e não instintivamente preso como estão todos os animais. O homem está aberto para a escolha, aberto para o significado, de forma que ele tem de traçar o seu rumo através da realidade como um cosmólogo que monta espaço e tempo em uma cosmovisâo que lhe proporciona coerência e significado, legitimidade moral e orientação. Como ele se relaciona com o mundo, com a sociedade e com Deus ou os deuses faz parte do mesmo todo, de modo que a forma fragmentada em que o pensamento analítico moderno subdivide a natureza coesa da existência humana é algo estranho ao Antigo Oriente Médio como contexto da religião de Israel.
Essas perspectivas contribuem para as principais questões de pano de fundo que podemos tratar nesta análise do Antigo Testamento. São elas: o ambiente geográfico da Bíblia no Oriente Médio e o papel especial da terra de Israel; as perspectivas culturais dos seus povos, suas religiões e seduções para o povo de Deus; o assentamento dos hebreus na terra e a realidade teológica da terra prometida; e os temas relacionados ao ambiente recorrentes nas questões de pano de fundo na história do Antigo Testamento.
O AMBIENTE GEOGRÁFICO DA BÍBLIA NO ANTIGO ORIENTE MÉDIO
Suspenso entre Europa, Ásia e África, e entre os mares Mediterrâneo, Vermelho e o golfo Pérsico, o Oriente Médio é uma das áreas mais estratégicas do mundo. Se o homem surgiu primeiro aqui ou não, as suas primeiras civilizações certamente existiram aqui entre as bacias da Mesopotamia e do baixo Nilo. Embora desertos ocupem o sul e o leste dessa região, há também gradações de regiões com melhores índices pluviomé-tricos em direção ao norte e ao oeste. Aliás, há seis tipos principais de terreno e solo no Oriente Médio, com suas respectivas distinções ecológicas e culturais.19 Em primeiro lugar, há as terras às margens de rios no sul da Mesopotamia e no baixo Nilo, que são quentes e têm baixa média anual de chuvas, mas cujo solo aluvial recompensa grandemente o agricultor quando se usa a irrigação. Aqui se desenvolveram após o quarto milênio a.C. as duas grandes civilizações ribeirinhas da Mesopotamia e do Egito. Em segundo lugar, ao sul e oeste da Mesopotamia e em volta do filete do vale do Nilo está a região desértica que tem sido negativa em grande parte na história do Oriente Médio, uma região de nômades e comércio, e em geral uma região da ausência da lei em relação aos poderes estabelecidos. Em terceiro lugar, temos o “Crescente Fértil", assim chamado por Breasted, em virtude de ser uma faixa estreita começando à beira do Mediterrâneo na Palestina e na Síria ao longo das regiões de colinas mais irrigadas próximas ao mar, junto com as terras na base das montanhas a noroeste de Alepo e a leste além de Kirkuk, que consiste em grande parte de colinas e vales cobertos de grama, preferidos por criadores de animais e agricultores da Antiguidade. Mas a leste e ao sul dessa região, está, em quarto lugar, a estepe infértil da Síria, em Jezira, e as terras a leste do Jordão, tradicionalmente uma região de nômades. Em quinto lugar, temos as encostas justapostas das montanhas do norte que ligam as formações da Anatólia e de Zagros e as planícies dos vales entre as montanhas, bem irrigadas e antigamente cobertas de uma mistura de matas de carvalhos e pastos naturais; provavelmente era a região
‘’Frank Hole. Investigating the Origins of Mesopotamian Civilization, Saence, 153, Ago. 1966, p. 605-9.
em que cereais como a cevada e o trigo foram primeiramente cultivados para uso doméstico. Nas montanhas da Galiléia e da Síria, há um hábitat semelhante. Finalmente, há as regiões montanhosas da Anatólia e de Zagros, onde estão as nascentes dos rios que formam o Eufrates e o Tigre, e os seus habitantes exercem economias mais características de regiões montanhosas.
Após tentativas iniciais de ajuntar plantas, os povos tinham se concentrado nessa região. Entre 10000 e c. 5000 a.C., pequenas comunidades e vilas se desenvolveram nas colinas em volta do Crescente Fértil, na região sul da Anatólia, Síria, Palestina e nos planaltos do Iraque e do Irã. Ali, as chuvas do inverno para os grãos, pastos para ovelhas, cabras e gado bovino e uma gama ampla de condições ecológicas forneceram a base para a experimentação cultural. Quase 1.500 anos depois do estabelecimento de antigos sítios como Jarmo e Jerico, migrantes entraram nas regiões ribeirinhas. E possível que a vida em comunidade tenha levado Ml
Embora tenha existido um desenvolvimento comparável da irrigação nessas duas bacias, a sua natureza hidrológica é fundamentalmente diferente, sendo sem dúvida uma grande causa dos muitos contrastes reconhecidos entre as culturas do Egito e da Mesopotâmia.21 O Egito é a dádiva do Nilo, um único rio que flui em espaço aluvial estreito, nunca mais largo do que 50 quilômetros, ao longo de aproximadamente 800 quilômetros entre
20Robert Braidwood. TheNearEastandtheFoundations of a Civilization (Condon Lectures, Oregon, 1962).
2IJ. M. Houston. The Bible in its envíronment, The Lion Handhook to theBible (Líon Publishing, Berkhamsted, 1973), p. 10-21 [O mundo da Bíblia, 2. ed., Edições Paulxnas, 1993].
o delta e os platôs do Sudão. As águas do Nilo vêm de duas grandes fontes: o Nilo Azul, alimentado pelas chuvas de monções do planalto da Etiópia, e dos outros rios do leste da África, regulados pelos pântanos do Sudd e os grandes reservatórios dos lagos 5itória e Albert. As enchentes do baixo Nilo são incrivelmente previsíveis, estabelecendo o calendário agrícola anual em três estações: “inundação”, da metade de julho até a metade de novembro; “águas vindouras” (i.e. da semente no reaparecimento de terras inundadas) da metade de novembro até a metade de março; e o período da seca, da metade de março até julho. O homem tinha um sentimento maior de confiança nas forças da natureza, enquanto o isolamento da área por meio dos desertos protegia a civilização egípcia de forma mais eficiente de influências externas. A disposição dos assentamentos era principalmente em torno do canal central do Nilo, em cuja margem estavam localizadas muitas vilas e as capitais temporárias que tendiam a mudar de acordo com o reinado de cada faraó.15 A partir da primeira dinastia, foram mantidos registros anuais da altura do Nilo em cada inundação, e registros de impostos distinguiam as regiões baixas, inundadas regularmente, das regiões elevadas que só ficavam inundadas em enchentes excepcionais. Assim, o pulso sazonal do Nilo era a medida da soberania egípcia, para promover um regime e uma mente totalitários e a divinização dos faraós; tudo isso era estranho à vida na Mesopotamia.16
No âmbito da Mesopotâmia, o baixo Eu-frates e o baixo Tigre juntavam-se para irrigar a bacia, de forma mais incerta e oscilante. As águas sobem anualmente em maio e junho quando a neve derretida da Armênia se junta com chuvas fortes da primavera no leste da Anatólia, para alimentar os cursos baixos dos rios na enchente. Dependendo da sincronização dessas duas variáveis climáticas, pode haver inundações consideráveis na planície da baixa Mesopotâmia. Mas a irregularidade das inundações ao longo dos anos tornam o seu controle mais difícil do que no Egito, enquanto o pico elevado de água no auge do verão (maio—junho) minimiza o uso eficiente da água. Na Mesopotâmia, os cereais já estão crescendo quando chegam as inundações, enquanto no Egito os campos cultiváveis só recebem a semente após as inundações, tendo então a estação fresca em que podem crescer. Sabe-se agora que ocorria grande salinização do solo, com altos níveis do lençol de água e intensa evaporação. O professor Jacobsen considera a salinização a principal causa de mudança da civilização para o Norte, e a substituição da civilização suméria pela babilónica.17 Mais uma característica da Mesopotâmia é a sua exposição a invasores e salteadores de regiões montanhosas e à migração de diversos grupos étnicos, de forma que as linhagens raciais foram mais híbridas e mistas do que no Egito. Em geral, há um clima de insegurança em termos físicos, ideológicos e culturais maior na sociedade da Mesopotâmia do que na do Egito.
Entre essas civilizações e continentes, está a ponte de terra da Palestina. Ela é o flanco ocidental do Crescente Fértil, formando fronteira com a margem oriental do Mediterrâneo, embora totalmente alienada dos caminhos do mar. Com extensão de aproximadamente 500 quilômetros no sentido norte—sul e raramente com mais de 100 quilômetros no sentido leste—oeste antes de se encontrar com o deserto, essa terra vai das montanhas Amnus e Taurus, no norte, até o Sinai, no sul. Com um clima ameno típico do
24T. Jacobsen & Robert M. Adams. Salt and silt in ancient Mesopotamian agriculture, Science, 128, nov. 1958, p. 125-57.
mediterrâneo, com chuvas de inverno suficientes e calor moderado do verão,18 além de uma grande diversidade de formações topográficas, essa área, embora pequena em tamanho, tem uma diversidade extraordinária de nichos e ambientes ecológicos. A não ser o Jordão, seus rios fluem de forma intermitente, mas suas colinas porosas de pedra calcária são abençoadas ricamente com fontes, e os suprimentos subterrâneos de água são um fator importante na sobrevivência de suas sociedades. A costa do mar teve relativamente pouca influência sobre a sua cultura, com exceção do norte, em que as montanhas estão em posição transversal à costa marítima e assim produziram algumas enseadas e portos naturais como Tiro e Arvade. Mas limitando-nos estritamente à Palestina, vemos que a linha costeira desprotegida não favoreceu ancoradouros e refúgios naturais.
Como zona de passagem entre as duas grandes civilizações da Mesopotâmia e do Egito, e também como teatro de batalhas entre povos do deserto e povos assentados na terra, as transações comerciais em épocas de paz alternaram-se com invasões militares ou inimizade local entre nômades e agricultores em épocas de agitação.19 A pressão contínua por parte de nômades semitas do deserto influenciou a natureza predominantemente semítica dos seus habitantes. Mas pelo menos dois deslocamentos enormes de povos tiveram um impacto atordoante sobre a região nos tempos bíblicos: os povos amorreus, no final do terceiro milênio a.Q, e a onda de invasores hebreus e arameus, nos últimos séculos do segundo milênio a.C.20
Duas grandes estradas internacionais atravessavam a Palestina no período bíblico, “o Caminho do Mar” (Via Maris) e a “Estrada do Rei”. O Caminho do Mar foi importante em todas as épocas bíblicas, e foi ao longo dessa estrada que muitas cidades importantes da região se desenvolveram. Ela não seguia estritamente pela costa, e por isso o seu nome mostrava uma perspectiva setentrional como em Is
As influências geográficas sobre a história bíblica foram paradoxais. Por um lado, a Palestina sempre foi uma terra de unidades isoladas, dividida em insignificantes unidades e reinos tribais, rachados, separados e isolados pela cultura e por composições étnicas diversificadas. Assim, o regionalismo associado a nomes e áreas como Galiléia, Gileade, Amom, Moabe, Edom, Filístia, Judá, Samaria etc. tem sido profundo e duradouro. No terceiro milênio a.C., na idade do bronze antigo, já existiam diferenças culturais significativas entre os povos da região montanhosa e os das planícies. Em textos como Js
AS PERSPECTIVAS CULTURAIS DOS SEUS POVOS
As fronteiras naturais da Palestina são realidades geográficas.23 A fronteira ocidental é o Mediterrâneo; no leste, temos uma fronteira climática, o deserto sírio-arábico, delimitada mais especificamente pelo divisor de águas entre as águas que escoam para o Jordão e as que escoam para o leste. A sudoeste, é o rio do Egito, o uádi el-Arish. Somente no norte, a fronteira natural não está definida em toda a sua extensão, passando pelo rio Litani (Leontes), Hermom e o divisor de águas entre o rio Jarmuque e o oásis de Damasco. Mas é essencialmente uma região de trânsito para comércio e influências militares.
As características do relevo da Palestina foram o palco de diferentes dramas culturais. A planície costeira, em grande parte reta e sem entradas, enseadas ou portos naturais, nunca deu origem a uma civilização marítima como ocorreu em outras partes do Mediterrâneo Oriental. Mas, na agricultura e no comércio, tem sido a região mais rica, com a maior diversidade de culturas. No interior, a Sefelá representa as colinas no pé das montanhas de Judá, antigamente cobertas com florestas e cenário das lutas entre os israelitas e os filisteus. A espinha dorsal de pedra calcária das montanhas da Palestina contrapõe-se à Sefelá, divisível em quatro partes distintas: o Neguebe, as montanhas no sul, as colinas da Judéia, de Efraim e para o norte na Galiléia. Adiante disso, está a vala linear do vale do Jordão, dividida em três partes: a fenda do Jordão, que inclui o mar da Galiléia e o lago Hula; a bacia da fenda do mar Morto; e o deserto da Arabá, a região mais inóspita do país. A leste da vala do Jordão, estão os platôs montanhosos da Transjordânia, divisíveis entre as montanhas de Seir, Moabe, Gileade e Basã. Eles formam uma região semidesér-tica uniforme e ondulada. Esses sulcos e trechos em sentido norte—sul proporcionaram uma formação física de grande influência sobre a conquista e a vida da Palestina bíblica. Já no terceiro milênio a.C., existiam diversidades étnicas consideráveis nessa região, e características culturais independentes desenvolveram-se no período cananeu. Após a conquista israelita e, em particular, durante a monarquia de Israel, três elementos étnicos tornaram-se acentuados nos seus contrastes: os fenícios na costa norte, os filisteus nas costas central e sul e os israelitas na Sefelá, nas colinas ocidentais de Judá e Samaria, no vale do Jordão e na parte ocidental dos platôs a leste do Jordão.
A perspectiva cultural acerca do Antigo Testamento precisa levar em conta três realidades: a antiguidade dos seus povos e as migrações antes dos tempos bíblicos; a diversidade impressionante das culturas cujas diferenças se tornam cada vez mais apreciáveis à medida que prossegue a pesquisa; e as pressões extraordinárias sobre a singularidade da fé e da religião de Israel — e portanto também da sua preservação miraculosa no meio dos povos. O período bíblico na era dos patriarcas começa em aproximadamente 2000 a.C., mas as grandes civilizações do Egito e da Me-sopotâmia, entre as quais as peregrinações dos patriarcas estavam suspensas, tinham existido
1.500 anos antes de Abraão. A colonização israelita na terra da promessa já encontrou cidades e vilas antigas, como sem dúvida também criou muitas novas. Mas Jerico já existia como povoado em aproximadamente 8000 a.C.24
A diversidade cultural do Oriente Médio é comprovada na Lista das Nações (Gn 10), um atlas étnicogeográfico singular na literatura antiga, datando possivelmente já de 1000 a.C. ou até 1400 a.C.25 Israel via-se como uma comunidade de povos, grupos representativos de diversos clãs e famílias. Foi a singularidade da aliança de Israel com Deus — não há evidências de que outros povos tenham feito uma aliança com os seus deuses — com as suas raízes no evento histórico da redenção do êxodo que deu origem a Israel como “nação”.26 Subsequentemente foram formados os elementos necessários da nacionalidade por meio da fé e de costumes comuns, do governo e de um território definido (Dt
A erudição bíblica mostrou a importância de separar os conceitos “hebreus” e “israelitas”.27 A identificação dos dois termos ocorre na história de José (Gn
O interesse crescente nas cosmologias antigas indica como a fé israelita era fundamentalmente diferente do paganismo dos povos vizinhos, mesmo que houvesse também contrastes acentuados entre as teologias da Me-sopotâmia e do Egito.37 J. J. M. Roberts recentemente defendeu o aspecto de que o contraste radical entre “os deuses politeístas
MH. Cazelles. The Hebrews, in: D. J. Wiseman, ed. Peoples of Old Testament Times (Clarendon Press, Oxford, 1973), p. 1-28.
3SGeorge E. Mendenhall. The Apiru Movements in the late Bronze Age, in: The Tenth Generation (Johns Hopkins University Press, 1973), p. 122-41.
“C. J. Labuschagne. The lncomparability ofYahweh in the Old Testament (E. J. Brill, Leiden, 1966).
37V. especialmente S. N. Kramer. Mythologies of the Ancient World {TíoubXzády, Garden City, New York, 1961), e Alexander Heidel. The Babylonian Genesis (University of Chicago Press, 1950).
da natureza e o deus israelita da história tem de ser suavizado consideravelmente”, com respeito ao senso de história e da prática da divinização entre esses povos antigos.28 Mas é o golfo entre Israel e as outras nações que é muito mais óbvio, em campos e aspectos que ainda hoje separam profundamente as mentes do homem moderno. Pois todo o pensamento antigo existia em um sistema fechado das realidades primordiais da coexistência entre o bem e o mal, e do determinismo como o princípio máximo que influenciava e dispunha dos deuses como também dos homens. Isso é incompatível com a visão aberta de um Deus transcendente que é anterior a todas as outras coisas, que governa acima e além de todos, que fez uma criação boa, na qual o mal é uma intrusão posterior. Como Paul Ricouer29 e outros demonstram, isso gera um profundo contraste entre a fé bíblica e todos os outros sistemas de pensamento e fé. Além disso, a preocupação pessoal de Deus para com seu povo, a singularidade dos que reagem de forma positiva a ele, quebra a inevitabilidade do destino, a natureza cíclica do tempo e o materialismo que supõe a supremacia da matéria sobre o espírito. Nessas questões de fé e religião, o homem científico moderno está tão sujeito à escravidão da natureza e de suas forças quanto os devotos dos panteões da Mesopotâmia e do Egito. Pois o cientificismo é somente uma forma agressiva do paganismo.30
Por isso, há uma consciência crescente de que a maior parte das alusões e do ensino acerca da fé israelita na criação eram polêmicas quando contrastadas com as falsas cosmogonias e cosmologias do mundo antigo. Essa é a chave para a interpretação bíblica de Deus criando a luz antes do estabelecimento dos céus estrelados (Gn
Parece, portanto, que Israel enfrentou três perigos que forneceram um conjunto tríplice de motivações para a vida moral e sociopolí-tica de Israel: a sedução dos deuses cananeus locais e a sua constante ameaça à fé nacional;
4lMary K. Wakeman. God’s Battle with the Monster, a study in biblical imagery (E. J. Brill, Leiden, 1973); J. Day. God’s conflict with the Dragon and the sea (Cambridge University Press, 1985). V. tb. Gerhard F. Hasel. The Polemic Nature of the Genesis Cosmology, The Evangelical Quarterly, 46 (1974), p. 81-102.
42A. S. Kapelrud. The Ras Shamra Discoveries and the Old Testament (B. Blackwell, Oxford, 1965).
o Deus transcendente que chamou Abraão da Mesopotâmia e se comprometeu com ele por meio de um remanescente fiel; e a libertação de Israel do Egito, cujo totalitarismo e traços monolíticos eram tão implacavelmente hostis a tudo que a fé do povo de Israel implicava que somente a redenção e o evento histórico do êxodo poderiam salvar Israel.
O ASSENTAMENTO DOS HEBREUS EM CANAÃ
No futuro, quando mais dados arqueológicos se tornarem disponíveis, a geografia histórica do assentamento em Canaã vai assumir uma profundidade de perspectiva que ainda é sombria e incerta. Mas algumas questões já estão claras. Em primeiro lugar, a invasão dos israelitas não foi um evento isolado; estava relacionada às grandes ondas de expansão realizadas pelas tribos dos hebreus e dos arameus que exerciam pressão sobre todas as terras do Crescente Fértil. Pois foi também nessa época que os amonitas, os moabitas e os edomitas se estabeleceram na Transjordânia, e outros povos fizeram o mesmo na Síria e no vale do Eufrates. Em segundo lugar, a historicidade do êxodo está mais clara. A menção de Ra-messés entre as cidades construídas por escravos israelitas (Ex
Alt imaginou as divisões territoriais da Palestina no período de Amarna da seguinte maneira:33 unidades territoriais relativamente grandes e população mais esparsa nas colinas da Galiléia, Palestina Central e Judéia; cidades-Estado ao longo da costa; cidades-Estado na Sefelá (Laquis, Gezer e Queila); e uma cadeia de cidades-Estado desde Aco até Bete-Seã nas planícies de Megido, Jezreel e Bete-Seã, e mais uma cadeia de cidades-Estado a partir da planície costeira em direção a Jerusalém via Zorá e Aijalom. As pressões militares, portanto, variavam de distrito para distrito, com uma expansão relativamente pacífica da colonização nas colinas e resistência muito maior nas planícies. A interpretação arqueológica de Albright é de violência e de destruição de muitas cidades da Palestina.46 A abordagem mais literária de Wright às conquistas sugere que a ocupação israelita ocorreu em dois estágios.47 O primeiro estágio foi a destruição de cidades da Palestina nas campanhas israelitas sob o comando de Josué contra a parte sul da Palestina Central (Gil-gal—Jerico—Betel/Ai—Gibeom), contra o sul da Palestina (Libna—Laquis—Eglom— Hebrom—Debir) e contra a Galiléia (Hazor). Isso deixou áreas-chave intocadas e grande quantidade de habitantes com quem os israelitas tiveram de lidar mais tarde. O segundo estágio ocorreu durante o período dos juízes, quando a penetração pacífica de Israel das colinas cobertas de matas continuou, mas quando também ocorreram ataques planejados em muitos conflitos locais (e.g. Js
Embora os estudiosos discordem acerca do modelo da conquista e dos estágios em que ela ocorreu,48 a expressiva conquista da região de colinas foi sem dúvida facilitada por
40 A. Alt. The Settlement of the Israelites in Palestine, op. cit.
“W. F. Albright. The Biblical Period from Abraham to Ezra (Harper Torchbooks 102, N.Y., 1963), p. 24-34.
47G. E. Wright. The literary and historical problem of Js
Aharoni foi o pioneiro na geografia histórica dos assentamentos, ao usar as listas bíblicas para mapear as áreas e cidades dos cananeus não conquistadas pelos israelitas, como também definir os limites tribais.38 Mas há muito ainda para ser aprendido acerca da história e da natureza sociológica desse período. Então por aproximadamente 150 anos os filisteus dominam o cenário, especialmente na Sefelá e nas planícies costeiras, no período entre os juízes e a monarquia sob a regência de Davi. Os filisteus chegaram algumas gerações após os israelitas e pertenciam à onda dos “povos do mar” que estavam migrando para o leste, com origem nas terras e ilhas gregas, para a Síria e Canaã.39 A volúpia das suas mulheres é a triste história que está por trás da vida de Sansão. A vitória de Davi sobre Golias é muito mais do que uma epopéia, pois reflete a adaptação profunda da teologia e da cultura de Israel para estar em condições de enfrentar o conceito egeu da vitória resultante do confronto de dois guerreiros, em si um desafio ao conceito israelita da personalidade coletiva do povo de Javé. Mais tarde, durante o seu reinado, Davi incorporou totalmente os filisteus sob o seu domínio.
Durante os reinados de Davi e Salomão, o Estado israelita alcançou seu apogeu político e econômico. Em termos geopolíticos, isso pode ser explicado por meio de seu controle tanto da Via Maris quanto da Estrada do Rei, exercendo então domínio absoluto sobre as principais rotas comerciais do Oriente Médio. Assim, as evidências arqueológicas mostram uma elevação repentina do padrão de vida. Mas as denúncias proféticas também deixam transparecer nos períodos subseqüentes o declínio moral em virtude desse materialismo. No entanto, as rotas comerciais eram também as rotas dos exércitos, e assim as campanhas assírias de Ti-glate-Pileser III e de Senaqueribe, a invasão do Egito de 609 a.C. e depois a vitória do babilônio Nabucodonosor em 604 a.C. apagaram os últimos vestígios de independência judaico-israelita.
A TERRA PROMETIDA
No entanto, no exílio como na ocupação da terra, os israelitas desenvolveram uma teologia da terra cujas características não são claramente compreendidas hoje. Mesmo assim, a sua aplicação tem duas consequências muito fortes: a relevância do sionismo no Estado de Israel e o desafio dos ambientalistas de que a tradição judaico-cristã é responsável pela crise ecológica atual. A primeira implica uma realidade que talvez seja mal orientada pela leitura do AT, visto que é a promessa de Deus — que reflete o caráter dele — que é a base, e não a estrutura geo-política. A segunda acusação é infundada se a compreensão teológica da criação e do domínio do homem como mordomo é biblicamente compreendida.
Há outros aspectos que também precisam ser negados. Ao seguir perto demais os pontos de vista de Mircea Eliade acerca da santidade religiosa,53 W. D. Davies no seu importante livro The Gospel and the Land [O Evangelho e a terra] formula a noção de que Israel se imaginava como o centro da terra.54 E verdade que o termo omphalos é usado uma vez (Ez
5.5), mas o ponto de vista mitológico pagão segundo o qual o templo ou a terra tinham significado cósmico e santidade per se é totalmente estranho à Bíblia. A centralidade de Jerusalém e de seu templo era geográfica, e não cosmológica. O templo era uma casa feita por homens, na qual Deus se tornava presente, embora o céu dos céus não fosse capaz de contê-lo (lRs 8.27). Da mesma forma, embora os semitas tivessem um “sentimento de conexão real e íntima com a terra”, e ocasionalmente os colonizadores babilônios em Israel fossem atacados por leões e outras feras porque “não conheciam as suas [do Deus da terra] exigências” (2Rs
No entanto, há também a reivindicação de Javé, de que a terra em que Israel vivia era dele, de modo que os israelitas não eram proprietários mas “estrangeiros e imigrantes [‘peregrinos’, ARA]” (Lv
Em vez disso, a terra prometida dependente da fidelidade de Javé pode ser vista num relacionamento triangular.
Javé
Israel Z_A Canaã
Sem Javé, não poderia haver nenhuma promessa para Abraão, nenhuma promessa de terra, nenhum cumprimento. Israel também era uma variável na situação, pois, como benfeitor da aliança de Deus, era o receptor da Lei, de modo que seu desfrute da terra era condicionado aos regulamentos para a sociedade e a terra. Se Israel desobedecesse aos mandamentos, seria expulso da terra (Lv 10). Mas a terra em que Israel viveria não estava baseada em recompensa pela legalidade, mas na vontade e na graça de Deus (Dt
Um relacionamento justo com Javé e a terra também se refletia numa sociedade justa, orientada segundo o governo da Lei (Dt
“Mircea Eliade. The Sacred and the Profane (New York, 1959), p. 20 {O sagrado eo profano: a essência das religiões, 3. ed., Martins Fontes, 2001].
vt\Y. D. Davies. The Gospel and the Land (University of California Press, 1974), p. 7-10.
“Martin Buber. Pointing the Way (Harper, New York, 1957).
“P. van Imschoot. Theology of the Old Testament, v. 1 (Deseler, New York, 1965), p. 86.
Em vez disso, eles foram separados em algumas cidades (Nu 35:1-4), sustentados em parte por sacrifícios e impostos (Nu 18:21, Nu 18:24). Os dízimos para os pobres ajudavam a redistribuir a riqueza, e, além disso, as leis de respiga proporcionavam assistência aos necessitados (Lv
Mendenhall destacou, no entanto, que uma comunidade fundamentada em valores e na aliança é fortemente contrastada por um sistema de controle social organizado e mantido pela lei.59 Isso significa dizer que o Reino de Deus não é um Estado político. Não está fundamentado em poder, dinheiro ou prestígio, mas na prática do amor, da justiça e da eqüidade em escala pessoal, e não na organização coletiva. E uma comunidade, chamada em graça, que responde por gratidão, ativa por livre vontade, comprometendo cada indivíduo não pela organização social mas
^Robert North, S. J. Sociology of the Biblical Jubilee (Pontifício Instituto Bíblico, Roma, 1954).
j8John Howard Yoder. Th PoHtics of Jesus (Eerdmans, Grand Rapids, 1972), p. 37 [A política de Jesus, Editora Sinodal, 1988].
39George E. Mendenhall. The conflict between value systems and social control, in: Unity and díversity, p. 16980. V. tb. o seu importante estudo: The Tenth Generation, the origins of the Biblical Traditions (Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1973).
pelo “temor do Senhor”, que olha para a frente, para a esperança futura, independentemente de todos os outros controles sociais e culturais. E aqui que a fé e a prática bíblicas transcendem os controles ambientalistas, quer geográficos quer culturais, capacitando o povo de Deus com uma singularidade e com um impacto duradouro e inextinguível sobre toda a história. Foi o que Jesus pregou e incorporou.
Entrementes, a realidade do governo de Deus é obscurecida pelo mau uso por parte do homem da ordem que recebeu de dominar sobre a terra. No cântico dos sete milagres, o salmista louva a Deus por colocar muitas coisas à disposição do homem: o céu, a terra, a água, os produtos da terra, o sol e a lua, o mar e, acima de tudo, o presente da vida (SI 104). Ao receber a tarefa de cultivar as coisas dadas na criação de Deus, como um jardineiro o homem cuida da terra (Gn
(5) Amor. Embora esse termo seja usado no AT provavelmente com todas as nuanças que tem hoje, quando é aplicado a Deus, nunca significa simplesmente uma emoção, mas sempre implica ação apropriada. E usado em relação à escolha que Deus fez de Israel, mais raramente acerca da escolha de uma pessoa (2Sm
(6) O Deus da aliança. Deus é retratado não simplesmente como Criador, que mostra compaixão com todos os que ele criou, mas como aquele que estabelece um relacionamento especial com eles. Esse relacionamento é chamado de aliança e pode impor — ou não — condições àqueles com quem foi estabelecido. Quatro alianças merecem destaque especial aqui.
a. A aliança com Noé. Em Gn
b. A aliança com Abraão (Gn 12.1ss; 13
c. A aliança do Sinai (Ex
(7) Fidelidade. Esse conceito é vertido regularmente por “verdade” pela VA, mas isso tem sido quase completamente abandonado nas traduções modernas, quando se refere a Deus, e com freqüência quando se refere aos homens. O AT não está preocupado com exatidão absoluta, que é a conotação moderna de verdade, mas com a confiabilidade da pessoa em questão. Em um mundo de incertezas, em que a experiência nos mostra a tolice de confiar em circunstâncias ou nas pessoas, Israel descobriu que Deus era completamente confiável e coerente, i.e., fidedigno e fiel.
(8) Amor da aliança, amor leal ou constante (hesed). Todos esses atributos, ao menos com relação a Israel, estão resumidos em hesed, que é o comportamento que a pessoa tem o direito de esperar de outra com quem estabeleceu um relacionamento de aliança. Ocorre quase 250 vezes, conquanto em sua maioria se refira ao caráter e aos atos de Deus. Quando se aplica ao homem, a RSV geralmente usa o termo traduzido por “lealdade” e quase invariavelmente “amor constante” quando se aplica a Deus. A NVI usa termos ligados à lealdade no primeiro caso (“leal”, 1Sm
(9) Zelo. E uma lástima que esse termo tenha perdido tanto do seu sentido básico nos contextos humanos, pois é difícil encontrar uma opção apropriada de tradução do termo para a nossa língua. A GNB nos dá uma boa sugestão: “Eu não tolero rivais”. Ao contrário de tantos deuses dos pagãos, Javé não é indiferente ao comportamento e ao sofrimento do homem. Quando ele canaliza seu amor aos homens, esse amor é absoluto, e quando há uma reação positiva ao seu amor, ele também espera que seja absoluta. E por isso que ele espera padrões de comportamento de Israel que não exige de outros povos.
6. A NATUREZA DO HOMEM
O conceito de homem do AT, embora não seja único na maioria dos seus detalhes, é tão diferente dos conceitos derivados da filosofia grega, que predominaram no pensamento teológico cristão até recentemente, que não é fácil esclarecê-lo em poucas palavras.
1) O homem como uma unidade
O homem consiste em duas partes: de carne (ou corpo), que o coloca em contato com os outros seres humanos e, de forma mais distante, com toda a criação; e de espírito, o sopro da vida, o dom de Deus, que o coloca em contato com Deus. Mas quando os dois se encontram, fundem-se em uma unidade chamada nephesh, traduzido de forma incorreta por “alma” (Gn
Essa unidade é tão real que repetidas vezes as partes do corpo são usadas para expressar ações e intenções da personalidade como um todo, e órgãos físicos são usados para designar diversas funções do homem interior;
e.g., o coração expressa intelecto, vontade e emoções. Também por essa razão, embora a fraqueza e transitoriedade da carne (corpo) seja reconhecida, o corpo nunca é depreciado, tampouco há qualquer indicação de uma existência real no futuro sem ele.
2) O homem à imagem de Deus
O termo “nephesh vivente” é usado tanto acerca de animais quanto de seres humanos (Gn
(2) O homem é o representante de Deus neste mundo e, como tal, exerce certo domínio sobre ele (Gn
3) A queda do homem
Não há descrição detalhada nem do mundo nem do homem antes da Queda, porque o tópico é irrelevante para o homem como tal. Mas as ordens de “subjugar” a terra (Gn
A motivação por trás da Queda foi o desejo de ser independente e auto-suficiente, ser igual a Deus (Gn
Não há menção à Queda em outras passagens do AT (as traduções modernas com certeza estão virtualmente corretas em rejeitar a versão da RV de Dn
4) A queda — suas conseqüências
Visto que não temos um retrato claro do que teria acontecido se o homem não tivesse pecado, precisamos inferir as conseqüências da Queda por meio da combinação de algumas declarações.
(1) 0 mundo. O homem perdeu em parte o seu direito ao domínio, fato que foi simbolizado na maldição sobre o solo (Gn
(2) A desarticulação da sociedade. Isso se torna evidente principalmente pela desarmonia na família (Gn
(3) Morte. Não temos o direito de descartar ou menosprezar a declaração: “no dia em que dela comer, certamente você morrerá” (Gn
(4) Espíritos elementares. O AT desconhece, com raras exceções, os nomes, títulos, supostos poderes e outros detalhes acerca dos deuses dos pagãos, como também dos demônios (shedim etc.), que são adorados e aparentemente podem exercer poder sobre aqueles que não adoram Javé. Não há indicação alguma de que sejam anjos caídos, mas não é dada nenhuma explicação para a sua existência.
(5) Vida após a morte. Trataremos disso na seção 7, seguinte, item 10.
7. A RESTAURAÇÃO DE TODAS AS COISAS
O AT é essencialmente a história dos preparativos da inversão dos efeitos da queda do homem e do mal que ela causou. Essencialmente isso tem dois lados. O homem teve de aprender a ineficiência dos seus próprios esforços e de seus deuses. Então Javé teve de demonstrar seu poder, sua vontade e seus propósitos. Precisamos observar que a revelação veterotestamentária da ação de Deus é limitada a este mundo.
1) De Adão a Abraão
Quando o homem foi deixado por sua conta, chegou ao clímax da sua depravação. Por causa disso, com exceção de oito pessoas, teve de ser exterminado da face da terra. A memória desse julgamento variou bastante, mas parece ter deixado uma marca universal no ser humano, que é o reconhecimento de que os seus deuses colocaram limites a seu comportamento, e isso com freqüência conduzia a um padrão ético muito elevado, mas que raramente era observado por muito tempo. Isso não deve indicar que houve uma revelação primitiva muito anterior dada a Adão. Para isso não temos evidência no AT. Não devemos ignorar o fato de que os ancestrais dos patriarcas eram idólatras (Js
2) Os patriarcas •
As histórias de Abraão e de seus descendentes até a quarta geração não são meros relatos de como Deus preparou um povo para ele; servem ainda mais para destacar a importância da fé e da confiança no relacionamento com Deus. Pressuposições cristãs a respeito do conhecimento teológico de Abraão acerca de Deus ou judaicas de que Abraão guardou a Lei mosaica não encontram respaldo nos relatos. A não ser o nascimento de Isaque, há poucos aspectos miraculosos nesses relatos, pois a fé neles descrita está fundamentada nas promessas e na proteção contínua de Deus, e não nos seus atos poderosos.
3) O nascimento de um povo
Não se deve esperar de um povo a mesma demonstração de fé em Deus que a de um indivíduo ou pequeno grupo de famílias.
Por isso Deus teve de se revelar a Israel de uma forma diferente da que tinha usado para com os patriarcas. Encontramos a maioria dos milagres do AT nas histórias do Egito, da peregrinação no deserto e da conquista de Canaã. Nelas Deus demonstrou o seu controle sobre a natureza e todas as forças naturais, fossem elas divinizadas ou não. Isso serviu para dar a certeza, pelo menos à fé que encontramos nos profetas, de que todos os sofrimentos de Israel, conseqüências de desastres naturais ou das vitórias dos seus inimigos, eram necessariamente o resultado dos pecados do povo, e não de alguma fraqueza por parte de Javé. A reação de Abraão ao chamado de Deus poderia ser explicada e descartada, ao longo do tempo, como uma experiência meramente subjetiva. O êxodo e a conquista da terra fornecem uma base factual inesquecível e inegável para a história de Israel como o povo de Deus, na qual o êxodo ocupa a mesma posição que a cruz e a ressurreição de Cristo na história da igreja.
4) A lei de Moisés
A Lei, ou mais precisamente a Instrução (torah) dada por intermédio de Moisés no Sinai e durante a peregrinação no deserto, não tinha a intenção de ser um código legislativo para cobrir todas as eventualidades daquela época ou de épocas posteriores; seu propósito era ser um guia para o tipo de vida que se esperava de um povo “santo”. O fundamento da aliança era o decálogo (Ex
Em outras palavras, a Instrução {torah) não tinha o propósito de ensinar a Israel, por meio de sua própria sabedoria, o que seria a vontade de Deus em cada circunstância da vida, mas deveria ser uma luz no caminho do homem, que possibilitaria a Deus conduzir tanto o indivíduo quanto o povo na direção correta. Ela também teve a intenção de revelar a incapacidade do homem de obedecer à vontade de Deus por suas próprias forças — não havia poder inerente à Lei — e assim fazer que ele se voltasse em humildade a Deus para pedir ajuda. Ao mesmo tempo, era um ponto decisivo na religião humana, pois pela primeira vez fornecia um padrão completamente objetivo segundo o qual o homem poderia fazer um julgamento acerca do seu próprio comportamento separado da voz não confiável da consciência.
Como no caso da lei civil, as regulamentações acerca dos rituais estão fundamentadas nas que eram familiares aos patriarcas na Mesopotâmia e em Canaã. Aqui também precisamos dizer que foram modificadas para aumentar a convicção do adorador tanto a respeito da sua impureza e de não estar à altura dos padrões de Deus quanto a respeito da disposição benevolente de Deus em restaurar a comunhão. Quando tudo isso é observado do ponto de vista da obra de Cristo, é fácil perceber os seus diversos aspectos profetizados nos sacrifícios e na organização do tabernáculo. No entanto, visto que não há evidências de que alguém entendia a tipologia envolvida em tudo isso, e que os profetas em grande parte demonstravam pouco interesse no uso popular dos rituais, e às vezes até eram hostis a eles, provavelmente é mais sábio não incluir a interpretação tipológica das leis rituais numa teologia do AT. Antes, devemos entendê-las como elementos que imprimiam em Israel a certeza da inadequação dos esforços humanos para agradar a Deus, mesmo que os detalhes do culto tivessem sido dados por ele.
5) De Josué ao exílio na Babilônia
De um ponto de vista, o final de Deuteronômio representa o clímax do AT. Deus tinha formado o seu povo, revelado o seu poder a ele e o havia conduzido ao limiar do cumprimento de suas promessas. A partir daí, é uma história de declínio, em que os melhores episódios são no máximo uma interrupção, mas não a reversão da tendência descendente. O pecado de Acã, que deixa uma marca duradoura na história subseqüen-te de Israel, em certo sentido faz um paralelo à Queda no jardim do Éden. A escolha humana do rei e do templo no lugar do juiz e do tabernáculo simplesmente tornou a cena final da perda de liberdade nacional e do exílio ainda mais certa. O defeito inerente na escolha do rei e do templo foi que limitou a escolha de um governante por parte de Deus, pois tornou a função hereditária, e limitou também o lugar de culto, pois o templo não poderia ser transferido de Jerusalém.
6) Os profetas
Paralelamente a esse declínio, veio a revelação crescente por meio dos profetas — embora tudo já estivesse em essência presente na Lei — insistindo que as exigências principais de Deus para o seu povo eram justiça, lealdade de aliança tanto a Deus quanto aos outros homens e a aceitação inquestionável da vontade e dos padrões de Deus. Sem isso, todo o culto, não importava quanto fosse valorizado, era um insulto a Deus.
Isso ocorreu paralelamente a uma ênfase crescente no fato de que o povo, como um todo, não seria capaz de atender a essas expectativas, mas, sim, apenas um remanescente, e também só por meio da obra do rei perfeito de Deus (o Messias; v., nesta seção, o item 7). Com o pano de fundo do exílio em mente, foi revelado ainda que o cumprimento dos propósitos de Deus incluiriam uma nova aliança (Jr
Em outras palavras, Deus estava usando o fracasso humano, demonstrado como sendo fracasso pela simples existência da Lei do Sinai, para demonstrar tanto a necessidade quanto os métodos da intervenção e da cura divinas. Para tudo isso, as experiências do período pós-exílico eram necessárias para tornar completamente clara a lição (v., nesta seção, o item 8).
Os profetas também foram usados para mostrar a importância do indivíduo dentro da totalidade do povo. Nem mesmo no caso de Jeremias, o chamado para que não confiasse em outro homem foi interpretado como estímulo para que se separasse do seu povo, i.e., não há garantias para o individualismo.
7) O Messias
O termo Messias, pessoa ungida, i.e., alguém separado para o serviço de Deus, dificilmente pode ser encontrado no AT como termo técnico, a não ser talvez em Ez
8) O retomo do exílio
A rejeição da independência nacional e de um rei davídico, combinada com a remoção do esplendor do templo reconstruído e a falta da arca, o sinal da presença de Deus, era a indicação exterior de que os propósitos de Deus não seriam atingidos pelas expressões normais da nacionalidade ou do culto. Isso foi ressaltado ainda pelo fato de que a maioria dos judeus vivia fora da sua terra. Os judeus tinham se tornado “prisioneiros da esperança”, esperando pelo tempo divino da sua redenção. Eles erraram foi na convicção de que poderiam apressar o dia da libertação por meio de uma observância meticulosa da Lei de Moisés.
9) Recompensas e castigos
Nos primeiros livros do AT, a recompensa pela obediência e confiança eram as riquezas, ou pelo menos uma quantidade suficiente dos bens desta terra para uma vida adequada, com boa saúde, bom número de filhos, triunfo sobre os inimigos e longevidade. O castigo pelo pecado e pela desobediência era a privação dessas coisas. Quando faltassem as forças físicas ao homem temente a Deus, que tinha todas essas coisas, ele poderia partir em paz, não desejando mais nada e sabendo que em certo sentido continuaria a viver em seus descendentes; conforme a instituição do levirato (Dt
Gradualmente, à medida que a sociedade se tornava cada vez mais corrupta, os que temiam a Deus se viram mais envolvidos nos sofrimentos dos seus vizinhos ímpios, e foram injustiçados e discriminados por homens maus em posições elevadas. Aliás, muitas vezes tinham de sofrer mais do que os próprios maus, a ponto de em muitos salmos os “pobres” e “aflitos” serem praticamente sinônimos de “homens piedosos”, “pessoas tementes a Deus”. Isso conduziu a um lento abandono dos antigos conceitos de recompensa e castigo, embora nunca tenham desaparecido totalmente do AT, e os homens começaram a procurar algo depois do túmulo para equilibrar as iniqüidades desta vida.
10) Vida após a morte
Um homem como Habacuque, confrontado com o colapso da sociedade à sua volta, pôde colocar a sua fé em Deus como uma resposta suficiente (3.17ss), enquanto um Jeremias, depois que o seu povo fora exilado, conseguiu encontrar satisfação na redenção e restauração vindouras de Deus
(31.25,26), mas outros se viram esperando por uma resposta além do túmulo. Essa esperança assumiu duas formas, que de maneira nenhuma são mutuamente excludentes.
A alguns, e.g., Jó (10:23-27), Davi (Sl
Outros já pensavam no tempo vindouro do governo universal de Deus, no qual a maldição seria removida tanto da natureza quanto de Israel (e.g., J1 3.17,18; Jl
Em Is
Não há doutrina do inferno no AT. Em Is
11) Os novos céus e a nova terra
A combinação dos céus e da terra (Is
8. A TEOLOGIA DA SABEDORIA
Enquanto as duas primeiras seções do AT, a Lei e os Profetas, são livros proféticos e derivam a sua inspiração desse fato, os Escritos não reivindicam natureza profética, com exceção de alguns salmos, como o 50 e o 110. Apesar disso, a maioria dos livros traz uma perspectiva predominantemente profética. Exceções notáveis são os três livros que normalmente são denominados sapienciais,
i.e., Provérbios, Jó e Eclesiastes.
A experiência acumulada das gerações era transmitida de boca em boca e ensinada pelos anciãos da tribo aos homens mais novos. Nas cortes dos reis, os conselheiros faziam estudos especiais da sabedoria tradicional.
O livro de Provérbios nos dá tanto a nata da sabedoria de Salomão quanto a coleção dos ditos dos sábios. Uma pressuposição básica é que a verdadeira sabedoria depende do temor do Senhor. Com base nisso, a experiência humana vai se conformar a um padrão regular no qual os que temem a Deus podem contar com prosperidade e sucesso, enquanto os tolos — não os mentalmente deficientes mas os que não têm temor a Deus — estão destinados ao fracasso e à ruína.
Uma nota dissonante aí é tocada por Agur (30:1-4, mas talvez até o v. 33). Em termos contundentes, ele afirma que, quando confrontado com a sabedoria celestial, não é melhor do que um animal. Essa é também a atitude de Jó, que na Bíblia hebraica está logo após Provérbios. Eclesiastes, colocado na boca de Salomão já em avançada idade, quando tinha perdido o temor a Deus, mostra que a mais elevada sabedoria humana, depois que o temor do Senhor já não existe, é incapaz de construir qualquer padrão razoável com base na experiência humana ou de encontrar um propósito visível nela.
Se considerarmos esses três livros em conjunto, como também alguns salmos (e.g., 1; 37; 49; 78), vamos descobrir que eles afirmam que o homem, visto que foi feito à imagem de Deus, é capaz de discernir a forma de Deus agir entre os homens, contanto que exista o devido respeito por Deus; onde isso falta, a vida se torna sem sentido. A isso Agur e Jó objetam, dizendo que Deus é grande demais para que os seus caminhos sejam de fato compreendidos pelos homens. Em outras palavras, os livros sapienciais concedem o devido lugar às observações e à argumentação do homem na compreensão de Deus e de suas obras, mas sujeitam isso ao devido respeito a Deus e ao reconhecimento das limitações humanas.
Embora a personificação da Sabedoria (Pv
9. O USO CRISTÃO DO AT
1) O AT como Escritura
A declaração de Paulo em 2Tm 3:16,2Tm 3:17 refere-se ao AT. A sua implicação é que Jesus, o Messias, é o seu fator unificador e o seu cumprimento, e que o ensino de Jesus e dos seus apóstolos é o guia para a sua compreensão. As citações freqüentes do AT em todas as partes do NT têm menos um objetivo apologético, embora às vezes haja um pouco disso, do que o desejo de mostrar o elo vital que existe entre promessa e cumprimento. Os livros do NT foram escritos em primeiro lugar para pessoas que já eram crentes. Mesmo em épocas em que o AT era menos conhecido e compreendido, a igreja sabia que tinha de reter o AT, ainda que às vezes parecesse vantajoso abandoná-lo.
2) Antigo e Novo?
Parte da nossa dificuldade no uSo do AT vem do uso de “Antigo” e “Novo”, quando falamos dos testamentos, ou melhor, alianças. O uso é muito claro e está fundamentado em He 7:22; He 8:6,He 8:7,He 8:13, que trata das implicações de Jr
3) Alegoria, tipologia, analogia
A Bíblia é o relato da obra redentora de Deus, por meio da qual ele se torna cada vez mais conhecido (conforme a seção 4, 1Ts
Mais próximo do espírito da Escritura está a interpretação do AT por meio da tipologia, i.e., a afirmação de que as ordens relativas ao culto e à ordenação dos eventos tinham a intenção de apontar para aquilo que estava por vir. Os seus defensores fundamentam-se especialmente em Hebreus e 1Co
E provável que em todos esses casos a analogia seja a melhor abordagem. Esta afirma que é um e o mesmo Deus que age e fala em toda a Escritura, e que a natureza do homem não mudou, embora o seu conhecimento tenha aumentado. Por isso, há uma unidade singular inerente aos atos, à orientação e às instruções de Deus. Isso não oferece uma solução automática aos textos problemáticos do AT, mas, uma vez que o leitor aceite os fatos da situação descrita, fatos que não foram artificialmente produzidos por Deus, como a tipologia às vezes parece sugerir, ele vai reconhecer neles o resultado inevitável do encontro entre o pecado do homem e a justiça de Deus. A analogia também vai nos proteger do mau uso do dispensacionalismo, que parece sugerir que Deus tinha diferentes alvos e padrões em diferentes épocas da história humana.
4) Alguns benefícios de se usar corretamente o AT
O AT vai nos proteger da idéia de que a revelação de Deus é principalmente revelação da doutrina correta. Ele nos ensina que ela é acima de tudo revelação da restauração de um relacionamento correto entre Deus e o homem no curso da história da salvação. A doutrina correta é um grande benefício, mas o relacionamento verdadeiro com Deus não depende necessariamente da doutrina correta. Ele vai nos proteger também da tendência moderna de julgar as religiões dos outros de acordo com a medida de verdade e erros que afirmamos encontrar nelas.
O AT nos protege do culto ao léxico e à filosofia dos gregos na nossa interpretação do NT, pois sua linguagem e perspectiva estão firmemente fundadas no AT. O mesmo se aplica aos esforços de entender o NT em termos da religião helenística do judaísmo do século I. A religião helenística é ignorada, a não ser à medida que a igreja em crescimento entrou em contato com ela. A atitude do NT em grande parte é a mesma do AT em relação ao paganismo que constantemente ameaçava Israel. Embora os escritos judaicos antigos iluminem as nuanças dos ensinos de Jesus e de Paulo, o NT começa essencialmente onde parou o trabalho de Esdras. E necessário observar que os homens de Cunrã não são mencionados no NT; não há indicação alguma acerca dos aspectos que separavam os fariseus em pelo menos dois grupos hostis; só são mencionados dois pontos que os distinguiam dos saduceus (Mc
O AT deveria guardar-nos da idéia de que a crença correta ou a experiência “carismática” podem tomar o lugar da conduta correta, ou que o NT está nos apresentando simplesmente uma lei mais elevada. Acima de tudo, ele descarta qualquer idéia de que o homem seja capaz de encontrar um lugar em que possa agir de forma independente de Deus.
O AT nos dá uma galeria singular de retratos de homens e mulheres que caminhavam com Deus pela fé. Uma apreciação mais atenta nos teria salvo da supervalorização do ministério e dos dons espirituais de mais brilho. Teríamos sido menos tentados a resolver os problemas por meio da fuga do mundo, e teríamos expressado uma grande apreciação pelo fato de que Deus é glorificado por meio da realização da sua vontade no mundo. Teria havido também menos depreciação do físico.
5) A interpretação do AT Embora o AT sempre deva ter a liberdade de falar por si próprio, pois é a revelação de Deus, mesmo quando aponta para seu cumprimento no futuro, precisa ser sempre ouvido à luz de Jesus Cristo. A Bíblia é um livro, e nenhuma das partes pode contradizer outra, mesmo que falem com ênfases diversas; não se pode esquecer, no entanto, que contradições aparentes podem ser explicadas por meio de uma verdade mais elevada que abarque as duas afirmações. A revelação progressiva nunca significa que ela seja incorreta, mas somente que é parcial. Quando o que é perfeito vem, interpreta o que é parcial mas não o revoga, enquanto o que é parcial nos ajuda a compreender o que é perfeito.
BIBLIOGRAFIA
Panorama
Porteous, N. W. Old Testament Theology. In: The Old Testament and Modem Study. Oxford, 1951.
Esboços gerais
Clements, R. E. Old Testament Theology: A Fresh Approach. London, 1978.
Eichrodt, W. Theology of the Old Testament, 2 v., London, 1961, 1967 [Teologia do Antigo Testamento, Editora Hagnos, 2005].
Jacob, E. Theology of the Old Testament. London, 1958. Knight, G. A. F. A Christian Theology of the Old Testament. London, 1959.
Köhler, L. Old Testament Theology. London, 1957. von Rad, G. OldTestament Theology, 2 v., Edinburgh, 1962, 1965 [Teologia do Antigo Testamento, 2 v., ASTE, 1986],
Vriezen, Th. C. An Outline of Old Testament Theology. Wageningen, 1958.
ZlMMERLi, W. Old Testament Theology in Outline. E.T., Edinburgh, 1978.
Estudos especiais
Baker, D. L. Two Testaments One Bible. Leicester, 1976.
Barr, J. Old and New in Interpretation. London, 1966.
Bright, J. The Authority of the Old Testament. London, 1967.
Buber, M. The Prophetic Faith. New York, 1949.
Dodd, C. H. The Authority of the Bible. London, 1929, 1960.
Dodd, C. H. According to the Scriptures. London, 1952 [Segundo as Esarituras: estrutura fundamental do Novo Testamente, 2. ed., Ediçôes Paulinas, 1986].
Ellison, H. L. The Message of the Old Testament. Exeter, 1969.
Johnson, A. R. The Vitality of the Individual in the Thought of Ancient Israel. Cardiff, 1949.
Köhler, L. Hebrew Man. London, 1956.
Robinson, H. Wheeler. The Religious Ideas of the Old Testament. London, 1913.
Rowley, H. H. The Faith of Israel. London, 1956 [A féem Israel: aspectos do pensamento do Antigo Testamente, Editera Teolögica, 2003].
Rust, E. C. Nature and Man in Biblical Thought. London, 1953.
Snaith, N. H. The Distinctive Ideas of the Old Testament. London, 1944.
Tasker, R. V. G. The Old Testament in the New Testament. 2. ed., London, 1954.
van Ruler, A. A. The Christian Church and the Old Testament. 2. ed. Grand Rapids, 1971.
Vischer, W. The Witness of the Old Testament to Christ, v. 1, London, 1949.
A INTERPRETAÇÃO DO ANTIGO TESTAMENTO
HAROLD H. ROWDON
O próprio nome “Antigo Testamento” pelo qual se tornaram conhecidos os primeiros 39 livros da Bíblia deveria nos alertar para a necessidade de cuidado que precisamos ter para interpretá-los. O fato de que foram escritos durante o período em que a “antiga” aliança (testamento) estava em vigor sugere que nós, que vivemos sob as condições da “nova” aliança, vamos vê-los em uma “nova” luz. Admitindo que se espere uma atitude de fé, como também atenção especial ao sentido gramatical, à forma literária e ao pano de fundo histórico, será que há outras exigências para uma compreensão cristã do AT?
E óbvio que o NT tem muita coisa a dizer que vai influenciar diretamente essa questão. Por exemplo, ninguém que assimilou o ensino do NT em geral e Gálatas e Hebreus em particular está propenso a seguir as instruções exatas dadas no AT acerca da prática da circuncisão. Como então devemos entender essas instruções? Será que elas contêm algum significado para o cristão, ou agora são supérfluas? E o que dizer do restante do AT?
Alguns — como Marcião no século II — rejeitaram completamente o AT e geralmente foram denunciados pela igreja como hereges. Outros destacam a paridade dos dois Testamentos dentro da unidade da revelação divina, com base no argumento de que a nova aliança não é nada mais que uma modificação da antiga e que as duas vieram do mesmo Deus (v., e.g., A. A. van Ruler, The Christian Church and the Old Testament, Eerdmans, 1971). Muitos têm concordado em que há um elemento de continuidade, mas têm visto isso em termos de o AT ser uma preparação histórica e teológica para o NT. Destes, alguns (e.g., O. Cullmann e A. Richardson) destacam a tese de que o AT registra os atos poderosos de Deus da “história da salvação”. Talvez haja uma ênfase crescente no relacionamento entre os testamentos em termos de promessa e cumprimento (v. J. Bright, The Authority of the Old Testament, SCM, 1967). A. T. Hanson defende que o fator de ligação é a revelação do caráter de Deus (Studies in Paul's Technique and Theology, SPCK, 1974).
E algo muito comum entre os intérpretes do AT olhar além do significado literal do texto com o intuito de encontrar uma interpretação que possa ser harmonizada com a revelação do NT. A história da interpretação do AT até os tempos modernos consiste, em grande parte, na discussão da legitimidade desse método “alegórico” de interpretação e nas tentativas de descobrir princípios orientadores e controladores do seu uso.
Este artigo vai tomar a forma de uma breve análise histórica, começando com a maneira em que os autores do NT usaram o AT e continuando com a história da interpretação do AT na igreja primitiva, no período medieval, na Reforma e em tempos modernos. A conclusão vai sugerir algumas formas de abordagem da tarefa de interpretar o AT hoje.
1. A INTERPRETAÇÃO DO AT NO NT
Um estudo mais amplo do uso que o NT faz do AT pode ser encontrado em A New Testament Commentary, p. 1:110-8. Mas alguma coisa, mesmo que breve, precisa ser dita aqui acerca dos métodos exegéticos usados pelos autores do NT.
O nosso AT era a Bíblia da igreja primitiva (Lc
Os métodos usados pelos autores do NT para interpretar passagens do AT nos fornecem um valioso ponto de partida mas não o ponto de chegada da nossa busca de métodos exegéticos de lidar com o AT. Pois deve ser dito logo que os autores do NT ocupavam uma posição singular que os distinguia tanto dos exegetas judeus contemporâneos como dos exegetas cristãos subseqüentes. Como os autores do AT, eles eram profetas, e estavam profundamente conscientes de estar no meio da “suprema manifestação na história do julgamento e da misericórdia de Deus” (C. K. Barrett, in: The Cambridge History of the Bible, CHB I. 403). Isso lhes deu não somente um tipo de afinidade com os autores do AT, mas também uma comunhão de tema. Ao contrário de exegetas judeus, que estavam em geral conscientes da ausência de qualquer voz profética, e diferentemente de exegetas cristãos posteriores aos quais o Espírito Santo foi dado para iluminar as páginas sagradas no sentido de 1Co
Para entender esses métodos, será útil destacar algumas de suas pressuposições básicas e indicar como elas influenciaram a exegese deles. O conceito de solidariedade coletiva, que transcende a distinção entre o indivíduo e o grupo ao qual ele pertence, possibilitava aos autores do AT transferir — sem nenhum sentimento de incongruência — o que foi dito no AT acerca do povo de Israel e aplicar isso a um membro individual daquele povo — o Messias. Há também a pressuposição da correspondência na história. Isso vai além de meras analogias e ilustrações, e significa que, embutidos na história por intenção divina, ocorreram eventos que, em alguns aspectos, reproduzem eventos anteriores e, portanto, podem ser interpretados “tipologicamente”. Assim, por exemplo, o êxodo do tempo de Moisés foi seguido de mais um “êxodo” (o retorno do cativeiro) e mais outro (a salvação pela redenção do pecado). Nessa mesma linha, Cristo foi considerado mais um “Cordeiro pascal” (1Co
Os métodos exegéticos usados de fato pelos autores do NT incluem a nada complicada exegese literal. Assim como Jesus enfrentou o diabo usando Dt
Na sua exegese do AT, os autores do NT empregaram uma série de métodos exegéticos judaicos do seu tempo, assim como Jesus fizera. Assim como os rabinos, eles parecem não considerar necessário sempre citar o texto literalmente. E verdade que às vezes eles usam a sua própria versão grega do original hebraico, ou talvez sigam o texto de uma versão existente diferente da Septuaginta, mas a probabilidade maior é que a razão da sua falta de preocupação com o que nós chamaríamos de precisão surgiu do fato de que a correspondência verbal exata com o texto citado não era considerada tão importante quanto é hoje. (Até mesmo hoje, os eruditos mais minuciosos e cuidadosos ocasionalmente lançam mão de paráfrases.)
De tempos em tempos, como em Rm
12) e o argumento do “menor” para o “maior” (como em Rm
Os autores do NT obviamente interpretavam muitas passagens do AT como simples profecia. A interpretação tipológica, que observava a recorrência de padrões na história sagrada, pode ser encontrada amplamente no NT (e.g., 1Co
‘Segundo o Dicionário Houaiss, um “argumento em que se usa as próprias palavras do adversário para contestá-lo” [N. do T].
AT de forma alegórica é muito debatida. Se, e em que medida, o NT traz à tona significados ocultos do AT é incerto. Primeira aos Coríntios
O princípio regulador que controlava o uso que faziam do AT era indubitavelmente a conformidade com o que eles conheciam da vida e dos ensinos de Jesus Cristo, especialmente a atitude dele em relação ao AT (Mt
Antes de deixar para trás esta parte do tópico, podemos perguntar ainda quais eram os propósitos específicos pelos quais os autores do NT recorriam ao AT. Em primeiro lugar — este era o propósito mais importante —, eles estavam preocupados em mostrar que o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus tinham sido preditos pelo AT. Isso é especialmente claro em Mt (conforme 1Co
Uma coisa que os autores do NT não fizeram de forma significativa foi anteceder alguns exegetas cristãos posteriores ao importar idéias completamente estranhas à sua compreensão do AT. Embora tenha sido alegado por alguns eruditos que, por exemplo, os autores de João e Hebreus tomaram emprestadas muitas de suas percepções do pensamento platônico, isso está longe de ser provado. C. K. Barrett sem dúvida está certo quando diz: “Os intérpretes do NT em geral agem dentro do mesmo quadro geral de pensamento do próprio AT” (CHB 1.401).
2. A INTERPRETAÇÃO DO AT NA IGREJA PRIMITIVA
Em termos gerais, seria correto dizer que os primeiros séculos da história cristã testemunharam o uso crescente dos métodos tipológico e alegórico de interpretação do AT. Isso resultou, em primeiro lugar, no ponto de vista de que referências a Cristo e à igreja podiam ser encontradas em todas as partes do AT. Agostinho seria o que iria desenvolver as implicações disso mais tarde, mas já no final do século I Clemente de Roma encontrou bispos e diáconos em Is
Orígenes raramente usou o significado moral das Escrituras nos seus comentários. O sentido moral é constituído de ensinos éticos ou psicológicos que não são especificamente cristãos na sua natureza e geralmente são absorvidos pelo terceiro nível de significado, o espiritual. O próprio Orígenes descreveu isso como uma tentativa de descobrir o cumprimento de tipos e das sombras das coisas celestiais que estavam por vir e a defendeu com base no fato de que Paulo usou esse método (G1
4) e o defendeu com igual intensidade (1Co
É difícil resistir à conclusão de que a interpretação que Orígenes fazia do AT era arbitrária, até mesmo arrogante, apesar de sua alegada dependência da direção do Espírito Santo. Uma influência delimitadora de sua inventividade espiritual era sua lealdade à regra de fé da igreja — a compreensão do que havia sido crido tradicionalmente pela igreja, “um tipo de essência do que a igreja havia considerado tradicionalmente o significado principal da revelação bíblica” (CHB
11.176). Ocasionalmente, no entanto, Oríge-nes estava disposto a ignorar e até a contradizer isso. Podemos concluir então, com R. P. C. Hanson, que “o que vemos em Orígenes é uma interação entre a Bíblia, a interpretação que a igreja faz da Bíblia e as percepções do próprio erudito individual” (op. cit., p. 374).
Apesar da popularidade do método de interpretação alegórica do AT, alguns autores do início da igreja cristã no Ocidente, como Tertuliano e Cipriano, fizeram pouco uso dele; mas uma escola de pensamento surgiu no Oriente — a escola de Antioquia — que era muito cautelosa com o método. Teodoro, bispo de Mopsuéstia (392—428), é um representante de Antioquia. Ele rejeitou frontalmente toda interpretação alegórica que incluísse a negação do significado literal de um texto. Insistia que a alegorização aceitável, como a usada por Paulo em G1 4, precisava incluir a comparação entre eventos reais do passado com outros no presente. Esse tipo de interpretação alegórica — denominada mais apropriadamente de tipológica — é aceitável somente se o tipo mostra uma semelhança real em sua natureza e efeitos com aquilo que significa. Assim, por exemplo, o sangue do cordeiro pascal é um tipo do sangue da nova aliança. Outra salvaguarda que Teodoro usava contra a alegorização fantasiosa era seu princípio segundo o qual o exegeta tem liberdade de ir além do uso que o NT faz do AT somente se o texto do AT expressa o seu significado imediato de forma “hiperbólica” (i.e., a fraseologia vai além do que a referência imediata parece exigir).
Se Teodoro coloca restrições tão severas ao uso do método alegórico, como então ele relaciona o AT com o NT? Principalmente ao considerar o AT um desenvolvimento histórico que se desenrola como pano de fundo para a nova intervenção de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Teodoro destacava a diferença entre o novo e o velho às vezes ao extremo. Sua ênfase no desenvolvimento histórico impedia-o de encontrar um lugar satisfatório no cânon da Escritura para grande parte da literatura sapiencial. Ao se negar a alegorizá-la, ele era incapaz de ver como ela contribuía para a realização do propósito divino na história. E ele não é totalmente inocente de importar e incorporar no seu pensamento idéias extraídas da cultura grega. (Por exemplo, ele considera o homem o “vínculo” do cosmo, combinando em si mesmo os dois domínios da criação visível e invisível — uma noção grega, e não bíblica.) Não obstante, Teodoro fez um protesto importante contra os excessos da alegorização alexandrina. O seu colega de Antioquia, João Crisóstomo, demonstrou a importância disso para a pregação, e os seus comentários têm importância duradoura maior do que os de Orígenes.
Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia do século IV, fez vasto uso do método alegórico nos seus primeiros comentários e nunca deixou de considerá-lo legítimo e às vezes necessário. Como Orígenes, ele também pensava que interpretar algumas passagens do AT de maneira literal seria absurdo ou destrutivo. Seria impossível Deus ter ordenado a Oséias, por exemplo, fazer algo que não é honrável! Jerônimo reconheceu tipos no AT, como também profecias simples e diretas, mas tornou-se prudente em relação ao método alegórico, e nos seus comentários posteriores fez uso crescente da abordagem literal e histórica.
Agostinho, também, tornou-se mais precavido no seu uso da alegoria à medida que o tempo passou e, em vez do uso livre desse artifício nos seus primeiros comentários, tornou-se mais cuidadoso, embora tenha continuado a usar a interpretação alegórica, encontrando significados secretos nos títulos dos salmos, nos nomes de pessoas e lugares e, acima de tudo, nos números. Agostinho, assim como Orígenes, acreditava que aspectos obscuros achavam-se no texto por intenção divina para estimular o exercício do pensamento. Da mesma maneira, ele considerava a regra de fé da igreja um “controle”. Agostinho insistia que a Bíblia deveria ser lida e compreendida no contexto da comunidade cristã. Passagens difíceis podem ser esclarecidas por passagens inteligíveis de outras partes da Escritura — aspecto que Tertuliano já havia sugerido muito tempo antes. No esforço de oferecer orientações práticas para a distinção entre textos literais e figurados, Agostinho insistia que qualquer coisa que parece atribuir injustiça a Deus ou aos fiéis, e qualquer coisa que não parece conduzir à boa moral e à verdadeira fé, precisa ser interpretado de forma alegórica. O critério definitivo é o do amor. Se o sentido literal leva a estabelecer o reino do amor, então é o correto; se não, o texto é figurado. Nessa mesma linha, ele afirma na sua importante obra De Doctrina Christiana: “Precisamos meditar no que lemos até que se encontre uma interpretação que estabeleça o reino da caridade” (citado em B. Smalley, The Study of the Bible in the Middle Ages, ed. 1964, p. 23).
3. A INTERPRETAÇÃO DO ANTIGO TESTAMENTO NA 1DADE MÉDIA
O método predominante de interpretação do AT durante o período entre o colapso do mundo antigo e a Reforma foi o alegórico. Durante os primeiros séculos desse longo período, o estudo do AT foi realizado em grande parte em mosteiros, onde a forma de vida favorecia a abordagem contemplativa do texto, e esta fazia a interpretação pender para o método alegórico. Os escritos da escola de Antioquia aparentemente não estavam disponíveis no Ocidente, e foi somente no século XII que uma escola de pensamento — a vitoriana — começou a destacar a importância do significado literal do AT. Alberto, o Grande, e o seu pupilo que se tornou mais famoso, Tomás de Aquino, profundamente influenciados pelo recém-descoberto pensamento de Aristóteles, contribuíram com sua grande influência contra a alegorização excessiva, mas essa abordagem estava tão enraizada que parece ter durado até o período da Reforma.
O monge João Cassiano, que escreveu no século V, distinguiu quatro níveis de significado no AT: o literal, ou histórico, e os três sentidos “espirituais” — o alegórico, o ana-gógico e o tropológico. Assim, por exemplo, Jerusalém deve ser entendida como uma cidade para os judeus de acordo com o seu sentido literal. A alegoria fornece o significado doutrinário, a igreja de Deus; a anagogia extrai o significado celestial, transmitido em G1 4.26; a tropologia, que se ocupa com o significado moral, vê Jerusalém como uma tipificação da alma do homem.
As obras de Gregório Magno, no final do século VI, especialmente o seu comentário de Jó, iriam exercer influência tremenda sobre a atitude dos estudiosos bíblicos medievais em relação ao AT. Gregório deu pouca atenção ao significado literal, mas dedicou grande atenção aos vários sentidos espirituais, especialmente o tropológico. Usando uma representação gráfica, ele descreveu as funções dos diversos significados da Escritura com a seguinte metáfora: “Primeiro lançamos o alicerce histórico; depois, por meio da busca do significado típico (de “tipo”), edificamos uma estrutura da mente para que se torne uma fortaleza da fé; e então, como último passo, por meio da instrução moral e da graça, nós, por assim dizer, revestimos o edifício com uma camada colorida” (citado em B. Smalley, op. cit., p. 33). Gregório fundamentava sua interpretação tropológica, ou moral, em “testemunhos”. A interpretação que ele dava a um texto específico sugeria outro texto que continha a palavra que possuía o mesmo significado espiritual que o primeiro. Isso conduzia a outro texto, e mais outro, até que finalmente Gregório formava uma corrente de passagens paralelas conectadas de forma um tanto artificial e esquisita. Gregório trouxe todo o seu conhecimento para a tarefa da exegese bíblica e usou a exegese como base para a sua pregação e ensino.
Com isso, ele também influenciou profundamente a prática medieval.
O respeitável Beda seguiu fielmente essa tradição. No prólogo do seu comentário de Samuel, ele destacou duas razões — uma apologética e outra pastoral — para o uso do método alegórico: “Se tentamos seguir apenas a letra da Escritura, da forma judaica, o que encontraremos para corrigir os nossos pecados, para nos consolar e instruir, quando abrimos o livro do abençoado Samuel e lemos que Elcana tinha duas esposas?” (citado em B. Smalley, op. cit., p. 36).
O método alegórico manteve-se como o padrão, embora não sem variações. Angelom de Luxeuil chegou a usar sete sentidos na sua interpretação do AT. Mas, de tempos em tempos, houve eruditos que destacavam a importância do significado literal e, implícita ou explicitamente, expressavam o seu desagrado pela excessiva ingenuidade alegórica. A senhorita Smalley chamou a atenção para os vitorianos nesse contexto, uma sucessão de estudiosos bíblicos associados ao mosteiro de São Victor em Paris, fundado em 1110 (op. cit., p. 83-195).
Hugo de São Victor destacou a importância da compreensão correta do sentido literal do AT e preparou auxílios históricos e geográficos. E interessante notar que ele insistia que, enquanto o estudo literal deveria iniciar com o AT e então prosseguir para o NT, o estudo alegórico deveria ser feito no sentido inverso. Ele insistia que a interpretação alegórica deveria estar fundamentada no conhecimento do estudo sistemático e doutrinário. Hugo aumentou a importância do significado literal e histórico ao revesti-lo com o significado espiritual como o que conduz ao conhecimento, em distinção do terceiro significado, o tropológico, que conduz à prática da virtude. André de São Victor não fez segredo da sua determinação em expor o significado literal do AT, chegando quase a excluir os outros. Sua obra acerca dos profetas propôs-se intencionalmente a desenvolver a exposição literal feita por Jerônimo. Na sua busca por material para esclarecer o AT, ele beneficiou-se da riqueza do conhecimento judaico, do qual dependeu grandemente.
Apesar da influência extraordinariamente grande dos escritos de André, a abordagem alegórica do AT continuava a exercer mais influência do que a literal sobre a mente dos eruditos medievais. Tomás de Aquino, no entanto, fez várias distinções vitais que contribuíram para ressuscitar o sentido literal. Comentaristas do AT havia muito tinham atacado de forma um tanto inconclusiva o problema de se metáforas e outras formas de linguagem figurada forneciam algum tipo de significado “literal”. (Teodoro de Mopsuéstia estava entre os que diziam que sim.) Tomás de Aquino definiu de forma ousada que o significado literal era a intenção integral do autor inspirado, quer expressa em linguagem direta e simples, quer de maneira metafórica. Apoiando-se na distinção agostiniana entre palavras e coisas, e ajustando isso ao quadro aristotélico que incorporou a seu pensamento, Tomás de Aquino explicou o sentido alegórico afirmando que, enquanto os autores humanos expressam o seu significado por meio de palavras, Deus também pode expressar significado por meio de “coisas”, i.e., eventos históricos. Portanto, para Tomás de Aquino o sentido alegórico é o significado que Deus colocou na história sagrada. Em outras palavras, o significado literal representa o que estava na mente do autor sagrado; o significado alegórico revela conteúdo adicional que estava na mente de Deus quando inspirou a passagem específica das Escrituras. A importância que Tomás de Aquino atribuía ao significado literal da Escritura pode ser medida na sua afirmação de que, embora a interpretação espiritual seja para a edificação dos fiéis, não se pode deduzir nenhum argumento dela: somente a interpretação literal deve ser usada para esse propósito.
Pelo menos um dos últimos autores medievais, Nicolau de Lira, deu grande valor ao significado literal do AT, queixando-se de que “o sentido literal está quase sufocado no meio de tantas exposições místicas” (citado em
CHB III.79), mas, como B. Smalley nos lembrou, sabemos tão pouco acerca da exegese da época final da Idade Média que as generalizações são perigosas. Não obstante, o coro de denúncias formado por autores humanistas e da Reforma do final do século XV e início do século XVI contra os excessos dos alego-ristas sugere que o significado literal do AT corria o risco real de ficar soterrado sob uma montanha crescente de interpretações esquisitas, umas mais, outras menos. Geiler de Kaisersberg protestou contra os métodos exegéticos que transformavam a Bíblia em um bico de cera.
4. A INTERPRETAÇÃO DO ANTIGO TESTAMENTO NO PERÍODO DA REFORMA
O mais notável entre os eruditos “humanistas” do período da Reforma foi Erasmo. Embora o seu interesse de estudo fosse o NT, ele estabeleceu regras de interpretação que influenciariam o estudo do AT. Erasmo insistiu que o sentido literal e gramatical precisa ser obtido pelo uso das melhores técnicas lingüísticas disponíveis, e que o sentido espiritual precisa ser exposto em conexão próxima com esse sentido gramatical.
Lutero foi ainda mais longe. Ele rejeitou completamente a interpretação quádrupla das Escrituras que distinguia as interpretações literal, alegórica, tropológica e anagógica (sendo esta última o que o jargão do século XX chamaria “escatológica”). Ele reconheceu que ocasionalmente Paulo havia usado a alegoria, e estava disposto a lançar mão dela no púlpito, mas se opunha a qualquer procedimento que minasse o sentido literal do AT, visto que enxergava nele a história de Cristo e da fé. Nisso ele estava sem dúvida reagindo contra aqueles alegoristas que esvaziaram a história de Israel de seu significado básico. A tipologia da escola de Antioquia não podia ser considerada mais do que um esquema sistemático, visto que ela também introduzira a confusão do significado duplo e negava o que para Lutero era um princípio fundamental: a presença histórica de Cristo no AT. Mas, assim como Lutero estava disposto a alego-rizar ocasionalmente, também não era doutrinário na sua atitude em relação à tipologia. Como diz R. H. Bainton, para Lutero “Abel não era Cristo, nem Isaque, nem José, nem Jonas, e as experiências deles não eram idênticas à dele [...]. Mas padrões semelhantes eram distinguíveis” (CHB III.26). “A vantagem”, para citar Bainton mais uma vez, “estava principalmente na renúncia de uma esquematização muito insípida, com a conse-qüente liberdade de vagar e voar e se perder em interpretações plásticas, fluidas e profundas” (ibid., p. 25). Quando ele usava alegoria ou tipologia, “era para ilustração; não era um princípio” (B. Hall, in: CHB III. 76). Visto que o Espírito é um, Lutero insistia, não pode haver uma multiplicidade de interpretações da Escritura. Seguindo Lefèvre d’Etaples, ele equiparou o sentido literal ao profético e com isso foi capaz de ler o AT como um livro cristão, encontrando a teologia de Paulo nos Salmos e traduzindo “vida” por “vida eterna” e o “libertador de Israel”por “Salvador”, sem introduzir um outro sentido como um princípio formal. Como destacou Bornkamm, Lutero conseguiu fazer isso porque ele dirigiu a sua atenção exegética a textos do AT em que era fácil encontrar Cristo (H. Bornkamm, Luther and the Old Testament, Fortre.ss Press, Philadelphia, 1969, cap. 6; conforme E. G. Kraeling, The Old Testament since the Reformation, Lutterworth, 1955, p. 16ss).
Embora Lutero visse Cristo presente já no AT (mesmo que de forma velada, pois na sua forma vívida de se expressar, disse que o AT eram os panos em que Cristo estava envolto, como no caso de bebês que são enrolados em faixas para limitar os movimentos), em outros aspectos Lutero via uma dicotomia forte entre os dois testamentos. Lei e Evangelho estavam distantes no pensamento de Lutero, assim como um pólo está distante do outro, mesmo que o Antigo Testamento tenha o propósito de servir ao Novo. Aqui, como sempre, o pensamento de Lutero era dialético e dinâmico, em contraste forte com os luteranos escolásticos posteriores.
O que Lutero disse acerca do sentido literal das Escrituras, Calvino sublinhou e enunciou de forma fria e racional. Calvino propôs-se a identificar o significado simples e sensato de uma passagem e estabelecer o que as palavras significavam no seu contexto. “Ele buscou com mais intensidade do que os homens da sua época interpretar os escritos do AT de acordo com as circunstâncias e os propósitos dos dias em que foram escritos, mesmo que sentisse a atração gravitacional da necessidade da analogia da fé” (B. Hall, in: CHB III.88). Ele confrontou a alegoria e foi econômico no uso da tipologia. Assim como Lutero, Zuínglio e outros dos principais reformadores, ele insistiu que o que hoje seria chamado de significado “histórico-gramatical” é de importância fundamental para a correta compreensão do texto. Embora os artifícios técnicos que tinha à sua disposição para a tarefa da exegese fossem esplêndidos — e ele não era totalmente imune ao perigo de deixar influenciar o seu julgamento espiritual por eles —, ele defendeu a auto-suficiência das Escrituras com base no poder autoverificador do Espírito Santo. Repetindo, Calvino está unido com outros reformadores na convicção de que o Espírito Santo é indispensável para a correta compreensão das Escrituras, embora ele articule esse ponto com mais veemência.
A perspectiva de Calvino acerca da relação entre os Testamentos diferia um pouco da de Lutero. Por exemplo, enquanto Lutero destacava a função negativa da Lei, Calvino sublinhava o seu papel positivo. Visto que Calvino minimizava a diferença entre o Antigo e o Novo Testamentos, era mais fácil para ele interpretar o AT sem recorrer à alegoria ou à tipologia do que para Lutero.
Precisamos dizer algo, mesmo que breve, acerca da interpretação do AT por parte dos anabatistas. Poucas generalizações podem ser arriscadas acerca dos anabatistas, visto que não constituíam um grupo homogêneo. Com relação à interpretação do AT, o interesse é voltado principalmente para aqueles anabatistas que foram apelidados de “espiritualistas”.
Eles faziam distinção entre a letra e o espírito, não na forma em que os alegoristas faziam, mas em termos de uma distinção entre o que chamavam de palavra exterior — a Bíblia — e palavra interior, que Deus revelava diretamente aos homens. As Escrituras para eles eram, na melhor das hipóteses, uma testemunha exterior e um registro da revelação passada. Alguns deles chamavam atenção para as aparentes inconsistências e contradições entre os dois Testamentos, ao passo que tendiam a interpretar o NT com um liberalismo extremo transformado em espiritua-lização como o meio de extrair significado do AT. Em certo sentido, isso era uma forma extrema de tentar reagir contra as controvérsias da época. Um dos expoentes deles, Sebastian Franck, declarou: “Eu não quero ser um papista; não quero ser um luterano; não quero ser um anabatista”.
5. A INTERPRETAÇÃO DO ANTIGO TESTAMENTO DESDE A REFORMA
Enquanto os reformadores defenderam o uso das faculdades críticas na interpretação do AT, pleitearam a submissão à orientação do Espírito Santo. E verdade que isso não conduziu a uma exegese concordante, mas serviu como proteção contra atitudes excessivamente seguras e radicais. Na se-qüência, a interpretação protestante do AT tornou-se estereotipada, se não fossilizada. Por exemplo, Flácio Ilírico colocou a interpretação luterana em uma camisa de força com a sua influente obra Clavis Scripture Sanctae (1562). Mas o século XYI testemunhou o surgimento da erudição filológica e histórica de um novo tipo. O desenvolvimento ocorreu tanto na crítica textual quanto na alta crítica que prenunciou o movimento crítico dos últimos dois séculos. A teologia federal de J. Cocceius modificou drasticamente o ponto de vista reformado da identidade virtual entre os testamentos e conduziu ao uso crescente da interpretação tipológica. Acima de tudo, o pensamento secular, independente do controle eclesiástico, começou a ser aplicado à exegese bíblica. A filosofia de Descartes servia de fundamento para uma confiança quase ilimitada na razão que, por sua vez, levou a ataques críticos contra a veracidade do AT.
Na Inglaterra, os deístas do século XVIII chamaram atenção para aparentes incoerências, contradições, absurdos intelectuais e ambigüidades morais no AT e questionaram o seu status de revelação divina. Defensores ortodoxos da fé contra o deísmo “não somente compartilhavam suas pressuposições, mas em grande medida acompanharam os seus expoentes” (W. Neil, in: CHB III.243). Assim, o bispo Butler admitiu a presença de dificuldades no AT e explicou-as por meio da analogia com as falhas da natureza (que era aceita pelos deístas como obra de Deus). No continente europeu, especialmente na Alemanha, o deísmo teve um impacto considerável, conduzindo ao menosprezo do AT. Lessing comparou o AT a um livro do ensino fundamental recomendado e determinado para os judeus, mas que já não era leitura obrigatória. Kant, em Religion in the Boundaries of Pure Reason [A religião nos limites da razão pura] (1
794) negou que a fé judaica tivesse alguma ligação vital com o cristianismo. A tentativa por parte dos primeiros autores cristãos de retratar o cristianismo como a continuação da antiga ordem fora ditada por preocupações apologéticas.
Este não é o lugar para tentar analisar o desenvolvimento das teorias críticas do AT durante os últimos dois séculos. Tudo que podemos tentar aqui é destacar alguns dos principais elementos de pano de fundo no pensamento de eruditos do AT, ilustrar os resultados por meio da referência a algumas personagens-chave, ressaltar a existência de oponentes à tendência predominante e fazer algumas observações acerca da situação presente.
Não pode haver dúvida de que existe algo fundamental na abordagem moderna ao AT (como também ao NT) que é a confiança geral na aplicação autônoma da razão humana à tarefa de compreensão do texto. Desimpedido de tradições eclesiásticas e fórmulas doutrinárias, o erudito usa idéias e pressuposições correntes para conduzi-lo a uma interpretação satisfatória. Entre essas pressuposições, estão as teorias da crítica literária. Por exemplo, em 1795 Friedrich August Wolf, em seu Prolegomena to Homer, expressa seu ponto de vista de que os poemas homéricos se originaram em breves canções ou baladas, posteriormente reunidas para formar os longos poemas como os conhecemos hoje. Essa teoria foi aplicada por estudiosos do AT aos documentos da Bíblia. Mais influente ainda foi o desenvolvimento da erudição histórica. A idéia da história como um processo dinâmico desde inícios primitivos até estágios mais avançados veio a exercer grande influência sobre os estudos do AT. Hegel conferiu uma reputação inédita à história dentro da filosofia e contribuiu com uma noção que influenciaria alguns eruditos do AT (e, o que foi mais importante, alguns do NT), que foi o princípio dialético segundo o qual uma tese faz surgir sua antítese, e do choque inevitável entre as duas surge a síntese, que combina elementos da tese e da antítese. A idéia da história como desenvolvimento foi grandemente fortalecida pela idéia evolucionária que, começando como hipótese científica, veio a ser aplicada em muitos outros campos, incluindo o da história. A ciência moderna contribuiu para a formação de um clima de opiniões que considerava difícil — se não impossível — crer no relato bíblico da Criação, e diminuiu — se não negou — o aspecto miraculoso e o sobrenatural. A crença no reino universal das leis da natureza fez que fosse difícil encontrar lugar para qualquer coisa que aparentemente fosse contrária a elas. No entanto, o predomínio de filosofias imanen-tistas em grande parte desse período em consideração fez que a negação do sobrenatural fosse algo mais real do que aparente! Ainda era possível falar do sobrenatural, mas isso era buscado dentro do natural.
Mais um elemento que contribuiu para a decomposição de pontos de vista tradicionais acerca do AT (como também do NT) foi o surgimento do subjetivismo em conjugação com o racionalismo. F. E. D. Schleiermacher recebeu o crédito por unir o racionalismo com o subjetivismo da Reforma. Sua obra Christian Faith (1
821) teve enorme influência e, de acordo com A. R. Vidler, “ suas obras como um todo vieram a ter a mesma relação com a teologia protestante liberal subseqüen-te que a Summa de São Tomás tem com o tomismo ou as Instituías de Calvino têm com a teologia reformada” (Christianity in an Age of Revolution, p. 26). Kant já havia negado que a razão pudesse conduzir ao conhecimento de algo mais profundo do que o fenômeno (i.e., aparência exterior) e tinha afirmado que a certeza teológica ou metafísica somente pode ser obtida por meio do sentido de obrigação moral incondicional do homem. Agora, Schleiermacher fundamentava seu conceito de religião no sentimento de “absoluta dependência de Deus”. Como resultado, a revelação era concebida não como comunicação de conhecimento, mas como o “surgimento de uma nova experiência religiosa” (E. G. Kraeling, op. cit., p. 59).
A interpretação do AT em tempos recentes também foi afetada pelo desenvolvimento de novas áreas de estudo científico. Já é fato bem conhecido que a arqueologia fornece uma boa medida de evidências que confirmam a veracidade da história do AT. No entanto, isso nem sempre é assim. Além disso, o primeiro efeito do desenvolvimento da arqueologia no século XIX foi o de reduzir o nível da história de Israel ao da história de qualquer povo do Oriente Médio dos tempos antigos. Isso, combinado com os estudos de antropólogos, sociólogos e psicólogos, facilitou a assimilação do estudo do AT ao de qualquer outro documento que sobreviveu do mundo antigo e a suposição implícita de que nenhuma característica singular deveria ser esperada aí, a não ser o que surgiu do gênio religioso dos hebreus.
O efeito geral da abordagem ao AT característica da erudição liberal protestante fundamentada nessas pressuposições foi bem resumida por T. W. Manson como a colocação entre Deus e o homem de uma placa de vidro à prova de som (v. C. W. Dugmore, ed., The Interpretation of the Bible, cap. V).
Julius Wellhausen (1844—1
918) pode ser considerado o criador do quadro de referência no qual a maioria dos estudiosos do AT trabalham nos tempos modernos. A sua teoria já havia sido prevista pelo alsaciano Eduard Reuss, o alemão K. H. Graf e o holandês Abraham Kuenen, mas Wellhausen defendeu a causa com tanta veemência e desenvolveu as suas implicações para o estudo do AT de tal forma que ela é corretamente associada ao seu nome. Ao desenvolver teorias de crítica do Pentateuco enunciadas por outros, especialmente Eichhorn na sua obra de três volumes Introduction to the Old Testament (1780—1783), Wellhausen não somente estabeleceu uma teoria convincente da estrutura do Pentateuco, mas também chegou à conclusão de que os profetas eram os verdadeiros iniciadores do desenvolvimento religioso de Israel, que a legislação do AT como a temos hoje veio a existir mais tarde, e que os Salmos e a literatura sapiencial representam a realização completa e a coroação do gênio religioso de Israel.
Teorias como essa não ficaram incontestadas. Além da oposição daqueles que compartilhavam as mesmas pressuposições e da hostilidade de colegas de profissão (e.g., A. H. Sayce, professor de assiriologia em Oxford), defensores ferrenhos da abordagem tradicional ao AT levantaram a sua voz. Na Alemanha, E. W. Hengstenberg, professor em Berlim, 1828—1869, não somente escreveu livros eruditos, mas também fundou e editou um periódico eclesiástico muito influente. Em Erlangen, J. G. K. von Hofmann forneceu “depois de Calvino [...] os pontos de vista mais úteis para a defesa e utilização adequada do Antigo Testamento com base na perspectiva conservadora” (E. G. Kraeling, op. cit., p. 75). Na Inglaterra, o clérigo de alta posição E. B. Pusey, que estudara na Alemanha e que no início fora atraído aos novos pontos de vista, escreveu comentários conservadores dos livros proféticos. Numerosas respostas e contestações foram escritas a Wellhausen, umas mais eruditas, outras menos, por homens como James Robertson,
W. L. Baxter e, nos Estados Unidos, W. H. Green. James Orr respondeu com The Problem of the Old Testament (1906), e, num nível mais popular, sir Robert Anderson tentou neutralizar os efeitos das novas interpretações do AT com títulos como The Bible and Modern Criticism (1
902) e Daniel in the Critics’ Den (4. ed., 1922).
Em vão. A nova abordagem, quando surgiu, parecia ter vindo para ficar (embora os seus frutos muitas vezes se mostrassem perecíveis). Na Grã-Bretanha, o progresso foi lento no início. E interessante observar que em 1847 F. W. Newman, não mais um missionário associado a A. N. Groves mas um racionalista extremado, publicou sua History of the Hebrew Monarchy [História da monarquia hebraica] que afirmava encontrar lendas hebraicas primitivas no AT e as minimizava como produto da crendice primitiva. Dez anos depois, Samuel Davidson renunciou à sua cadeira no Lancashire Independent College como resultado do tumulto causado pela sua contribuição à 10? edição da obra de Home, Introduction to the Critical Study and Knowledge of Holy Scriptures [Introdução ao estudo crítico e ao conhecimento das Sagradas Escrituras], na qual ele negou a autoria mosaica do Penta-teuco. Essays and Reviews [Artigos e resenhas], publicado em 1860, foi uma obra de sete anglicanos, todos, com exceção de um, professores ou clérigos. Incluía os aspectos mais atualizados da crítica do AT e um artigo de Benjamin Jowett argumentando que os verdadeiros aspectos distintivos da Escritura apareceriam somente se ela fosse interpretada “como qualquer outro livro”. Pouco ou nada era novo, mas o livro deu a impressão de um tipo de manifesto público. Embora atraísse oposição intensa — conduzida por homens tão diferentes como E. B. Pusey e o lorde Shaftesbury —, uma comissão judicial estabeleceu o direito de que esses pontos de vista pudessem ser defendidos na 1greja da Inglaterra. A natureza radical extrema da apresentação de pontos de vista críticos do AT por homens como J. W. Colenso, Samuel Davidson e — na década de 70 do século
XIX — T. K. Cheyne atrasou a aceitação dos pontos de vista críticos por algum tempo. Mas, na década de 80 do século XIX,, S. R. Driver e T. K. Cheyne enunciaram idéias novas com alguma moderação e aparência de fé evangélica. Além disso, na Escócia, W. Robertson Smith, professor de hebraico e crítica do AT no Free Church College de Aberdeen, um homem que Vidler descreveu como “um evangélico sincero que aceitava as doutrinas calvinistas da Confissão de Westminster” (op. cit., p. 171), promoveu pontos de vista avançados acerca de questões do AT que conduziram a um processo bastante longo por heresia que serviu para tornar amplamente conhecidos esses pontos de vista e despertar simpatia por ele. (Mais tarde, Robertson Smith ainda faria uma contribuição importante aos estudos do AT por meio da sua aplicação de teorias antropológicas ao estudo da religião hebraica primitiva, como na sua obra Religion of the Semites, 1889.)
Lux Mundi (1889), um volume de ensaios escritos por homens do alto clero, tornou-se um marco. Até então, homens do alto clero como Pusey e Liddon estavam em concordância com os evangélicos na sua oposição aos novos pontos de vista do AT. Agora, Charles Gore, reitor do Pusey House, Oxford, no seu ensaio “O Espírito Santo e a inspiração” não estava somente preparado para aceitar a não-historicidade de Jonas e uma data tardia para Daniel, mas, mais importante do que isso, forneceu indicações de uma teoria da “kenosis” para explicar a aceitação aparente por parte de Jesus da historicidade de Jonas. De acordo com essa teoria, na Encarnação o Logos divino se “esvaziou” dos atributos metafísicos da divindade, enquanto retinha os atributos morais e espirituais.
As novas idéias acerca do AT — e a nova abordagem que lhe servia de fundamento — conquistaram aceitação crescente em todo o mundo. Na Europa, na América do Norte e nos campos missionários além-mar, a história era a mesma. Por conseqüência, os conceitos de inspiração e revelação tiveram de passar por alguns ajustes. Por exemplo, em 1891, as preleções Bampton acerca da Inspiração, de W. Sanday, concordaram em que os autores do AT foram inspirados e que essa experiência constituía a revelação, mas continuaram defendendo que as palavras com que haviam transmitido aquela revelação eram suas próprias.
A partir daí, as atividades de estudiosos do AT continuaram sem arrefecer. De maneira geral, a reconstrução “wellhausiana” ainda domina o território, embora tenha passado por muitas transformações — algumas drásticas — e pode-se dizer que sobrevive apenas por falta de uma alternativa abrangente e convincente — que não seja a tradicional! Entre os estudiosos do século XX, podemos fazer menção de Hermann Gunkel (1862—1932), que afastou a atenção das fontes escritas para a tradição oral e, em especial, para o desenvolvimento de sagas (narrativas épicas). Isso conduziu a novas formas de crítica literária, especialmente a crítica da tradição e da redação, que se ocupa com os processos editoriais de transformar a tradição oral em texto escrito, transmitindo e modificando-o.
6. CONCLUSÃO
Como realizar a importante tarefa de interpretar o AT? Certamente devemos começar da forma em que Jesus e os apóstolos começaram, reconhecendo que o AT é revelação de Deus. Visto que é — para nós — uma revelação escrita, em certo sentido somente podemos entendê-la se estivermos preparados para prestar atenção a palavras, gramática, sintaxe e os panos de fundo histórico e cultural dos autores. Esse é o método histórico-gramatical de interpretação em que insistiram os reformadores. O fato de que eruditos protestantes mais recentes têm distorcido esse método ao incorporar nele suas próprias pressuposições culturais não pode nos predispor contra ele. O primeiro propósito do exegeta deve ser dar ouvidos às palavras inspiradas dos autores das Escrituras. O fato de o exegeta viver numa cultura quase totalmente diferente certamente vai introduzir complicações no processo, mas precisamos nos esforçar para ouvir as Escrituras — tanto o AT quanto o NT — em seu ambiente e tom originais. Se ele é bem-sucedido em fazer isso, há de se surpreender com a amplitude em que ouvirá os autores falarem diretamente à sua situação, assim como Paulo e outros autores do NT descobriram a relevância imediata dos caminhos e da revelação de Deus no AT.
Nem sempre. O Antigo Testamento é “antigo”, e nós, que temos os benefícios do “novo” testamento, vamos ler cada um deles à luz do outro. Não que estejamos propensos a rejeitar totalmente, como um Marcião, ou, mais recentemente, o jovem Delitzsch, ou, em certa medida, Bultmann. Não foi sem razão que a igreja primitiva o manteve lado a lado com os escritos do NT. Tampouco, assim se espera, vamos circunscrever o nosso uso do AT buscando nele nada mais do que “Cristo no Antigo Testamento”. Não devemos pensar que o Salvador ressurreto expôs todo o AT no caminho para Emaús! A tentativa de encontrar menções a Cristo em todas as páginas do AT tem gerado muita ingenuidade, mas muitas vezes isso anda de mãos dadas com a noção de que o AT é um enigma cujo significado superficial é propriedade dos judeus e cujo significado codificado pertence à igreja cristã.
Isso não significa que Cristo não deve ser encontrado no AT. Ele de fato está lá. Ninguém que tenha lido o NT seriamente e lhe confira autoridade tem dúvidas acerca disso. Mas será que o fato de os autores do NT, usando métodos de exegese de sua época, foram inspirados para apontar caminhos em que Jesus Cristo foi prenunciado no AT nos autoriza a desenvolver a exegese deles? Uma resposta parcial a essa questão é fornecida pelo princípio segundo o qual nenhum uso desse tipo do AT pode ir além de oferecer ilustrações das verdades acerca de Cristo claramente reveladas no NT. Vários autores evangélicos incorreram em heresia em virtude do uso descontrolado do método alegórico de interpretação do AT. Outra proteção contra o abuso do AT é o uso relativamente rígido do método tipológico em lugar do método alegórico. Supondo que haja um padrão de ação de Deus com a humanidade, podemos esperar que características significativas se repitam de tempos em tempos. Mas, ao chamarmos atenção para elas, precisamos tomar cuidado para não esvaziar o texto do seu significado histórico básico.
No curso das recentes tentativas de manter unidos os dois testamentos, alguns estudiosos interpretam as Escrituras como um registro da “história da salvação” e contentam-se em considerá-las uma sucessão de etapas distintas na obra redentora de Deus. Outros ressaltam o tópico da promessa e cumprimento, não necessariamente vendo o AT como nada mais do que promessa nem o NT como exclusivamente cumprimento, mas vendo uma parte de cumprimento no AT, como também no NT — e uma parte de promessa no NT. E, obviamente, há as profecias diretas e claras que, assim afirma o NT, foram cumpridas em Cristo.
Aparentemente, o cerne da questão é que os dois testamentos estão ligados de muitas maneiras. Existem diferenças e até contrastes acentuados — dentro dos Testamentos e entre eles — mas, visto que a convicção dos cristãos é que os testamentos têm não somente autores humanos mas também um autor divino, há uma harmonia subjacente entre eles. Da mesma forma que o NT não pode ser completamente compreendido sem referência ao AT, o AT também não pode ser completamente compreendido (no sentido cristão) sem referência ao NT. O contexto mais amplo e supremo de qualquer passagem das Escrituras é a Bíblia toda. Entre os elos que ligam os testamentos, estão profecias messiânicas claras, correspondência tipológica óbvia e a afirmação e explanação de ensinos morais e espirituais na forma de admoestação, narrativa, poesia e outras semelhantes, contanto que isso não seja transcendido ou modificado à luz da revelação mais ampla de Deus no NT.
A tarefa do intérprete do AT não está terminada quando ele armazena a sua colheita.
Mudando a figura de linguagem, ele ainda tem a tarefa monumental de aplicar o seu ensino à vida no mundo dos seus dias. Assim como as línguas bíblicas têm de ser traduzidas para os diversos vernáculos do mundo contemporâneo se quiserem ser inteligíveis, também os ensinos morais e espirituais do AT (tanto quanto os do NT) têm de ser traduzidos para as realidades culturais contemporâneas. Assim como o beijo de paz nos tempos do NT é traduzido, em algumas culturas atuais, por um caloroso aperto de mãos, da mesma maneira a exigência de que os terraços fossem construídos com parapeitos para prevenir que pessoas caíssem (Dt
Não podemos esperar encontrar verdades espirituais profundas em todo lugar do AT (ou do NT). Foi essa expectativa, por exemplo, que levou Orígenes a exercer toda a sua habilidade alegórica a um ponto que serviu somente para transformar a Bíblia em um livro de enigmas e mistérios. Muitas características do AT que parecem enigmáticas para os ocidentais de hoje (e.g., as genealogias) foram importantes para os primeiros leitores e faziam parte do “pacote”. Talvez o excesso de atenção dada a palavras e frases particulares das Escrituras à custa da linha geral das passagens e livros seja responsável por esse desequilíbrio. Cada palavra pode ser muito importante. Mas, de qualquer maneira, algumas são mais importantes do que outras — e o mesmo é válido para passagens e até livros.
Em primeiro lugar, então, o AT deve ser interpretado dentro do seu próprio contexto, no esforço de definir o mais precisamente possível o que deveria ser entendido pelos primeiros leitores por meio dos diversos documentos quando eles surgiram. O passo seguinte, e o mais importante para o cristão, é interpretar o AT dentro do contexto de toda a Bíblia, para que o que “há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas” possa ser avaliado em relação ao que “nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho” (He 1:1,He 1:2). E, finalmente, devemos dar atenção séria ao “sentido pleno” que o texto acumulou ao longo dos séculos à medida que tem-se tornado vivo de forma cada vez mais relevante na experiência do povo de Deus.
BIBLIOGRAFIA
Anderson, G. W., ed. Tradition and Interpretation. Oxford, 1979.
Barr, J. OldandNewinlnterpretation. London, 1966. Bornkamm, H. Luther and the Old Testament. Philadelphia, 1969.
Bright, J. The Authority oftheOldTestament. London, 1967.
The Cambridge History of the Bible, 3 v., Cambridge, 1963-1970.
Clements, R. E. A Century of Old Testament Study. London, 1976.
Dugmore, C. W., ed. The Interpretation of the Bible. London, 1944.
Grant, R. M. TheLetterandthe Spirit. London, 1957.
Hahn, H. F. The Old Testament in Modem Research. London, 1956.
Hanson, R. P. C. Allegory and Event. London, 1959.
Hasel, G. F. Old Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate. Grand Rapids, 1972 [ Teologia do Antigo Testamento: questões fundamentais no debate atual, 2. ed., JUERP, 1992],
Kraeling, E. G. The Old Testament since the Reformation. London, 1955.
Longenecker, R. N. Biblical Exegesis in the Apostolic Period. Grand Rapids, 1975.
Smalley, B. The Study of the Bible in the Middle Ages. Oxford, 1952; ed. em brochura, University of Notre Dame Press, 1964.
Stolz, F. Interpreting the Old Testament. London, 1975.
Stuhlmacher, P. Historical Criticism and Theological Interpretation of.Scripture. T.I. London, 1979.
Thompson, R. J. Moses and the Law in a Century of Criticism since Graf. Leiden, 1970.
Westermann, C., ed. Essays on Old Testament Interpretation. London, 1963; edição americana, Essays on Old Testament Hermeneutics, Richmond, Va„ 1963.
INTRODUÇÃO AO PENTATEUCO
DAVID J. A. CLINES
Forma
Os cinco primeiros livros do AT, o Pentateuco, constituem basicamente uma narrativa que descreve o período desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Essa forma imediatamente chama a nossa atenção para a natureza desses livros. Embora contenham uma grande porção de leis, não são essencialmente livros legislativos; embora contenham genealogias e discursos (este aspecto está principalmente em Deuteronômio), não servem simplesmente como um registro do passado ou uma fala dirigida ao presente. Basicamente, esses livros contam uma história em que as ações de Deus com a humanidade, e mais especificamente com o seu povo Israel, são relatadas. E essa história não existe para entretenimento, nem para satisfazer a curiosidade acerca do passado, mas para instruir o povo de Deus sobre a natureza do seu Deus com o qual eles ainda mantêm um relacionamento.
Esses livros são chamados de Torá pelos judeus. Esse termo é tradicionalmente traduzido por “lei”, e tem prevalecido desde os tempos pré-cristãos o ponto de vista de que o Pentateuco é essencialmente isso. Visto que tem sido reconhecido universalmente, tanto por judeus como por cristãos, que o Pentateuco é a mais importante das três divisões do cânon hebraico (Torá, Profetas e Escritos), o AT como um todo às vezes é considerado lei. Assim, por exemplo, Lutero escreveu em seu Preface to the OT (1523): “Saibam então que o AT é um livro de leis, que ensinam o que os homens devem e não devem fazer, e dá, além disso, exemplos de como essas leis são obedecidas ou violadas; assim como o NT é um livro do evangelho, ou livro da graça”. Mas esse ponto de vista fundamenta-se numa compreensão errônea da “torá”; ela não significa primeiramente “lei”, mas “orientação” ou “instrução”. Assim, as histórias de Jacó e José são “torá” tanto quanto o são os mandamentos dados no Sinai, a narrativa da travessia do mar Vermelho (Ex 14) e o discurso de encorajamento de Moisés às tribos que estavam prestes a entrar na terra (Dt
Assim, a Torá não se ocupa primeiramente com a tarefa de dar “orientação” por meio de um conjunto amplo e abrangente de regras para a vida; nem por meio de um sistema teológico coerente; nem ao contar a história do passado com repetidas aplicações claras de lições morais para o presente. A sua orientação é múltipla, e em grande parte indireta, pois o leitor nunca pode esquecer que até mesmo a “orientação” mais diretiva está assentada no quadro geral da narrativa de Gênesis a Deuteronômio. Tudo está ligado a algum ponto do tempo e do espaço, não para tornar o seu ensino meramente local e temporário, mas para mostrar que ele proporciona “orientação”, e não “lei”.
Tema
A nossa primeira pista para o tema do Pentateuco vem da forma em que ele e seus diversos livros são concluídos. E extraordinário que eles não terminem em um ponto de descanso ou de satisfação, mas com um tom de expectativa e tensão. Assim, Deuteronômio, e com ele todo o Pentateuco, conclui com Israel prestes a entrar na terra prometida. No seu final, aponta para o futuro por meio do discurso de despedida de Moisés (31:2-6) e a apresentação de Js (31.7,8; 34.9), que iria conduzir Israel para Canaã. Ele não deixa o leitor com uma história completa, concluída pela morte do herói da obra, antes olha para o desenvolvimento da história que acaba de começar. Em todo o livro de Deuteronômio, e não somente no seu início, essa perspectiva futurista é evidente: suas duas frases mais repetidas são “entre e tome posse” (35 vezes) e “a terra que o Senhor seu Deus lhe está dando” (34 vezes).
Se nos voltarmos agora para o final de Gênesis, embora pareça, à luz do último versículo do livro (“Morreu José com a idade de cento e dez anos. E, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito”, 50.26), que chegamos a um ponto de repouso, no contexto do versículo precedente isso francamente não é o caso. Pois, antes da sua morte, José garantira a seus filhos: “Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui” (50.25). Assim, o caixão no Egito não é nada permanente, mas significa, paradoxalmente, direcionar a visão do leitor para o futuro.
O livro de Êxodo também conclui com uma frase aberta: “De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens” (40.38): Israel ainda está a caminho, ainda está na jornada. O êxodo (a “saída”) já foi concluído, mas ainda não houve o eisodos (a “entrada”).
Levítico e Números, embora aparentemente estáticos e imóveis com o seu peso acumulado de leis e prescrições para o culto, mesmo assim mantêm, por meio de suas conclusões, essa impressão de movimento. Assim, Levítico são “os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, no monte Sinai, para os israelitas” (27.34), enquanto Números traz o local ainda mais perto da terra prometida, pois é constituído de “mandamentos e [...] ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jerico” (36.13). Deuteronômio, embora assentado no mesmo local de Números, marca um progresso em relação a Números em virtude de seu aspecto mais direcionado para o futuro, como já observamos.
Assim, no Pentateuco lidamos com uma história que tem certa qualidade dinâmica e que, apesar de seu ritmo vagaroso e de suas freqüentes paradas, está constantemente olhando para o futuro. Qual é então o estímulo que inicia esse padrão de movimento?
O motivo principal da ação do Pentateuco não deve ser encontrado na “história primeva” (Gn 1—
11) com a qual abre a narrativa, pois aí a dinâmica das histórias é proporcionada pela iniciativa humana (pecaminosa) que é correspondida por atos ainda mais generosos do perdão divino. Gn
Mas no cap. 12, com a promessa a Abraão, a iniciativa passa totalmente para as mãos de Deus. A partir de agora, a história não vai ser de iniciativas humanas abençoadas ou julgadas por Deus, mas do cumprimento da promessa que o próprio Deus fez, apesar da incredulidade e do antagonismo humanos.
A promessa de Gn 12.1ss contém três elementos: uma posteridade (“Farei de você um grande povo”), um relacionamento (“e o abençoarei”) e uma terra (“a terra que eu lhe mostrarei”). Em outras passagens da narrativa de Abraão, a promessa é repetida, com ênfases diversas: em 13
A posteridade é claramente o tema de Gênesis. Para começar, todo o ciclo das narrativas de Abraão gira em torno desse tópico. Nessas narrativas, o tema aparece principalmente na forma de perguntas angustiantes. Primeira: Será que vai haver um filho? Segunda: O que será dele? Ele viverá para gerar uma posteridade (conforme Gn 22)? As outras histórias dos patriarcas continuam a se ocupar essencialmente com o tema da família e de sua preservação. Aqui está o significado da narrativa tríplice da “ancestral em perigo” (Gn 12; Gn 20) e, em certo sentido, no nascimento de Ismael (Gn 16). Apesar disso não se cumpriu totalmente-, quantas gerações ainda são necessárias para que o número dos descendentes de Israel seja como o pó da terra?
Os temas da terra e do relacionamento também aparecem em Gênesis com um papel menos importante: a terra que é dada para que Abraão a possua é de fato explorada e ocupada pelos patriarcas, mas continua como propriedade dos cananeus — com exceção de um túmulo (Gn
Nazaré
Megido
5 ’ ,"'H Siqué
■z> Nablu
N-tt* f~T* - : ?
~ v /
AbeC^JÇ
Sli .Uai
Hazor,
/Âsterote-Carnaim
GILEADE
f Sucote 'lí?..
líí .Dn
26) de Levítico, é exatamente essa questão do relacionamento entre Deus e Israel que é destacada na fórmula recorrente “Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo” (e.g., 19.2). A santidade aqui não consiste tanto em pureza ética, mas na sua distinção das nações da terra por ser propriedade de Javé. Acima de tudo, Levítico ocupa-se do relacionamento com Deus, como mostra a sua conclusão resumida: “São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, no monte Sinai, para os israelitas” (27.34).
No entanto, apesar dos cumprimentos da promessa de um relacionamento que devemos encontrar nesses livros, essa não é uma promessa que possa se cumprir totalmente em época alguma. Pois o que é prometido não é um contrato que pode ser assinado, selado e entregue, e então depositado e guardado nas caixas-fortes do passado, mas um relacionamento pessoal. “Relacionamento” é uma palavra dinâmica, pois o relacionamento não pode permanecer estático. Assim, no êxodo algo é colocado em marcha antes de ser realizado; o êxodo é apenas uma saída, e, portanto, um começo; as palavras de Deus do Sinai dizem: “façam isso, não façam aquilo”. Portanto, tanto Êxodo quanto Levítico apontam para o futuro como ainda não realizado, um futuro em que Israel ainda vai precisar descobrir o que essa promessa de relacionamento, “eu serei o seu Deus”, vai significar.
Com relação à promessa da terra, é em Números e Deuteronômio que esse elemento da promessa patriarcal aproxima-se mais da superfície. O censo do povo com que se inicia o livro de Números não é uma brincadeira ou um jogo inútil feito para matar o tempo na monotonia da peregrinação pelo deserto. É retratado como o preparativo inicial para a ocupação da terra, pois é um censo de todas as pessoas do sexo masculino, “todos os homens que possam servir no exército, de vinte anos para cima” (1.3); está claro desde o início que a terra que foi prometida mesmo assim terá de ser conquistada. E, após esse censo no Sinai, toda a atenção se volta para a terra como o destino de toda a jornada israelita. Moisés diz a seu sogro: “Estamos partindo para o local a respeito do qual o Senhor disse: ‘Eu o darei a vocês’ ” (10.29); e partiram, com a arca da aliança e a nuvem de Javé à frente deles (10.33,34). Alguns capítulos depois 1srael está parado na fronteira de Canaã, e os espiões são enviados e de fato entram na terra (cap. 13). Após isso, o livro gira em torno da questão de se e quando Israel vai entrar na terra. Há uma tentativa de voltar para o Egito, e há também um novo compromisso — tarde demais — para entrar na terra (cap. 14); há mandamentos relacionados ao tempo “quando entrarem na terra que lhes dou para sua habitação” (cap. 15; conforme 15.2); há movimento em direção da terra por uma rota tortuosa (caps. 20—24); há instruções acerca da extensão e divisão da terra (cap. 34). Acima de tudo, ocorre a real ocupação da terra — isto é, aquela parte que está a leste do Jordão — por parte das tribos de
Gade e Rúbem e metade da tribo de Manas-sés (cap. 32; conforme 32.33). Portanto, em Números a promessa não continua como simples promessa para o futuro: é parcialmente cumprida, embora em grande parte ainda não esteja cumprida.
Em Deuteronômio, como já observamos, o destaque está na terra em que Israel está prestes a entrar; as suas leis são “os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança” (4.1; conforme 12.1). Israel é tratado como um povo que “está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você” (9.1). Ao chegar perto do final, Israel recebe instruções acerca de atravessar o Jordão “para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu” (27.3), e recebe também a ordem de entrar na terra de forma corajosa (31:1-6), enquanto Moisés finalmente tem um vislumbre da terra em que ele mesmo nunca vai entrar (32:48-52; 34:1-4). A promessa da terra começa a ter efeito, mas para a maior parte do povo o seu cumprimento ainda está no futuro.
Assim, toda a estrutura do Pentateuco é modelada pelas promessas a Abraão e o seu cumprimento, que nunca são definitivos e finais mas sempre apontam além delas mesmas para um futuro que ainda vai ser realizado. O Pentateuco como um todo dá testemunho de um Deus que está à frente do seu povo, chamando-o para o futuro; o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é um Deus dos mortos, mas dos vivos.
Origem
Questões acerca da origem do Pentateuco ocupam muitas páginas na maioria das “introduções” ao Antigo Testamento. Isso é fato em obras de erudição “crítica”, como as de O. Essfeldt e G. Fohrer, e em obras conservadoras ou fundamentalistas, como as de R.
K. Harrison ou E. J. Young. Pode-se argumentar, no entanto, que, visto que as soluções para os problemas da origem do Pentateuco em grande parte continuam especulativas ou pelo menos hipotéticas, na ausência de quaisquer documentos dos quais o Pentateuco possa ter sido compilado, muito da atividade erudita nessa área tem sido maldirecionada. Assim, é mais importante, tanto do ponto de vista religioso quanto do literário, tentar interpretar o Pentateuco assim'como o temos do que debater questões acerca de sua pré-história literária. Com isso, não estamos negando que a origem do Pentateuco seja um legítimo campo de pesquisa, nem que hipóteses aceitáveis do processo de sua formação possam esclarecer o texto na sua forma final. O ponto em questão é o das prioridades.
Embora o Pentateuco veio a ser conhecido como os “livros de Moisés”, especialmente no contexto de fala inglesa e alemã (visto que Moisés é mais proeminente do que qualquer outra personagem na sua narrativa, e visto que a Lei foi transmitida a Israel por meio dele), o próprio Pentateuco dá crédito explícito a Moisés como seu autor de somente uma parte relativamente pequena do seu conteúdo (Ex
Uma edição anterior desses livros quase certamente foi publicada logo antes da morte trágica do rei Josias em 609 a.C. (2Rs
28. “Se vocês obedecerem [...] todas essas bênçãos virão sobre vocês [...] entretanto, se vocês não obedecerem [...] todas estas maldições cairão sobre vocês” (v. 1,2,15).
Os livros na nossa Bíblia são denominados segundo o(s) herói(s) principal(is) de que falam. Esses títulos não devem ser entendidos como sinônimo de autoria. Josué supostamente não escreveu acerca da sua própria morte (24.29). Jz
O livro de Josué alista os sucessos alcançados na conquista da Palestina sob a liderança dele — primeiramente Jericó e o planalto central (1—9), depois o sul (10) e finalmente o norte (11 e 12). A isso segue-se a afirmação
(13.1): “ainda há muita terra para ser conquistada”. Em seguida, é estabelecida a responsabilidade de cada uma das 12 tribos (13—22). Nos dois discursos no final do livro (23 e 24), a correlação entre a obediência e a bênção e entre a transgressão e o ser consumido é claramente afirmada.
O primeiro capítulo do livro de Juízes pinta um retrato semelhante de sucessos, embora afirme explicitamente que sete tribos não expulsaram os habitantes originais do seu território. O plano para os capítulos seguintes é esboçado em 2:11-19. “Então os israelitas [...] abandonaram o Senhor [...] ele os entregou aos inimigos [...]. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram [...]. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores”. Isso foi verdade em relação a Otoniel, Eúde e Sangar (3), Débora e
Baraque (4 e 5), Gideão (6—8), Tola e Jair (10), Jefté (11 e 12), Ibsã, Elom e Abdom (12) e Sansão (13—16).
No caso de Débora, temos uma versão em prosa da história (4) e um relato em poesia que parece ter sido composto na época da vitória que ele descreve. A forma em que fala de Débora, Jael e a mãe de Sísera e suas damas sugere que o poema foi composto pela própria Débora.
Os juízes talvez tenham exercido sua jurisdição em grande parte dentro do território de suas tribos. Qualquer sobreposição significa que o período mencionado para cada um não fornece um método absoluto para cálculo da data da queda de Jerico como John Garstang tentou fazer em 1931. A maioria dos eruditos aceita uma data do século XIII para o êxodo e a conquista da terra, embora isso torne difícil a interpretação cronológica das afirmações de Jz
A razão dada pelo historiador sagrado para o sucesso e o fracasso não foi uma razão arbitrária imposta sem justificativa. As 12 tribos que constituíam a nação de Israel eram mantidas unidas principalmente por sua lealdade a Javé, e, quando essa lealdade enfraquecia, sua unidade e força desapareciam. A maneira em que as tribos eram chamadas para ajudar, mas poderiam não atender ao chamado, é ilustrada em Jz
Esdras registra o lançamento dos alicerces do templo (c. 536), mas, como mostra
б. 15, a construção só seria concluída 20 anos depois. O encorajamento de Ageu e Zacarias, mencionado em Ed
O cronista tinha uma afeição muito grande pelo templo, e o fato de que os levitas são mencionados 160 vezes nos seus escritos contra apenas três ocorrências em Samuel e Reis, e de que os cantores também recebem mais menção nos seus livros do que em qualquer outro lugar, sugere fortemente que ele mesmo era levita e cantor. As genealogias dos levitas preenchem 81 versículos de lCr 6 e ocupam a maior parte dos caps. 23-26. A tradição judaica identificou Esdras como o cronista, mas a maioria dos comentaristas modernos rejeita isso. Mas as palavras de Esdras foram preservadas em Ed
Juízes que o precede em todas as Bíblias, a não ser na Bíblia hebraica. Mesmo assim, o fato de o livro de Rute estar entre os Escritos e não entre os Profetas Anteriores levou muitos estudiosos a sugerir que a publicação mais provavelmente ocorreu na época do cronista, e não no tempo dos outros historiadores. Alguns sugerem que o livro tinha como propósito ser um panfleto acerca das relações entre as raças ou um protesto contra a exclusão de mulheres estrangeiras da comunidade judaica recomendada em Ed
O livro de Ester na maioria das Bíblias segue o de Neemias, mas Assuero, o rei persa mencionado em todo o livro, deve ser identificado com Xerxes, que precedeu o Artaxerxes ao qual Neemias serviu. A versão grega de Ester que é traduzida na sua totalidade nos apócrifos da NEB confunde os dois. Entre o seu terceiro (1,3) e sétimo (2,16) anos, Xerxes estava fora combatendo os gregos. O clímax da história ocorre no seu décimo segundo ano (3.7), i.e., 475/4 a.C.
A versão hebraica de Ester não menciona Deus nem prática religiosa alguma, a não ser o jejum, ao passo que a versão grega menciona repetidas vezes a oração. Uma nota de rodapé grega (Et
L. E. Browne, no Comentário Peake (1962), faz menção crítica a ela como um “romance sem base histórica alguma”. A maioria dos seus argumentos estão baseados no silêncio, e em contraste com isso Joyce Baldwin (NBCR, 1
970) faz uma lista de cinco fontes de informação acerca de questões persas durante o século V a.C. e conclui que o autor sabia o tanto que nós sabemos “e talvez um pouco mais a respeito do rei, da cidade e da situação acerca da qual estava escrevendo”. Tentativas de identificar Mardoqueu com Marduk e Ester com Ishtar foram abandonadas pela maioria dos estudiosos. Os nomes podem até ser explicados dessa forma, mas as personagens são seres humanos, e não deuses pagãos.
O livro de Ester não é citado no NT, mas é lido regularmente nas sinagogas judaicas na festa de Purim em fevereiro ou março de cada ano. As crianças são ensinadas a mostrar o seu desprezo por Hamã cada vez que o nome dele é mencionado. Os que aceitam os ensinos de Cristo provavelmente vão censurar o pedido de Ester por mais um dia de execuções (9.13), mas não podem deixar de admirar a coragem dela e a forma em que a história é contada.
Muitos dos nossos vizinhos devem achar estranho que encontremos ajuda e encorajamento na leitura de livros primeiramente publicados há mais Dt
BIBLIOGRAFIA
Ackroyd, P. R. Exile and Restoration. SCM, 1968. Anderson, G. W. The Historical Books of the OT.
In: Peake’s Commentary on the Bible. Nelson, 1962. Anderson, G. W. A Critical Introduction to the OT. Duckworth, 1959.
Bright, J. History of Israel. 2. ed. SCM, 1972 [História deIsrael, Editora Paulus, 2004].
Clements, R. E. Isaiah and the Deliverance of Jerusalem. Sheffield, 1980.
Emerton, J. A., ed. Studies in the Historical Books of the Old Testament. Leiden, 1979.
F rank, H. T .An Archaeological Companion to the Bible. SCM, 1972.
Gunn, D. M. The Story of King David. Sheffield, 1978.
Harrison, R. K. Introduction to the OT. Grand Rapids, 1969; London, 1970.
Payne, D. F. Kingdoms of the Lord. Exeter, 1981. Rost, L. The Succession to the Throne of David. E.T., Sheffield, 1982.
Wright, J. S. The Date ofEzra’s Comingto Jerusalem. Tyndale Press, 1958.
Young, E. J .An Introduction to the OT. Tyndale Press, 1964.
V. tb. artigos relevantes em IB, ICC, NBC, 3. ed., NBD [O novo dicionário da Bíblia, 2. ed., Edições Vida Nova, 1995] e OTL.
A CRONOLOGIA DO ANTIGO TESTAMENTO
F. F. BRUCE
A cronologia do AT apresenta muitos problemas e incertezas, e não foi feita tentativa alguma a esse respeito de impor uniformidade aos colaboradores para este comentário.
E impossível fazer afirmações seguras a respeito da cronologia do período antes de Abraão. Na época da elaboração desta obra, é muito cedo para dizer que luz vai ser trazida (ou não) sobre essa escuridão pelos registros descobertos em Tell Mardique na Síria (a antiga Ebla). O próprio Abraão é comumente situado na idade do bronze médio, no início do segundo milênio a.C. (Essa datação, incidentalmente, foi elaborada por uma confiança cega na cronologia de James Usher. Ela traz Abraão à terra prometida no ano de 1921 a.C.)
A permanência dos israelitas no Egito só pode ser datada aproximadamente. Há amplo consenso a favor de colocar o êxodo no século XIII a.C. (preferencialmente ao século XV, que era a data mais aceita na década Dt
O número de 480 anos dado em lRs 6.1 para o intervalo entre o êxodo e a fundação do templo de Salomão pode ser considerado como o equivalente a 12 gerações.
É difícil construir um esboço cronológico das monarquias de Israel e de Judá com base somente nos dados bíblicos porque o total dos anos reais fornecidos em 1 e II Reis para os Reinos do Norte e do Sul, desde a morte de Salomão até a queda de Samaria no sexto ano de Ezequias (2Rs
A invasão da Palestina por Sisaque, que ocorreu no quinto ano de Roboão (lRs 14.25), é datada independentemente em registros egípcios e aponta para uma data c. 930 a.C. para o desmoronamento da monarquia. De acordo com isso, o reinado de Davi começou c. 1010 a.C., e o templo de Salomão foi consagrado c. 960 a.C.
A cronologia assíria, desde o início do século IX a.C. até o final do século VII a.C., é registrada com precisão nas listas limmu. O limmu era um oficial designado anualmente e que emprestava seu nome ao ano em que exercia seu ofício (como os “archon” eponímicos em Atenas e os cônsules em
Roma). Essas listas possibilitam-nos fixar datas como 853 a.C. para a batalha de Carcar no final do reinado de Acabe (quando ele e outros governantes siro-palestinos resistiram ao avanço de Sal-maneser III da Assíria para o Ocidente) e 841 a.C.como um terminus ante quem para a ascensão de Jeú (que naquele ano homenageou Salmaneser III), junto com datas posteriores como 745 a.C.como o ano de ascensão de Tiglate-Pileser III (2Rs
Quando as listas dos limmu são insuficientes, a Crônica Babilónica assume, capacitando-nos a datar a queda de Nínive (Na 3:0) em 605 a.C., a deportação de Joaquim (2Rs
BIBLIOGRAFIA
Albright, W. F. From the Stone Age to Christianity. Baltimore, 2. ed., 1946.
Bickermann, E. J. Chronology of the Ancient World. London, 1968.
Bimson, J. J. Redating the Exodus and Conquest. Sheffield, 1978.
Finegan, J. Handbook of Biblical Chronology. Princeton, 1964.
Freeman, D. N. & Campbell, E. F. The Chronology of Israel and the Ancient Near East. In: The Bible and the Ancient Near East (Ensaios em honra de W. F. Albright), G. E. Wright, ed., London, 1961, p. 203-28.
Parker, R. A. & Dubberstein, W. H. Babylonian Chronology, 626 B.C.—A.D. 75. Providence, R. I. 1956.
Thiele, E. R. The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings. 2. ed. Exeter, 1951.
Wiseman, D. J. Chronicles of Chaldean Kings. London, 1956.
INTRODUÇÃO AOS LIVROS POÉTICOS
F. F. BRUCE
A POESIA NO ANTIGO TESTAMENTO
Grande parte da literatura sapiencial do AT é apresentada em forma poética. O cerne do livro de Jó é poético não somente em forma, mas também em pensamento e linguagem. O livro de Provérbios, como também partes de Eclesiastes, é poético em forma, mesmo quando a linguagem, embora incisiva e epigramática, é em prosa. O Saltério é poético de ponta a ponta, como também Cântico dos Cânticos e Lamentações de Jeremias.
Muitos dos oráculos nos livros proféticos são poéticos em forma e linguagem e acham-se corretamente diagramados em forma de poesia na NVI e outras versões recentes. E um exercício precário, no entanto, usar a alternância entre seções poéticas e de prosa nesses livros como critério para distinguir entre contribuições de autores e editores.
Fora os oráculos comuns, ocasionalmente encontramos um salmo incorporado em um livro profético, como a oração de Jonas (Jo
Os poemas também aparecem ocasionalmente nos livros narrativos. A maldição tripla na história da Queda em Gn
RITMO SILÁBICO
A poesia do AT é caracterizada por padrões rítmicos reconhecíveis que podem ser reproduzidos em certa medida na tradução. O ritmo do som e o ritmo do sentido são combinados para produzir o efeito poético.
O ritmo do som depende principalmente de padrões repetidos de sílabas acentuadas. E provável que sílabas não acentuadas também tenham um papel, mesmo que menos importante, nesse aspecto, mas não há concordância quanto ao que seja esse papel. Em relação ao padrão de sílabas acentuadas, podemos ter uma seqüência de versos (geralmente organizadas em parelhas de versos) tendo duas, três ou quatro sílabas acentuadas cada uma (2:2; 3:3; 4:4). Ou temos uma alternância de versos com quatro e três sílabas acentuadas (4:3, como a nossa métrica comum) ou três e duas sílabas acentuadas (3:2). Uma seqüência desses versos alternados produz um efeito elegíaco e triste. O padrão 3:2 é conhecido como qinãh ou métrica de “canto fúnebre”, visto que é especialmente comum em lamentos, como no livro de Lamentações:
Como I está deserta I a cidade antes tão cheia I de gente! ...
Há padrões mais bem trabalhados do que esses, mas esses são os que ocorrem com mais freqüência.
PARALELISMO
O ritmo de sentido toma a forma de “paralelismo”. O “paralelismo” é uma figura de estilo em que o que é essencialmente a mesma idéia é expresso duas (ou até mais) vezes em versos paralelos ou grupos de versos; o pensamento é o mesmo, mas as palavras são diferentes.
Os diversos tipos de paralelismo são descritos da melhor maneira por meio de exemplos reais. Os três tipos de paralelismo que se destacam são o paralelismo completo, o paralelismo incompleto e o paralelismo em estágios.
O paralelismo completo. No paralelismo completo, temos dois versos (ou parelhas de versos) em que cada termo significativo de um corresponde a um termo significativo de outro. O paralelismo pode ser sinônimo, como em Gn
Ada I e Zilá, I ouçam 1 -me;
mulheres I de Lameque I
escutem I minhas palavras.
(Aqui “mulheres de Lameque” é sinônimo de “Ada e Zilá”, “escutem” de “ouçam” e “minhas palavras” de “me”, lit. “minha voz”.) Outros exemplos são Is
Israel I nada I sabe o meu povo I nada I compreende ou Sl
O Senhor I é a minha luz I e a minha salvação;
de quem I terei temor?
O Senhor I é o meu I forte refúgio;
de quem I terei medo?
Ainda que um exército I se acampe I contra mim,
meu coração I não temerá; ainda que se declare I guerra I contra mim, mesmo assim I estarei confiante.
Esse ritmo 3:2 não é característico somente dos cantos fúnebres (como dissemos); em outras passagens, como em Sl
O boi I reconhece I o seu dono, e o jumento I conhece a manjedoura I do seu proprietário, mas Israel I nada I sabe, o meu povo I nada I compreende.
Aqui os dois versos da primeira parelha, assim como os dois versos da segunda parelha, formam um paralelismo sinônimo um com o outro; mas a segunda parelha de versos forma um paralelismo antitético com a primeira parelha.
Além disso, o paralelismo pode ser emblemático-, esse adjetivo tem sido usado para denominar uma construção em que um dos dois versos paralelos apresenta um símile ou metáfora descrevendo a situação com que o autor está de fato preocupado. Um exemplo simples é Sl
Como um pai I tem compaixão I de seus filhos, assim o Senhor I
tem compaixão I dos que o temem. Paralelismo incompleto. O paralelismo incompleto ocorre quando o segundo verso de uma parelha não traz um termo de sentido equivalente correspondente a cada um dos termos no verso precedente. Assim, na parelha já citada de Is
O boi I reconhece I o seu dono, e o jumento I conhece a manjedoura I do seu proprietário —
no segundo verso, no original hebraico, não há verbo correspondendo a “reconhece” do primeiro verso. O verbo, evidentemente, pode muito bem ser depreendido do primeiro verso; no que tange ao sentido, não há necessidade de que seja repetido (nem mesmo um sinônimo). Mas existe então a compensação métrica para a falta do termo por meio da provisão de um objeto com duas sílabas acentuadas no segundo verso (“a manjedoura do seu proprietário”) correspondendo ao objeto com uma sílaba acentuada no verso anterior (“o seu dono”). O mesmo fenômeno ocorre em Sf
Por isso os ímpios 1
não resistirão I no julgamento, nem os pecadores I na comunidade I dos justos —
em que, apesar da omissão de um verbo no segundo verso correspondente a “resistirão” no primeiro verso, o ritmo 3:3 é mantido por meio do uso de um termo com duas sílabas acentuadas no segundo verso (“a comunidade dos justos”) em contraste com uma sílaba destacada no primeiro verso (“no julgamento”).
Além desses exemplos de “paralelismo incompleto com compensação”, há muitos exemplos de “paralelismo incompleto sem compensação”. Se observarmos Sl
não encontramos verbo na segunda unidade correspondente a “ele me tirou” na unidade precedente (pois não há necessidade de repetição de verbo), mas as palavras restantes, “de um atoleiro de lama”, têm exatamente o mesmo valor métrico que a contrapartida, “de um poço de destruição”, e cada um desses conjuntos de palavras têm duas sílabas acentuadas. A parelha é a primeira de quatro (abrangendo os v. 2,3) no ritmo elegíaco 3:2, o ritmo em que praticamente todo o livro de Lamentações foi composto.
Um belo exemplo do ritmo elegíaco 4:3 mais longo aparece na descrição vívida do caos-venha-de-novo em Jr
Olhei I para a terra, 1
e ela era sem forma I e vazia; para os céus, I
e a sua luz I tinha desaparecido.
Olhei I para os montes I e eles I tremiam; todas I as colinas 1 oscilavam.
Olhei, I e não I havia I mais gente;
todas as aves I do céu 1 tinham fugido em revoada.
Olhei, I e a terra I fértil I era um deserto; todas I as suas cidades I estavam em ruínas por causa do Senhor,
por causa do fogo da sua ira.
Aqui o aspecto extraordinário das quatro parelhas elegíacas é realçado por meio do solene “olhei”, com o qual cada um começa, e pela solene coda que segue a última das quatro parelhas.
A primeira parelha de versos do canto de vingança de Lameque (Gn
Se Caim 1 é vingado I sete vezes, Lameque o será I setenta I e sete. Nessas duas parelhas, a segunda unidade não tem um verbo correspondente ao verbo na primeira unidade, mas não há compensação métrica para o verbo que falta na primeira
parelha, ao passo que na segunda parelha a compensação é fornecida por meio de “setenta e sete” com a acentuação duplicada em contraste com “sete vezes” com acentuação simples.
Uma permuta efetiva de linhas com três e duas sílabas acentuadas é conjugada com a estrutura quiástica em SI 30:8-10. (O quiasmo ocorre no original, e por isso transpomos aqui algumas linhas do texto da NVI para corresponder ao hebraico):
A ti, I Senhor, I clamei, ao Senhor I pedi misericórdia:
que vantagem haverá I se eu morrer, se eu descer I à cova?
Acaso o pó I te louvará?
Proclamará I a tua fidelidade?
Ouve, I Senhor, I e tem misericórdia de mim;
Senhor, I sê tu o meu auxílio.
Aqui ocorre o “quiasmo” métrico de duas parelhas 2:2 dentro de duas parelhas 3:2, e isso coincide com um “quiasmo” de sentido, em que uma série de perguntas retóricas (todas requerendo a resposta “não”) se interpõe entre a afirmação de súplica na primeira parelha e o conteúdo da súplica na última parelha.
Paralelismo formal. Ocasionalmente, com a diminuição do paralelismo de sentido e um aumento correspondente da compensação métrica atinge-se o ponto em que o paralelismo de sentido desaparece totalmente e somente o equilíbrio métrico permanece, como em Sl
Agora, I será exaltada I a minha cabeça acima I dos inimigos 1 que me cercam. Paralelismo em estágios. As vezes parte de uma linha é repetida na linha seguinte e se constitui ponto de início para um novo estágio; esse processo pode ser repetido da segunda para a terceira linha. Um bom exemplo disso está em Sl
Aqui os primeiros três versos apresentam paralelismo em estágios; o quarto verso está em completo paralelismo sinônimo com o terceiro. Outro exemplo está em Sl
Eis que I os teus inimigos 1 Senhor, eis que I os teus inimigos 1 perecerão; serão dispersos 1 todos 1 os que praticam a iniqüidade.
Aqui as primeiras duas linhas exibem paralelismo em estágios; a terceira está em paralelismo sinônimo com a segunda.
O “estilo arcaico” desse versículo, observado no comentário ad loc., pode ser ilustrado por uma estrofe construída de forma semelhante em um hino a Baal nos textos ugaríticos: Eis os teus inimigos, Baal,
Eis os teus inimigos, elimina-os,
Eis os teus oponentes, destrói-os.
Um outro exemplo ugarítico de paralelismo em estágios é citado na epopéia de Aqhat, em que o filho de Danei (conforme Ez
Pede vida, Aqhat, meu menino,
pede vida e eu ta darei,
vida eterna, e eu ta concederei.
Isso lembra Sl
Ele I te pediu I vida, I e tu lha deste; sim, I longevidade I para todo I o sempre. Outra forma de paralelismo em estágios pode ser reconhecida em Sf
ESTRUTURAÇÃO EM ESTROFES
Um exemplo bem conhecido de paralelismo em estágios está integrado numa estrutura em estrofes: é a invocação repetida de Sl
Levantai, I ó portas, I as vossas cabeças; levantai-vos 1 ó portais 1 eternos, para que entre I o Rei I da Glória.
Na primeira resposta a essa pergunta repetida de dentro (“Quem é esse Rei da Glória?”), há mais uma ocorrência de paralelismo em estágios em que “poderoso nas batalhas” retoma e torna mais específicos os epítetos gêmeos “forte e poderoso” (Sl
O Senhor, I poderoso I nas batalhas.
A seqüência repetida de invocação, pergunta de dentro e resposta forma uma estrofe dupla com o seu clímax no versículo 10 (na métrica 2:2):
O Senhor I dos Exércitos, ele é o Rei I da Glória.
Um sinal comum da estruturação em estrofes é a repetição de um refrão. O refrão triplo em SI 42 e 43 (originalmente só um salmo) marca o final de três estrofes sucessivas, nos v. 5,11 do Sl
Apesar disso tudo, I a ira dele I não se desviou;
sua mão I continua I erguida — que conduziu à tese de que em Is
Foram identificados ainda outros hinos ou confissões de fé rítmicas, com maior ou menor certeza, aqui e acolá nas epístolas. A métrica e o fraseado em Ef
Entretanto as formas da poesia hebraica aparecem principalmente no ensino de Jesus, especialmente como está registrado nos evangelhos Sinópticos. Talvez uma das razões de Jesus ter sido reconhecido tão prontamente como profeta, acima da evidente autoridade com que falava, tenha sido o fato de que o seu ensino era tão freqüentemente organizado nos mesmos moldes dos oráculos proféticos do AT. Isso também contribuía para que fossem memorizados com maior facilidade, porém, e mais importante do que isso, torna crível o fato de que passagens que apresentam esse tipo de estrutura preservam — ao menos na tradução — a ipsissima verba de Jesus. Poderiamos dar muitos exemplos, mas alguns serão suficientes, os dois da versão do Sermão do Monte do evangelho de Mateus.
O primeiro é a estrofe em Mt
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Aqui temos paralelismo de sentido, estrutura métrica (a-b-c, a'-b'-à, d-e) e até ritmo (quando se faz a tentativa de traduzir o grego novamente para o aramaico).
O outro é mais breve, mas é interessante porque inclui um quiasmo (Mt
Não dêem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos; caso contrário, estes [os porcos] as pisarão
e, aqueles [os cães], voltando-se contra vocês, os despedaçatão.
O padrão é a-b-b-a.
E lastimável que algumas das traduções bíblicas mais recentes, que fizeram tanto para tornar visíveis as passagens poéticas do AT, não fizeram o mesmo com o ensino de Jesus nos Evangelhos.
BIBLIOGRAFIA
Burney, C. F. The Poetry of our Lord. Oxford, 1925. Gevirtz, S. Patterns in the Early Poetry of Israel. Chicago, 1963.
Gray, G. B. The Forms of Hebrew Poetry. London, 1915; 2. ed., New York, 1972.
Jebb, J. Sacred Literature. London, 1820.
Johnson, A. R. The Cultic Prophet and Israel’s Psalmody. Cardiff, 1979.
Kosmala, H. Form and Structure in Ancient Hebrew Poetry, VT 14, 1964, p. 423ss.
Lowth, R. Lectures on the Sacred Poetty of the Hebrews. T.I. do original em latim de 1735, London, 1787 e edições posteriores.
Oesterley, W. O. E. Ancient Hebrew Poems. London, 1938.
Robinson, T. H. The Poetry of the Old Testament. London, 1947.
Smith, G. A. The Early Poetry of Israel in its Physical and Social Origins. London, 1912.
Stuart, D. K.Studies in Early Hebrew Meter. Missoula, Montana, 1976.
INTRODUÇÃO À LITERATURA SAPIENCIAL
F. R BRUCE
O Antigo Testamento inclui três livros que são distintivamente conhecidos como livros “sapienciais”, livros de sabedoria: Jó, Provérbios e Eclesiastes. Além disso, o Saltério contém um grande número de composições que são chamadas “salmos sapienciais” (e.g., SI 4, 10, 14, 19, 37, 49, 73, 90, 112). A LXX inclui mais alguns livros “sapienciais” que não fazem parte da Bíblia hebraica: Eclesiástico (A Sabedoria de Jesus ben-Siraque, escrito em hebraico c. 180 a.C. e traduzido para o grego pelo neto do autor meio século mais tarde) e Sabedoria (escrito em grego por um judeu egípcio no século I a.C.). Baruque e 4Macabeus (que ilustra, com base no martirológio macabeu, o triunfo da razão correta sobre as paixões) também fazem uma contribuição à literatura sapiencial da LXX.
SABEDORIA PRÁTICA E PONDERADA
Ao considerarmos a sabedoria (hebraico hokhmãh) do AT no seu contexto mais amplo, podemos distinguir entre sabedoria prática e sabedoria ponderada ou refletida, embora não haja linha demarcatória claramente definida.
A sabedoria prática em qualquer cultura assume a forma primeiramente de ditos proverbiais que expressam em termos incisivos os eventos regulares observados na natureza ou na conduta humana: “Gato escaldado tem medo de água fria”. Uma forma mais bem elaborada é enigma, fábula ou parábola. Exemplos conhecidos do AT são o enigma de Sansão (Jz
A sabedoria ponderada ou refletida aparece quando as generalizações populares são consideradas inadequadas para explicar os fatos desconcertantes da vida, e problemas tais como o significado da existência e do sofrimento dos inocentes provocam a reflexão em um nível mais profundo.
A SABEDORIA E A CRIAÇÃO
Quando se fazem tentativas de identificar um tema ou princípio central em torno do qual a teologia do AT possa ser organizada, é difícil relacionar a literatura sapiencial a isso. Se tentarmos identificar o tema central na história da salvação, há muito pouco disso nos livros sapienciais canônicos. Aliás, isso se reafirma nos livros sapienciais da Septuaginta: Sabedoria lO.lss, por exemplo, relata a história bíblica a partir de Adão em termos da orientação da sabedoria, com destaque especial para a narrativa do Êxodo e da peregrinação no deserto, mas essa nota está ausente da literatura sapiencial da Bíblia hebraica.
Se em vez disso tentarmos identificar o tema central no princípio da aliança, certamente podemos concordar em torno do fato de que a aliança estabelecida pelo Deus de Israel com o seu povo é a pressuposição implícita dos livros sapienciais canônicos, mas eles não fazem nenhuma menção explícita a isso. Nesse sentido, também os livros sapienciais posteriores, ao identificarem a sabedoria com a Lei mosaica (conforme Baruque 3,9—4,4) e demarcarem uma distinção clara entre Israel e as outras nações, diferem da literatura anterior que é de natureza mais internacional. Não é por acaso que o herói do livro de Jó não é um israelita, que coleções de sabedoria arábica e possivelmente egípcia foram incorporadas em Provérbios e que Eclesiastes tenha afinidades com algumas linhas do pensamento grego.
O Deus de Israel não é Deus de Israel somente; ele é o Criador do mundo. A sua criação está aí para ser desfrutada e analisada, o estudo da criação desvenda a glória maior do Criador, e esse é um campo do conhecimento que está aberto para todos. E de fato possível suprimir o conhecimento de Deus que é revelado dessa forma e adorar a criatura, em vez do Criador, mas isso é uma deturpação do propósito divino na criação. Zofar, de Naamate, pode até perguntar a Jó: “Você consegue perscrutar os mistérios de Deus?” (Jó
A teologia sapiencial do AT está fundamentada na certeza de que a sabedoria é uma dádiva de Deus e está relacionada à ordem duradoura da criação de Deus, e não a ocorrências históricas singulares. Mas até a teologia sapiencial revela o princípio da salvação, que surge do encontro do homem com a criação no seu sentido mais amplo. Deus fala por meio das suas obras; ele fala por meio do seu procedimento com os seres humanos. Dar ouvidos à sua voz é o caminho para a vida; ignorá-la é o caminho para a ruína. E ouvindo a voz de Deus que o ser humano cultiva esse “temor do Senhor” que é o “princípio da sabedoria” (Sl
SABEDORIA INTERNACIONAL
Os próprios autores do AT reconhecem que a sabedoria não tem fronteiras nacionais. Alguns dos povos vizinhos de Israel são conhecidos pela elevada reputação de sua sabedoria. A sabedoria de Salomão era tão excepcional que se diz dela ser “maior do que a de todos os homens do oriente, e do que toda a sabedoria do Egito” (lRs 4.30). A região em que Jó e seus amigos viviam era conhecida pela sabedoria; o oráculo de Jeremias contra Edom pergunta: “Será que já não há mais sabedoria em Temã?” (Jr
SABEDORIA CANÔNICA
As coleções das declarações dos sábios reunidas no livro de Provérbios estabeleceram a relevância prática da sabedoria na vida diária. Deus é apresentado como justo, e o seu mundo é um mundo moral, caracterizado por retribuição temporal pela justiça e misericórdia e retribuição temporal por maldade e insensatez. Mas os problemas mais agudos e difíceis da existência não são tratados aqui. “Provérbios parece estar dizendo: ‘Aqui estão as regras da vida; teste-as e descubra que funcionam’. Jó e Eclesiastes dizem: ‘Nós as testamos, e elas não funcionam’ ” (D. A. Hubbard, loc. cit., p. 6).
No livro de Jó, encontramos o clímax de uma longa luta com esses problemas. Estágios anteriores desse processo estão marcados pelos chamados “salmos problemáticos”. Alguns desses salmos (e.g., os salmos
90) lidam com os problemas de forma calma e quase filosófica: eles contemplam o paradoxo de um mundo criado por um Deus bom e a perversidade do homem, que faz parte dessa criação. “Os céus declaram a glória de Deus” e “a lei do Senhor é perfeita”, mas em relação ao homem “quem pode discernir os próprios erros?” (Sl
O que fazer, porém, quando parece que Deus abandonou o homem piedoso? Essa é a situação de Jó. O livro que leva seu nome propõe duas perguntas:
1) Algum homem se dispõe a servir a Deus somente por amor a Deus? (i.e., será que existe algo como bondade simples e desinteressada?) e
2) Por que um homem temente a Deus sofre? Satanás faz a primeira pergunta e está certo de que a resposta é “Não”; o fato de Jó preservar a sua integridade em meio às aflições prova que a resposta é “Sim”. Mas Jó não tem acesso ao conselho celestial e, sem saber a verdadeira causa da sua desgraça, é forçado a suportar a insistência repetida dos seus amigos em que, visto que ele está sofrendo, deve ter pecado. Mesmo assim, ele se nega a ser convencido por eles e os choca ao desafiar Deus a vindicar o seu próprio caráter (e não o de Jó). No final, ele está contente quando Deus lhe fala e ele enxerga sua experiência da perspectiva da grandeza divina.
Eclesiastes tem a forma de um testamento real. Esse livro recomenda a sabedoria como o único caminho para lidar com a triste realidade da vida — uma sabedoria cautelosa e despretensiosa, aliás, que encontra contentamento num dia de trabalho bem-sucedido, na satisfação da simples comida e bebida quando a pessoa desenvolveu apetite por elas e no prazer da vida em família. E melhor ser grato pelas pequenas coisas, pois o mundo está cheio de injustiças, o futuro é incerto demais e a morte é certa demais para que o ser humano se perca em grandes esperanças, mesmo que o Criador tenha posto “no coração do homem o anseio pela eternidade” (Ec
Ao lidar com os problemas da vida na terra, os livros sapienciais canônicos não recorrem a um mundo novo para restabelecer o equilíbrio do antigo. Uma vez, aliás, numa irrupção de fé Jó treme quando se percebe à margem de uma nova percepção: “E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus” (Jó
SABEDORIA NARRATIVA E APOCALÍPTICA
Paralelo à literatura sapiencial característica do AT, há um gênero literário sapiencial, mais bem elaborado do que a parábola, exemplificado especialmente no tema do israelita leal que, exilado de casa não por culpa sua, é bem-sucedido por meio da sabedoria ao atingir uma posição de grande responsabilidade e honra, em meio a muita maldade e ciúme. O protótipo desse tipo de gênero é a história de José, mais “criterioso e sábio” do que todos os outros, e por isso recebe “o comando de toda a terra do Egito” (Gn
SABEDORIA PESSOAL
A sabedoria é personificada de tempos em tempos no AT — personificada como uma mulher, visto que também em hebraico a palavra “sabedoria” é feminina (como o grego sophia e o latim sapientid). Ela é retratada como guia, filósofa e amiga, como a doadora de riquezas incomparáveis e imperecíveis, como a mestra de uma escola na qual os homens são convidados a aprender o caminho correto da vida (Pv
1.2,3). Portanto, o retrato da sabedoria aparece como uma raiz importante da cristologia do NT.
BIBLIOGRAFIA
McKane, W. Prophets and Wise Men. London, 1965. Noth, M. & Thomas, D. W., eds. Wisdom in Israel and in the Ancient Near East. Leiden, 1955. Paterson, J. The Book that is Alive. New York, 1954. Rankin, O. S. Israel's Wisdom Literature. Edinburgh, 1936.
von Rad, G. Wisdom in Israel. T.I. London, 1972. Whybray, R. N. Wisdom in Proverbs. London, 1965.
_. The Intellectual Tradition in the Old Testament.
Berlin, 1974.
Williams, J. G. Those Who Ponder Proverbs. Sheffield, 1981.
Zimmerli, W. The Place and Limit of the Wisdom in the Framework of the Old Testament Theology, Scottish Journal of Theology 17, 1964, p. 146-158.
INTRODUÇÃO AOS LIVROS PROFÉTICOS
G. C. D. HOWLEY
Quando os inimigos do profeta Jeremias disseram: “Venham! Façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote nem o conselho do sábio nem a mensagem do profeta” (18.18), eles resumiram as diferentes fontes de autoridade espiritual contidas no AT. Sacerdote, profeta e sábio representavam três meios pelos quais o Senhor falou a seu povo ao longo de séculos. Associava-se com cada um, respectivamente, a “lei”, a “mensagem” e o “conselho”. Os sacerdotes exerciam o ensino como também o ministério cerimonial (Ml
A profecia proclamava a palavra de Deus. Isso se expressava de duas maneiras, que se harmonizam com as duas seções dos livros proféticos no AT — os Profetas Anteriores (Josué, Juízes, Samuel e Reis), que interpretam a história à luz do propósito de Deus; e os Profetas Posteriores (Isaías, Jeremias, Eze-quiel e o Livro dos Doze), que registram o que foi transmitido ao povo pelos mensageiros do Senhor (Ag
Houve profetas em evidência ao longo de todo o período do AT, embora alguns tenham sido anônimos ou menos conhecidos. Anúncios da vontade de Deus eram raros no período final dos juízes (1Sm
Havia também a questão dos embaraços políticos com potências estrangeiras. A ameaça da Assíria era como uma sombra no céu para o povo. Eles confiavam no privilégio de serem povo de Javé, esperando a libertação (Jl
A Lei foi escrita sobre tábuas de pedra, nunca atingindo o coração deles, mas a nova aliança seria escrita no seu coração. Dentro deles, surgiria um desejo de fazer a vontade de Deus em virtude da natureza espiritual da nova aliança.
Essa era uma mudança radical e profunda. Estava já apontando para a era cristã, que encontra o seu cumprimento por meio da obra de Cristo na cruz. A natureza do cristianismo está na mudança do coração, como o apóstolo Paulo expôs no seu ministério da nova aliança. A vinda do Espírito Santo fez do homem uma nova criatura, de forma que depois disso se pôde dizer: “Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos” (2Co
Ezequiel foi o grande profeta do exílio. Ele tem sido chamado “o profeta da reconstrução” porque, apesar das suas mensagens de juízo, prometeu a renovação espiritual do povo e o estabelecimento da nova comunidade da fé (v. F. F. Bruce, comentário de Ezequiel, p. 1119). Sempre há esperança porque sempre existe o Deus vivo que não abandona o seu povo. O clímax da profecia de Ezequiel anuncia a promessa divina: “O Senhor ESTA AQUI” (48.35). Essa observação acerca do cumprimento final da presença de Deus entre o seu povo vai além do exílio. Zacarias e Ageu ministraram numa época que Zacarias descreveu como “o dia das pequenas coisas” (4.10). Foi uma época de depressão espiritual; o povo era uma minoria inexpressiva rodeada pelos seus inimigos. Os mensageiros de Javé conclamaram o povo à restauração dos valores corretos e profetizaram que a glória de Deus habitaria entre ele (Ag
Toda a elaboração contínua da mensagem profética teve o propósito de gerar a percepção da presença de Deus e da sua grandeza e esplendor, para produzir um retorno apaixonado do povo a Deus. E nisto que consiste o avivamento: não há atalhos para essa experiência. Bem acima de todas as diferenças de ênfase no ministério dos profetas, estava uma percepção aumentada de Javé que pudesse conduzir ao arrependimento e completa restauração do povo a Deus. Assim, o propósito subjacente de Deus seria cumprido em uma experiência e padrão éticos, numa vida que estivesse em harmonia com a natureza e a vontade dele.
A palavra sempre era maior do que a pessoa que a transmitia. Sua tarefa era transmitir a mensagem sem nenhum acréscimo. Javé era considerado o autor soberano da história, e os seres humanos eram os instrumentos da palavra dele. A continuidade do ministério profético estava garantida pela promessa de sucessão profética (Dt
As mensagens proféticas originavam-se em situações históricas específicas e eram dirigidas, em primeiro lugar, àquelas ocasiões ou pessoas. Para captar o seu verdadeiro significado, é necessário isolar o princípio fundamental do contexto imediato. O profeta talvez esteja se dirigindo a uma situação específica na história do povo, mas a verdade duradoura contida na mensagem é válida para todas as épocas. Nisso está um elemento singular das profecias: nunca há dúvida alguma acerca do governo soberano de Deus no mundo de hoje. Os princípios do seu governo revelados naqueles tempos são os mesmos que marcam a sua atividade entre os homens hoje. Nesse sentido, Deus não está silencioso, apesar de algumas pessoas pensarem que ele não tenha falado desde a cruz. Esse ponto de vista talvez até seja correto em relação à manifestação visível de Deus no mundo. Isso virá no final dos tempos. Mas agora há conforto no conhecimento da sua atividade invisível, no seu agir na história com vistas ao cumprimento final do seu propósito eterno.
Os estudiosos têm se referido à “perspectiva profética”, à “diminuição do horizonte profético”. Houve tempos em que eles olhavam para o dia do Senhor, para a consumação da história. Ao fazerem isso, saltavam o intervalo que existia entre o tempo imediato e o cumprimento final do seu ministério. Os oráculos de Is
O último capítulo de The Doctrine of the Prophets (A. F. Kirkpatrick, 1
892) é intitulado “Cristo, o objetivo da profecia”. Ao comentar acerca dos séculos de silêncio entre o AT e o NT, o autor diz:
Porque se a profecia foi, como se afirma que foi, um vislumbre inspirado para dentro do presente eterno da mente divina, ela deve prever o propósito divino para a humanidade se desenrolando no tempo, e essa previsão deve, no tempo certo, traduzir-se em fatos. Quando as cortinas se fecham sobre o palco da profecia do AT no final do século V a.C., sentimos que o enigma espera pela sua resolução, ao drama falta o desenlace.
O NT explica o que os primeiros cristãos pensavam a respeito da profecia do AT:
Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus; coisas que até os anjos anseiam observar (1Pe
Quando o Senhor ressurreto ensinou os seus discípulos no caminho para Emaús, deve ter desvendado para eles os segredos da profecia messiânica do AT.
Ao estudarmos o AT com esse conhecimento, percebemos que muito, não importa a implicação imediata disso para a época, pode ser entendido como aspectos que teriam o seu cumprimento definitivo em Jesus. É nesse sentido que entendemos as profecias do rei ideal, do Servo Sofredor e muitos outros elementos que encontrariam o seu conteúdo no advento e no reino do Messias. “O testemunho de Jesus é o espírito de profecia” (Ap
Além de profecias específicas agora consideradas messiânicas, há passagens em Lamentações — que se referem estritamente à queda de Jerusalém — que são usadas com freqüência em relação à paixão do Senhor. Um comentário equilibrado acerca dessa questão diz:
Enquanto isso for feito com reverência e reflexão, poucos vão criticar [...]. E perfeitamente normal então que se espere que nesse livro de sofrimento pelo pecado seja repetida a frase que nos lembra do cotação amoroso de um sofrimento muito mais profundo (Ellison, op. cit., p. 154).
Não incluímos Daniel nesta análise em virtude de sua natureza apocalíptica e também porque não está incluído na seção dos profetas no cânon do AT. Mas aqui também a visão do filho do homem (Ez
Nos dias tenebrosos do Estado judaico, foram pronunciadas palavras que a fé poderia captar. Uma dessas mensagens é encontrada tanto em Miquéias quanto em Isaías:
Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas. E os povos a ele acorrerão [...] Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor, de Jerusalém...” (Mq4:1-4; Is
profecia do AT é necessária para o entendimento do significado completo do NT.
Talvez o valor máximo da profecia do AT para nós esteja no desafio de seu elemento devocional e ético. Em todos esses escritos, o leitor encontra garantias que a fé pode incorporar para o fortalecimento da vida espiritual e da esperança. Esse é o ponto de vista sugerido pelo apóstolo Paulo ao aplicar um salmo do AT ao Senhor: “Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança” (Rm
BIBLIOGRAFIA
Bishop, E. F. F. Prophets of Palestine. London, 1962. Clements, R. E. Prophecy and Covenant. London, 1965.
Clements, R. E. Prophecy and Tradition. Oxford, 1975.
Davidson, A. B. Old Testament Prophecy. Edinburgh, 1903.
Davies, E. W. Prophecy and Ethics. Sheffield, 1981. Eaton, J. H. Vision in Worship. London, 1981. Ellison, H. L. Men Spake from God. 2. ed., Exeter, 1958.
Ellison, H. L. The Prophets of Israel from Ahijah to Hosea. Exeter, 1969.
Elmslie, W. A. L. How Came Our Faith. Cambridge, 1948.
Guillaume, A. Prophecy and Divination. London, 1938.
Heaton, E. W. The Old Testament Prophets. Harmondsworth, 1958.
Johnson, A. R. The Cultic Prophet in Ancient Israel. Cardiff, 1944.
Kirkpatrick, A. F. The Doctrine of the Prophets. Warburton Lectures: 2. ed., London, 1892, 1897, reimpr. Grand Rapids, 1958.
Kuhl, C. The Prophets of Israel. T.I. Edinburgh, 1960. Lindblom, J. Prophecy in Ancient Israel. Oxford, 1962. Robinson, H. W. Inspiration and revelation in the Old Testament. Oxford, 1946.
Robinson, T. H. Prophecy and the Prophets in Ancient Israel. London, 1923.
Rowley, H. H. The Nature of Old Testament Prophecy in the Light of Recent Study. In: The Servant of the Lord and Other Essays on the Old Testament. 2. ed., Oxford, 1965, p. 95-134. Rowley, H. H., ed. Studies in Old Testament Prophecy. Edinburgh, 1950.
Smith, W. R. The Prophets of Israel. 2. ed., London, 1895.
Snaith, N. H. The Distinctive Ideas of the Old Testament. London, 1944.
Wace, H. Prophecy: Jewish and Christian. Warburton Lectures. London, 1967.
Westermann, C. Basic Forms ofProphetic Speec, T.I. London, 1967.
Wright, G. E. The Challenge of Israel’s Faith. Chicago, 1944.
Young, E. J. My Servants the Prophets. Grand Rapids, 1952.
V. tb. a bibliografia de cada livro profético e de “A teologia do Antigo Testamento” (p. ??)
Moody
F. "Que Temos Falado Contra Ti?" 3:1 - 4:3.
Essencialmente uma recapitulação de 2:17 - 3:6, esta seção dá ao assunto uma ênfase um tanto diferente. Aqui se torna evidente que nem todo o povo da aliança levantou suas vozes contra Deus para acusá-lo de injustiça. O povo justo e temente a Deus encontraria, no dia do Senhor, a libertação, a vitória e ricas bênçãos.
B. A Promessa da Vinda de "Elias". Ml
Deus enviaria um profeta, chamado pelo nome de "Elias", que prepararia o solo moral e espiritual para a vinda de Cristo, e assim desviaria a necessidade de um juízo imediato.
Francis Davidson
Haverá a restauração da ordem moral que existia nos dias pré-exílicos. Os ímpios serão punidos, queimados como rastolho (4.1); os piedosos, por outro lado, serão justificados e curados, como que pelos raios do sol (2). E crescereis (2). A sugestão é de uma vida alegre, vigorosa e livre de preocupações. Naquele dia (3); ver anotações sobre Ml
Horebe (4); isto é, Sinai. O povo é exortado a relembrar a lei de Moisés. Podemos comparar esse versículo com o fim do livro de Eclesiastes: "De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos". Quanto a Elias (5), ver anotação acima, sobre Ml
J. T. H. Adamson.
Profetas Menores
O Encontro com Deus (Cap. 4)
A profecia termina com a promessa da vinda do "Sol da Justiça". Sob o símbolo de uma fornalha, Malaquias descreveu o dia do juízo. "Nosso Deus é um fogo consumidor" (He 12:29). Naquele dia, derreter-se-á o orgulho dos soberbos e dos perversos (He 4:1). Deus destruirá totalmente da terra todo mal, sem deixar nem raiz nem ramo. Para Malaquias, a longa noite de espera precede a gloriosa alvorada do Messias, o sol da justiça, que nascerá para ser a luz do mundo (Jo
O mesmo sol que afugenta as espessas trevas da noite, e dá o conforto do calor depois do frio noturno, também pode queimar. Este Senhor Deus do universo virá para castigar os perversos: "se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o SENHOR dos Exércitos" (Ml
Dicionário
Antes
Asas
(latim ansa, -ae, asa, cabo, atacador de sapato, oportunidade)
1. [Zoologia] Membro anterior das aves.
2.
Entomologia
Apêndice membranoso de vários
3. Parte saliente de um recipiente que serve para lhe pegar. = PEGA
4. Arco (de cesto, cabaz, etc.).
5. Orelha (de alcofa, seirão, etc.).
6. Parte lateral do nariz.
7. Cartilagem na parte superior da orelha.
8. Botânica Pétala lateral das flores das papilionáceas.
9.
[Aeronáutica]
Cada uma das estruturas laterais perpendiculares à fuselagem de uma aeronave, responsáveis pela sua sustentação em
10. Figurado Ligeireza, velocidade, rapidez.
11.
12. Vela de barco ou de moinho.
13. Remo.
14.
[Arquitectura]
[
15. [Marinha] Prolongamento da moldura do beque.
16. [Técnica] Parte da plaina, do serrote ou de outros instrumentos para por ela se empunharem.
17. Anel por onde se dependura um quadro.
18. Parte lateral que faz dobrar o sino.
19.
[Direito]
Diz-se de ou cada um dos magistrados que acompanham o juiz presidente num
arrastar a asa
Requebrar.
bater (as) asas
Pairar, adejar.
Figurado Fugir.
cortar as asas
Retirar a liberdade ou a capacidade de agir.
dar asas
Dar liberdade, soltar a rédea.
querer voar sem ter asas
Empreender qualquer coisa sem ter os meios para o conseguir.
Bezerros
(origem controversa)
1. Vitelo em fase de amamentação (geralmente até à idade de um ano).
2. Pele curtida desse animal.
Cevadouro
Sítio em que se põe a ceva ou isca, para atrair a caça. Variação de cevadoiro.
Etimologia (origem da palavra cevadouro). Cevar + douro.
Cinza
Por Extensão O tempo que passou; o que ficou no passado: as cinzas do casamento.
Por Extensão Sentimento nostálgico sobre o que está no passado: seu amor agora é cinza.
Por Extensão Desolação; o que pode incitar a tristeza, o sofrimento: a cinza da escuridão.
substantivo masculino Cinzento; a cor que está entre o preto e o branco: o cinza é uma cor triste.
adjetivo Aquilo que possui a cor cinzenta, entre o preto e o branco: sapato cinza.
Diz-se da cor cinzenta: olhos de cor cinza.
Figurado Que traz uma sentimento nostálgico, uma lembrança ou saudade: cinza da juventude perdida.
Etimologia (origem da palavra cinza). Do latim cinisia.
Como
Coração
1) Órgão que bombeia o sangue (Ex
2) Em sentido figurado, o coração é a sede do intelecto (Gn
Figurado Parte anterior do peito em que se sente as pulsações cardíacas.
Objeto com a forma estilizada desse órgão: corrente um coração de prata.
Figurado Conjunto das faculdades emocionais; sede da afetividade; caráter, índole: tem um bom coração.
Figurado O que se traz na memória: trago seu nome gravado em meu coração.
Figurado Demonstração de afeição; amor: conquistaste meu coração.
Figurado Parte central de alguma coisa; objeto situado no centro: sua casa fica no coração da cidade.
expressão Coração duro. Coração de pedra; pessoa sem sentimentos.
Coração de leão. Grande coragem.
Coração mole. Predisposição para se comover ou se emocionar.
Coração de ouro. Generosidade, grande bondade.
Abrir o coração. Fazer confidências.
Cortar o coração. Causar grande dor ou constrangimento.
Com o coração nas mãos. Com toda a sinceridade.
De coração ou de todo o coração. Com o máximo de empenho; com toda a boa vontade; com toda a sinceridade.
Sem coração. Diz-se da pessoa insensível.
[Medicina] Coração de atleta. Hipertrofia do coração por excesso de exercício.
[Medicina] Coração artificial. Aparelho destinado a assegurar a circulação do sangue, quando necessário isolar do circuito sanguíneo do coração natural, para uma intervenção cirúrgica.
Etimologia (origem da palavra coração). Pelo espanhol corazón.
Referencia: ABRANCHES, Carlos Augusto• Vozes do Espírito• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - O coração é o meu templo
[...] O coração é o terreno que mais deveremos cultivar, pois é dele que nascem as forças de nossa vida. [...]
Referencia: BARCELOS, Walter• Sexo e evolução• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 5
Espontaneidade do sentimento nos nossos atos, nas idéias e em sua expressão.
Referencia: DELANNE, Gabriel• O fenômeno espírita: testemunho dos sábios• Traduzido da 5a ed• francesa por Francisco Raymundo Ewerton Quadros• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Mediunidades diversas
[...] o coração é mais do que a bomba que impulsiona o sangue por todo o organismo. Sendo o órgão fisiológico mais resistente que se conhece no ser pensante, porquanto começa a pulsar a partir do vigésimo quinto dia de vida do feto, continua em ação palpitando cem mil vezes diariamente, no que resultam quarenta milhões de vezes por ano, e quando cessa a vida se desorganiza, advindo a morte dos equipamentos orgânicos com a sua conseqüente degenerescência. A pouco e pouco, alguns cientistas dão-se conta de que ele é portador de uma energia vital, que o mantém e o impulsiona ininterruptamente. Essa energia seria permutável, podendo ser intercambiada com outros indivíduos que se beneficiariam ou não, conforme o teor de que se constitua, positiva ou negativa, cálida ou fria, estimuladora ou indiferente. Seguindo essa linha de raciocínio, estão concluindo que esse órgão é portador da faculdade de pensar, tornando afirmativa a tradicional voz do coração a que se referem poetas, escritores, artistas, amantes e... Jesus.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Cérebro e coração
Nosso coração é um templo que o Senhor edificou, a fim de habitar conosco para sempre.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Libertação• Pelo Espírito André Luiz• 29a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 18
Debaixo
Por Extensão Num estado inferior; em condição decadente: a depressão deixou-se um pouco debaixo.
Debaixo de. Em situações inferiores; sob: coloquei meus livros debaixo da mesa.
Gramática Não confundir o advérbio "debaixo" com a locução adverbial "de baixo": o escritório fica no andar de baixo.
Etimologia (origem da palavra debaixo). De + baixo.
Dia
Referencia: LIMA, Antônio• Vida de Jesus: baseada no Espiritismo: estudo psicológico• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - O Velho Testamento
[...] todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ceifa de luz• Pelo Espírito Emmanuel• 1a ed• especial• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 22
Cada dia é oportunidade de ascensão ao melhor.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Correio fraterno• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 58
[...] cada dia é um ramo de bênçãos que o Senhor nos concede para nosso aperfeiçoamento.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
No livro da existência, cada dia é uma página em branco que confiarás ao tempo, gravada com teus atos, palavras e pensamentos.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
Cada dia é nova oportunidade de orar, de servir e semear. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
Cada dia é desafio sereno da Natureza, constrangendo-nos docemente à procura de amor e sabedoria, paz e elevação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
Cada dia é a oportunidade desvendada à vitória pessoal, em cuja preparação falamos seguidamente de nós, perdendo-lhe o valor.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
Cada dia é um país de vinte e quatro províncias. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
Cada dia é oportunidade de realizar o melhor. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
[...] o dia que deixas passar, vazio e inútil, é, realmente, um tesouro perdido que não mais voltará.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Diante do tempo
O dia e a noite constituem, para o homem, uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor no-lo permite.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Os Mensageiros• Pelo Espírito André Luiz• 41a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 41
[...] Cada dia é uma página que preencherás com as próprias mãos, no aprendizado imprescindível. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Pontos e contos• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1999• - cap• 31
[...] O dia constitui o ensejo de concretizar as intenções que a matinal vigília nos sugere e que à noite balanceamos.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Renúncia• Pelo Espírito Emmanuel• 34a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - pt• 1, cap• 6
1) Período de 24 horas (Rm
v. HORAS).
2) Tempo em que a terra está clara (Rm
3) O tempo de vida (Ex
4) Tempos (Fp
Claridade, luz do sol: o dia começa a despontar.
As horas em que o trabalhador tem obrigação de trabalhar: perder o dia.
Situação que caracteriza algo; circunstância: aguardemos o dia propício.
Época atual; atualidade: as notícias do dia.
Condição climática; estado da atmosfera: dia claro.
Duração de vinte e quatro horas que corresponde ao movimento de rotação da Terra sobre si mesma.
Etimologia (origem da palavra dia). Do latim dies.ei.
Claridade, luz do sol: o dia começa a despontar.
As horas em que o trabalhador tem obrigação de trabalhar: perder o dia.
Situação que caracteriza algo; circunstância: aguardemos o dia propício.
Época atual; atualidade: as notícias do dia.
Condição climática; estado da atmosfera: dia claro.
Duração de vinte e quatro horas que corresponde ao movimento de rotação da Terra sobre si mesma.
Etimologia (origem da palavra dia). Do latim dies.ei.
Claridade, luz do sol: o dia começa a despontar.
As horas em que o trabalhador tem obrigação de trabalhar: perder o dia.
Situação que caracteriza algo; circunstância: aguardemos o dia propício.
Época atual; atualidade: as notícias do dia.
Condição climática; estado da atmosfera: dia claro.
Duração de vinte e quatro horas que corresponde ao movimento de rotação da Terra sobre si mesma.
Etimologia (origem da palavra dia). Do latim dies.ei.
Claridade, luz do sol: o dia começa a despontar.
As horas em que o trabalhador tem obrigação de trabalhar: perder o dia.
Situação que caracteriza algo; circunstância: aguardemos o dia propício.
Época atual; atualidade: as notícias do dia.
Condição climática; estado da atmosfera: dia claro.
Duração de vinte e quatro horas que corresponde ao movimento de rotação da Terra sobre si mesma.
Etimologia (origem da palavra dia). Do latim dies.ei.
Diz
(latim dico, -ere)
1. Exprimir por meio de palavra, por escrito ou por sinais (ex.: dizer olá).
2. Referir, contar.
3. Depor.
4. Recitar; declamar (ex.: dizer poemas).
5. Afirmar (ex.: eu digo que isso é mentira).
6. Ser voz pública (ex.: dizem que ele é muito honesto).
7. Exprimir por música, tocando ou cantando.
8. Condizer, corresponder.
9. Explicar-se; falar.
10. Estar (bem ou mal) à feição ou ao corpo (ex.: essa cor não diz bem). = CONVIR, QUADRAR
11. Intitular-se; afirmar ser.
12. Chamar-se.
13. Declarar o jogo que se tem ou se faz.
14. Expressão, dito (ex.: leu os dizeres do muro).
15. Estilo.
16. Maneira de se exprimir.
17. Rifão.
18. Alegação, razão.
quer dizer
Expressão usada para iniciar uma explicação adicional em relação a algo que foi dito anteriormente.
=
ISTO É, OU SEJA
tenho dito
Fórmula com que se dá por concluído um discurso, um arrazoado, etc.
Eis
Eis que/quando. De maneira inesperada; subitamente: eis que, inesperadamente, o cantor chegou.
Etimologia (origem da palavra eis). De origem questionável.
Elias
1. Veja Elias, o profeta.
2. Um dos filhos de Jeroão e líder de clã. Era benjamita e vivia em Jerusalém (1Cr
3. Descendente de Harim, um dos que, ao invés de desposar mulheres da própria tribo, casaram-se com estrangeiras (Ed
4. Descendente de Elão. Também é mencionado como um dos que se casaram com mulheres estrangeiras (Ed
Envio
Estatutos
Faraó
1) (Gn
2) (Gen 39—50:
3) (Exo 1—15:
4) (1Cr
5) (1Rs
7) (2Rs
8) (Jr
Título comumente utilizado na Bíblia para os reis do Egito, que significa “casa grande”. Existem evidências concretas de fontes egípcias de que a palavra “faraó” podia ser usada simplesmente como um título, como é encontrada freqüentemente na Bíblia. Vários faraós são mencionados nas Escrituras e muito raramente são identificados (Neco é identificado em II Reis
P.D.G.
Farão
Ação de alterar ou modificar a aparência de: eles farão mudanças na igreja.
Ato de desenvolver ou de realizar algum tipo de trabalho: eles farão o projeto.
Ação de alcançar certa idade: eles farão 30 anos amanhã!
Etimologia (origem da palavra farão). Forma regressiva de fazer.
Filhós
Fira
(latim ferio, -ire, bater, ferir, matar, imolar, sacrificar)
1. Dar golpe ou golpes em; fazer ferida em.
2. Travar (combate).
3. Fazer soar. = TANGER, TOCAR
4. Ofender.
5. Impressionar.
6. Causar sensação a.
7. Punir.
8. Articular.
9. Pronunciar.
10. Prejudicar.
11. Dar de cheio em.
12. Agitar.
13. Dar golpes.
14. Bater, tocar.
15. Fazer-se um ferimento.
16. Magoar-se, ressentir-se.
Forno
Obra análoga mas aberta por cima, para fabricar louça, cal, tijolos etc.
Compartimento de fogão onde se cozem ou assam quaisquer iguarias.
Figurado Lugar muito quente: esta sala é um forno.
[Brasil] Espécie de tacho para torrar mandioca ou milho.
Forno elétrico, forno muito empregado em metalurgia, no qual o calor é fornecido pelo arco elétrico ou por uma resistência percorrida por uma corrente intensa.
Forno solar, espelho côncavo de grande diâmetro, que concentra os raios solares em seu foco, produzindo uma temperatura muito elevada.
Baixo forno.
verbo BAIXO-FORNO.
Alto forno.
verbo ALTO-FORNO.
Forno de microondas, aquele no qual a radiação de ondas eletromagnéticas de hiperfrequência permite um cozimento, reaquecimento ou descongelamento de alimentos muito rápidos.
Grande
Comprido, extenso ou longo: uma corda grande.
Sem medida; excessivo: grandes vantagens.
Numeroso; que possui excesso de pessoas ou coisas: uma grande manifestação; uma grande quantia de dinheiro.
Que transcende certos parâmetros: grande profundeza.
Que obteve fortes consequências: grande briga; grandes discussões.
Forte; em que há intensidade: grande pesar.
Com muita eficiência: a água é um grande medicamento natural.
Importante; em que há importância: uma grande instituição financeira.
Adulto; que não é mais criança: o menino já está grande.
Notável; que é eficiente naquilo que realiza: um grande músico.
Cujos atributos morais e/ou intelectuais estão excesso: grande senhor.
Magnânimo; que exprime um comportamento nobre.
Fundamental; que é primordial: de grande honestidade.
Que caracteriza algo como sendo bom; positivo: uma grande qualidade.
Que é austero; rígido: um grande problema.
Território circundado por outras áreas adjacentes: a Grande Brasília.
substantivo masculino Pessoa que se encontra em idade adulta.
Quem tem muito poder ou influência: os grandes estavam do seu lado.
Etimologia (origem da palavra grande). Do latim grandis.e.
Horebe
Impiedade
Israel
1) Nome dado por Deus a Jacó (Gn
2) Nome do povo composto das 12 tribos descendentes de Jacó (Ex
3) Nome das dez tribos que compuseram o Reino do Norte, em contraposição ao Reino do Sul, chamado de Judá (1Rs
v. o mapa OS REINOS DE ISRAEL E DE JUDÁ).
4) Designação de todo o povo de Deus, a Igreja (Gl
Após a derrota de Bar Kojba em 135 d.C., os romanos passaram a chamar esse território de Palestina, com a intenção de ridicularizar os judeus, recordando-lhes os filisteus, desaparecidos há muito tempo. Pelos evangelhos, compreende-se que a Igreja, formada por judeus e gentios que creram em Jesus, é o Novo Israel.
Y. Kaufmann, o. c.; m. Noth, Historia...; J. Bright, o. c.; S. Hermann, o. c.; f. f. Bruce, Israel y las naciones, Madri 1979; C. Vidal Manzanares, El judeo-cristianismo...
Por Extensão Significado do nome em hebraico: "o homem que vê Deus".
Etimologia (origem da palavra Israel). Do latim Isráél; do grego Israêl; pelo hebraico Yisraél.
Nome dado a Jacó depois que “lutou com Deus” em Peniel (Gn
Por Extensão Significado do nome em hebraico: "o homem que vê Deus".
Etimologia (origem da palavra Israel). Do latim Isráél; do grego Israêl; pelo hebraico Yisraél.
Justiça
O ato de reconhecer o mérito de (algo ou de alguém): a polícia vai fazer justiça neste caso.
Reunião dos organismos que compõem o poder judiciário.
Conjunto de indivíduos que fazem parte da prática da justiça: a justiça precisa buscar melhores condições de trabalho.
Cada uma das seções responsáveis pela administração da justiça; alçada, foro ou instância: Justiça Eleitoral.
Etimologia (origem da palavra justiça). Do latim justitia.ae.
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 875 e 876
Educado, o sentimento de justiça será o sentimento salvador do indivíduo. Sentimento superior por excelência, no ser humano, ele sobrepuja a todos os outros e, por ser o que se apresenta com maior energia para a ação do indivíduo, é que na justiça procuram apoiar-se todas as injustiças que se cometem.
Referencia: AGUAROD, Angel• Grandes e pequenos problemas• Obra ditada a Angel Aguarod pelo seu Guia Espiritual• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 3
J J [...] é o santo nome e a senha que desde o princípio dos tempos vêm escritos em todos os espaços e até na mais diminuta criação do Altíssimo. [...] é a Lei Suprema da Criação, sem que deixe de ser, do mesmo modo, o amor, formando com a justiça um todo perfeito.
Referencia: AGUAROD, Angel• Grandes e pequenos problemas• Obra ditada a Angel Aguarod pelo seu Guia Espiritual• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 6
[...] A justiça é, acima de tudo, amor que corrige e sabedoria que educa.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Loucura e obsessão• Pelo Espírito Manoel P• de Miranda• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 12
[...] É a força harmônica, uma coordenação funcional, adequada da sociedade.
Referencia: LOBO, Ney• Estudos de filosofia social espírita• Rio de Janeiro: FEB, 1992• -
A verdadeira justiça não é a que pune por punir; é a que castiga para melhorar. Tal a justiça de Deus, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Por o terem compreendido assim, foi que os nossos jurisconsultos chegaram a formular estes magníficos axiomas: É imoral toda pena que exceda a gravidade do delito. – É imoral toda pena que transpira vingança, com exclusão da caridade. – É imoral a pena quando, por sua natureza, não tende a fazer que o culpado se emende.
Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 17a efusão
[...] o sentimento de justiça [...] é [...] o pensamento correto refletindo a eqüidade e a misericórdia que fluem de Cima.
Referencia: SOUZA, Juvanir Borges de• Tempo de renovação• Prefácio de Lauro S• Thiago• Rio de Janeiro: FEB, 1989• - cap• 44
Na definição da Doutrina Espírita, a justiça consiste em respeitar cada um os direitos dos demais. Não somente os direitos consagrados nas legislações humanas, mas todos os direitos natu rais compreendidos no sentido amplo de justiça.
Referencia: SOUZA, Juvanir Borges de• Tempo de transição• Prefácio de Francisco Thiesen• 2a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1990• - cap• 17
[...] é fundamento do Universo [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Cartas e crônicas• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - cap• 17
[...] a justiça é sempre a harmonia perfeita.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Instruções psicofônicas• Recebidas de vários Espíritos, no “Grupo Meimei”, e organizadas por Arnaldo Rocha• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1
[...] a justiça, por mais dura e terrível, é sempre a resposta da Lei às nossas próprias obras [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Jornada acima
A justiça é uma árvore estéril se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Luz acima• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 9a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 19
[...] a justiça esclarecida é sempre um credor generoso, que somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os antigos débitos [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Reportagens de Além-túmulo• Pelo Espírito Humberto de Campos• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 5
Todos nós precisamos da justiça, porque a justiça é a lei, em torno de situações, pessoas e coisas; fora dela, a iniqüidade é capaz de premiar o banditismo, em nome do poder. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• Estude e viva• Pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 21
Justiça Divina [...] a Justiça de Deus [...] é a própria perfeição.
Referencia: Ó, Fernando do• Almas que voltam• 12a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Epíl•
[...] A Justiça do Pai é equânime e ninguém fica impune ou marginalizado diante de suas leis, mas, ela é, sobretudo, feita de amor e misericórdia, possibilitando ao faltoso renovadas ensanchas de redenção [...].
Referencia: SCHUBERT, Suely Caldas• Obsessão/desobsessão: profilaxia e terapêutica espíritas• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - pt• 1, cap• 11
1) Atributo pelo qual, ao tratar com as pessoas, Deus age de acordo com as normas e exigências da perfeição de sua própria natureza (Sl
2) Ato pelo qual Deus, em sua graça e em conformidade com a sua ALIANÇA, selada com o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo, perdoa as pessoas fracas, perdidas e sem justiça própria, aceitando-as através da fé (Rm
1. A ação salvadora de Deus (Mt
2. A justificação que Deus faz do pecador, em virtude da fé em Jesus (Mt
3. O comportamento justo de uma pessoa (Mt
Ela parte realmente não do desejo de se ganhar a salvação pelos próprios méritos, mas da gratuidade porque nós já a recebemos.
K. Barth, o. c.; J. Driver, Militantes...; C. Vidal Manzanares, De Pentecostés...
Lei
[Jurídico] Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda: promulgar uma lei.
[Jurídico] Conjunto desses atos: a ninguém é lícito ignorar a lei.
[Física] Enunciado de uma propriedade física verificada de modo preciso: a lei da gravidade dos corpos.
Obrigação da vida social: as leis da honra, da polidez.
Autoridade imposta a alguém: a lei do vencedor.
expressão Lei divina. Conjunto dos preceitos que Deus ordenou aos homens pela revelação.
Leis de guerra. Conjunto das regras (tratamento dispensado a feridos, prisioneiros etc.) admitidas por numerosos Estados que se comprometeram a respeitá-las em caso de guerra.
Lei marcial. Lei que autoriza a intervenção armada em caso de perturbações internas.
Lei moral. Lei que nos ordena praticar o bem e evitar o mal.
Lei natural. Conjunto de normas de conduta baseadas na própria natureza do homem e da sociedade.
Lei orgânica. Lei relativa à organização dos poderes públicos, sem caráter constitucional.
Etimologia (origem da palavra lei). Do latim lex.legis, "consolidação".
[Jurídico] Ato da autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda: promulgar uma lei.
[Jurídico] Conjunto desses atos: a ninguém é lícito ignorar a lei.
[Física] Enunciado de uma propriedade física verificada de modo preciso: a lei da gravidade dos corpos.
Obrigação da vida social: as leis da honra, da polidez.
Autoridade imposta a alguém: a lei do vencedor.
expressão Lei divina. Conjunto dos preceitos que Deus ordenou aos homens pela revelação.
Leis de guerra. Conjunto das regras (tratamento dispensado a feridos, prisioneiros etc.) admitidas por numerosos Estados que se comprometeram a respeitá-las em caso de guerra.
Lei marcial. Lei que autoriza a intervenção armada em caso de perturbações internas.
Lei moral. Lei que nos ordena praticar o bem e evitar o mal.
Lei natural. Conjunto de normas de conduta baseadas na própria natureza do homem e da sociedade.
Lei orgânica. Lei relativa à organização dos poderes públicos, sem caráter constitucional.
Etimologia (origem da palavra lei). Do latim lex.legis, "consolidação".
(1). eram, até certo ponto, regulamentos sanitários. E era isto um dos fins daquelas disposições, referentes às várias purificações, à separação dos leprosos, e à distinção de alimentos, etc.
(2). Serviam para perpetuar entre os israelitas o conhecimento do verdadeiro Deus, para manter a reverência pelas coisas santas, para a manifestação de sentimentos religiosos na vida de todos os dias, e em todas as relações sociais. Dum modo particular eram as festas sagradas fatores de valor para a consecução destes fins.
(3). Tinham, além disso, o efeito de evitar que os israelitas se tornassem estreitamente relacionados com as nações circunvizinhas (Ef
(4). Estas observâncias tinham outros usos na sua simbólica significação. Em conformidade com o estado moral e intelectual do povo que não tinha ainda capacidade para prontamente alcançar as verdades divinas, eram as coisas espirituais representadas por objetos exteriores e visíveis. E assim, as idéias de pureza moral e de santidade divina eram comunicadas e alimentadas pelas repetidas abluções das pessoas e moradas – pela escolha de animais limpos para o sacrifício – pela perfeição sem mácula, que se requeria nas vítimas oferecidas – e pela limitação das funções sacerdotais a uma classe de homens que eram especialmente consagrados a estes deveres, e que se preparavam com repetidas purificações. Além disso, pela morte da vítima expiatória, para a qual o pecador tinha simbolicamente transferido os seus pecados pondo as mãos sobre a cabeça do animal e oferecendo a Deus o sangue que representava a vida, ensinava-se a importante verdade de que o pecado merecia um castigo extremo, que somente podia ser desviado sacrificando-se outro ser em substituição. E desta maneira, por meio de símbolos impressivos, lembravam-se constantemente os piedosos israelitas da justiça e santidade da violada Lei, da sua própria culpa, e de quanto necessitavam da misericórdia divina – e quando eram efe
Referencia: ROUSTAING, J•B• (Coord•)• Os quatro evangelhos: Espiritismo cristão ou revelação da revelação• Pelos Evangelistas assistidos pelos Apóstolos e Moisés• Trad• de Guillon Ribeiro• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1988• 4 v• - v• 1
[...] A lei é uma força viva que se identifica conosco e vai acompanhando o surto de evolução que ela mesma imprime em nosso espírito. [...]
Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• Nas pegadas do Mestre: folhas esparsas dedicadas aos que têm fome e sede de justiça• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Pecado sem perdão
A lei é a consciência do delito. [...]A lei [...] é um freio para coibir o mal.[...] A lei personifica a justiça [...].
Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• Nas pegadas do Mestre: folhas esparsas dedicadas aos que têm fome e sede de justiça• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Três grandes símbolos
A lei é conjunto eterno / De deveres fraternais: / Os anjos cuidam dos homens, / Os homens dos animais.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Cartilha da Natureza• Pelo Espírito Casimiro Cunha• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Os animais
1) Vontade de Deus revelada aos seres humanos em palavras, julgamentos, preceitos, atos, etc. (Ex
2) PENTATEUCO (Lc
4) Os DEZ MANDAMENTOS (Ex
Maldição
Palavras com que uma pessoa deseja que advenham males a outra; praga.
Desgraça, fatalidade: a maldição caiu sobre o infeliz.
Moisés
36) e para prepará-los a fim de entrarem na terra de Canaã (Deu 1—33). Nasceu de pais israelitas, mas foi adotado pela filha do faraó do Egito, onde foi educado (Ex
3) Por mais 40 anos Moisés cumpriu o mandado de Deus e morreu às portas da terra de Canaã, no monte NEBO (Dt 34). Alguns estudiosos colocam a data da morte de Moisés em torno de 1440 a.C., e outros a colocam por volta de 1225 a.C., dependendo da posição sob
A figura de Moisés é de uma enorme importância e a ele se atribui a formação de um povo cuja vida centrar-se-ia no futuro, certamente com altos e baixos, mas em torno do monoteísmo.
O judaísmo da época de Jesus considerava-o autor da Torá (Mt
J. Bright, o. c.; S. Hermann, o. c.; f. f. Bruce, Israel y...; f. f. Bruce, Acts...; C. Vidal Manzanares, El Hijo de Ra, Barcelona 1992; Idem, El judeo-cristianismo...
Religião Profeta que, para cristãos e judeus, foi responsável pela escritura dos dez mandamentos e dos cinco primeiros livros da Bíblia (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio), sendo a junção destes o livro sagrado dos Judeus (a Torá ou Tora); nesta acepção, usar com letras maiúsculas.
Etimologia (origem da palavra moisés). Do nome próprio Moisés, do hebraico "Moshe", talvez do termo egípcio "mesu",.
Moisés era filho de Anrão (da tribo de Levi) e Joquebede; era irmão de Arão e Miriã. Nasceu durante os terríveis anos em que os egípcios decretaram que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos ao nascer. Seus pais o esconderam em casa e depois o colocaram no meio da vegetação, na margem do rio Nilo, dentro de um cesto de junco. A descoberta daquela criança pela princesa, filha de Faraó, foi providencial e ela salvou a vida do menino. Seu nome, que significa “aquele que tira” é um lembrete desse começo obscuro, quando sua mãe adotiva lhe disse: “Eu o tirei das águas”.
Mais tarde, o Senhor o chamou para ser líder, por meio do qual falaria com Faraó, tiraria seu povo do Egito e o levaria à Terra Prometida. No processo desses eventos 1srael sofreu uma transformação, pois deixou de ser escravo de Faraó para ser o povo de Deus. Os israelitas formaram uma comunidade, mais conhecida como o povo da aliança, estabelecida pela graça e pela soberania de Deus (veja Aliança).
O Antigo Testamento associa Moisés com a aliança, a teocracia e a revelação no monte Sinai. O grande legislador foi o mediador da aliança mosaica [do Sinai] (Ex
Moisés foi exaltado por meio de sua comunhão especial com o Senhor (Nm
O Senhor confirmou a autoridade de Moisés como seu escolhido, um veículo de comunicação: “A ele me farei conhecer... falarei com ele...” (v. 6; veja Dt
A diferença fundamental entre Moisés e os outros profetas que vieram depois dele está na maneira direta pela qual Deus falava com este seu servo. Ele foi o primeiro a receber, escrever e ensinar a revelação do Senhor. Essa mensagem estendeu-se por todos os aspectos da vida, inclusive as leis sobre santidade, pureza, rituais, vida familiar, trabalho e sociedade. Por meio de Moisés, o Senhor planejou moldar Israel numa “comunidade separada”. A revelação de Deus os tornaria imunes às práticas detestáveis dos povos pagãos, inclusive a adivinhação e a magia. Esta palavra, dada pelo poder do Espírito, transformaria Israel num filho maduro.
A posição e a revelação de Moisés prefiguravam a posição única de Jesus. O grande legislador serviu ao reino de Deus como um “servo fiel” (Hb
Embora Moisés ainda não conhecesse a revelação de Deus em Cristo, viu a “glória” do Senhor (Ex
Moisés, o maior de todos os profetas antes da encarnação de Jesus, falou sobre o ministério de outro profeta (Dt
A esperança escatológica da revelação mosaica não é nada menos do que a presença de Deus no meio de seu povo. A escatologia de Israel começa com as alianças do Senhor com Abraão e Israel. Moisés — o servo de Deus, o intercessor, o mediador da aliança — apontava para além de sua administração, para uma época de descanso. Ele falou sobre este direito e ordenou que todos os membros da comunidade da aliança ansiassem pelo descanso vindouro na celebração do sábado (heb. “descanso”), o sinal da aliança (Ex
Essa esperança, fundamentada na fidelidade de Deus (Dt
O significado escatológico do Hino de Moisés reverbera nas mensagens proféticas de juízo e de esperança, justiça e misericórdia, exclusão e inclusão, vingança e livramento. A administração mosaica, portanto, nunca tencionou ser um fim em si mesma. Era apenas um estágio na progressão do cumprimento da promessa, aliás, um estágio importantíssimo!
Como precursor da tradição profética, Moisés viu mais da revelação da glória de Deus do que qualquer outro homem no Antigo testamento (Ex
Nome
A designação de uma pessoa; nome de batismo: seu nome é Maria.
Sobrenome; denominação que caracteriza a família: ofereceu seu nome.
Família; denominação do grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto ou possuem relação consanguínea: honrava seu nome.
Fama; em que há renome ou boa reputação: tinha nome na universidade.
Apelido; palavra que caracteriza alguém.
Quem se torna proeminente numa certa área: os nomes do cubismo.
Título; palavra ou expressão que identifica algo: o nome de uma pintura.
Gramática Que designa genericamente os substantivos e adjetivos.
Etimologia (origem da palavra nome). Do latim nomen.inis.
v. BENONI); outras vezes expressava uma esperança ou uma profecia (Os
Não
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.
Expressão de oposição; contestação: -- Seus pais se divorciaram? -- Não, continuam casados.
Gramática Numa interrogação, pode expressar certeza ou dúvida: -- você vai à festa, não?
Gramática Inicia uma interrogação com a intenção de receber uma resposta positiva: Não deveria ter chegado antes?
Gramática Usado repetidamente para enfatizar a negação: não quero não!
substantivo masculino Ação de recusar, de não aceitar; negativa: conseguiu um não como conselho.
Etimologia (origem da palavra não). Do latim non.
Palha
Porção ou paveia dessas hastes.
Substância semelhante à palha.
País
Área política, social e geograficamente demarcada, sendo povoada por indivíduos com costumes, características e histórias particulares.
Designação de qualquer extensão de terra, local, território ou região.
Reunião das pessoas que habitam uma nação.
Reunião do que está relacionado com um grupo de pessoas, situação econômica, hábitos culturais, comportamentais, morais etc.; meio.
Figurado Local cujos limites não foram demarcados; lugar: país das maravilhas.
Etimologia (origem da palavra país). Do francês pays/ pelo latim pagensis.
Área política, social e geograficamente demarcada, sendo povoada por indivíduos com costumes, características e histórias particulares.
Designação de qualquer extensão de terra, local, território ou região.
Reunião das pessoas que habitam uma nação.
Reunião do que está relacionado com um grupo de pessoas, situação econômica, hábitos culturais, comportamentais, morais etc.; meio.
Figurado Local cujos limites não foram demarcados; lugar: país das maravilhas.
Etimologia (origem da palavra país). Do francês pays/ pelo latim pagensis.
Plantas
(latim planta, -ae)
1. Todo e qualquer vegetal considerado como indivíduo ou como espécie determinada.
2. Vegetal que não dá madeira (por oposição a árvore).
3. O mesmo que planta do pé.
4.
Desenho ou traçado de uma cidade, edifício, etc., em
planta cortical
Planta
planta do pé
Parte do pé que assenta no chão.
=
SOLA
planta sarmentosa
Aquela cuja haste é comprida, flexível e trepadora como os sarmentos das vides.
planta vascular
Planta cujo tecido possui vasos.
(latim planto, -are)
1. Meter na terra (alguma planta) para que se desenvolva.
2. Semear ou cultivar alguma espécie vegetal ou algum espaço.
3. [Por extensão] Fincar na terra verticalmente. = ASSENTAR, COLOCAR
4. Estabelecer, fundar, construir.
5. Introduzir ou fazer nascer uma ideia, um sentimento. = IMPLANTAR, INCULCAR, INSTILAR
6. Fazer, praticar.
7. Fixar, colocar, pôr.
8. [Informal] Aplicar com força (ex.: plantou-lhe uma estalada).
9. Deixar ou ficar parado em algum sítio durante algum tempo. = ESTACIONAR
10. Colocar-se, pôr-se, conservar-se a pé firme nalgum lugar.
(planta + -ar)
Relativo à planta do pé.
Profeta
Embora Moisés fosse o maior de todos os profetas (Dt
O primeiro (Samuel, Natã, Elias, Eliseu) não deixou obras escritas e, ocasionalmente, viveu em irmandades proféticas conhecidas como “filhos dos profetas”.
O segundo (Amós 1saías, Jeremias etc.) deixou obras escritas. A atividade profética estendia-se também às mulheres, como foi o caso de Maria (Ex
Nos evangelhos, Jesus é apresentado como o Profeta; não um profeta melhor, mas o Profeta escatológico anunciado por Moisés em Dt
L. A. Schökel, o. c.; A. Heschel, o. c.; I. I. Mattuck, El pensamiento de los profetas, 1971; G. von Rad, Teología...; vol. II; J. D. G. Dunn, “Prophetic I-Sayings and the Jesus Tradition: The Importance of Testing Prophetic Utterances within Early Christianity” em NTS, 24, 1978, pp. 175-198; D. Hill, New Testament Prophecy, Atlanta 1979; D. E. Aune, Prophecy in Early Christianity, Grand Rapids 1983; G. f. Hawthorne, The Presence and the Power: The Significance of the Holy Spirit in the Life and Ministry of Jesus, Dallas, 1991; C. Vidal Manzanares, El judeo-cristianismo...; Resenha Bíblica, n. 1, Los profetas, Estella 1994.
====================
O PROFETA
O novo Moisés, o profeta prometido (Dt
=====================
OS PROFETAS
Maneira de os israelitas se referirem à segunda divisão da Bíblia Hebraica (Mt
Referencia: KARDEC, Allan• O Evangelho segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 3a ed• francesa rev•, corrig• e modif• pelo autor em 1866• 124a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 21, it• 4
O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. [...]
Referencia: KARDEC, Allan• O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita• Trad• de Guillon Ribeiro• 86a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - q• 624
Em sentido restrito, profeta é aquele que adivinha, prevê ou prediz o futuro. No Evangelho, entretanto, esse termo tem significação mais extensa, aplicando-se a todos os enviados de Deus com a missão de edificarem os homens nas coisas espirituais, mesmo que não façam profecias.
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• O Sermão da Montanha• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Pelos seus frutos os conhecereis
Em linguagem atual, poderíamos definir os profetas como médiuns, indivíduos dotados de faculdades psíquicas avantajadas, que lhes permitem falar e agir sob inspiração espiritual.
Referencia: SIMONETTI, Richard• A voz do monte• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - Profetas transviados
Pés
2. Descalçar: ato de servidão reservado aos escravos (Mc
3. Sentar-se aos pés: ser discípulo de alguém (Lc
4. Depositar aos pés: confiar algo a alguém (Mt
5. Sacudir o pó dos pés: expressar ruptura ou mesmo o juízo que recaíra sobre a outra pessoa (Mt
6. Lavar os pés: sinal de humildade e serviço que Jesus realizou com seus discípulos durante a Última Ceia, e espera-se que estes o repitam entre si (Jo
Raiz
Botânica Parte por meio da qual um órgão é implantado em um tecido: raiz do dente, do cabelo etc.
Base de um objeto, geralmente enterrado no chão.
Parte situada na parte mais baixa de; base: raiz da montanha.
Figurado Princípio de; origem: cortar o mal pela raiz.
Figurado Algo que vincula; vínculo, elo: texto com raízes brasileiras.
Figurado Sentimento entre alguém e seu lugar de nascimento, sua cultura (mais usado no plural): lembrar de suas raízes.
[Odontologia] Parte do dente que está inserida no alvéolo dentário.
[Linguística] Morfema originário irredutível que contém o núcleo significativo comum a uma família linguística.
[Medicina] Aprofundação de certos tumores.
expressão Raiz de uma equação. Valor real ou complexo que satisfaz essa equação.
Botânica Raízes axiais (aprumadas). As que servem de eixo a outras raízes e radicelas: dente-de-leão, amor-dos-homens.
Botânica Raízes fasciculadas. Aquelas que saem em feixes do mesmo ponto; trigo.
Etimologia (origem da palavra raiz). Do latim radix.icis.
Ramo
Divisão ou subdivisão do caule.
Ramalhete: um ramo de rosas.
Ramificação.
Subdivisão de uma artéria, de uma veia, de um nervo.
Subdivisão de uma artéria genealógica: os ramos de uma família.
Especialidade em uma categoria profissional ou atividade.
Domingo de Ramos, último domingo da quaresma.
Salvação
Algo ou alguém que salva, que livra do perigo, de uma situação desagradável: o professor foi sua salvação.
Religião Libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo.
Felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte.
Ajuda que liberta de uma situação muito difícil; redenção.
Saída de uma circunstância complicada para outra mais fácil; triunfo.
Etimologia (origem da palavra salvação). Do latim salvatio.onis.
Algo ou alguém que salva, que livra do perigo, de uma situação desagradável: o professor foi sua salvação.
Religião Libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo.
Felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte.
Ajuda que liberta de uma situação muito difícil; redenção.
Saída de uma circunstância complicada para outra mais fácil; triunfo.
Etimologia (origem da palavra salvação). Do latim salvatio.onis.
Referencia: MARCUS, João (Hermínio C• Miranda)• Candeias na noite escura• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 12
[...] iluminação de si mesma [da alma], a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no Infinito.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 225
Ensinar para o bem, através do pensamento, da palavra e do exemplo, é salvar.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• No mundo maior• Pelo Espírito André Luiz• 24a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - cap• 15
Salvação – libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie à construção da própria felicidade, nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 8
1) Ato pelo qual Deus livra a pessoa de situações de perigo (Is
2) Ato e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais, por meio de Cristo Jesus (Lc
C. Vidal Manzanares, El judeo-cristianismo...; Idem, El Primer Evangelio...; Idem, Diccionario de las tres...; G. E. Ladd, Theology...; E. P. Sanders, Paul and...; E. “Cahiers Evangile”, Liberación humana y salvación en Jesucristo, Estella 71991.
Senhor
1) (Propriamente dito: hebr. ADON; gr. KYRIOS.) Título de Deus como dono de tudo o que existe, especialmente daqueles que são seus servos ou escravos (Sl
2) (hebr. ????, YHVH, JAVÉ.) Nome de Deus, cuja tradução mais provável é “o Eterno” ou “o Deus Eterno”. Javé é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim (Ex
Em algumas ocasiões, Jesus foi chamado de “senhor”, como simples fórmula de cortesia. Ao atribuir a si mesmo esse título, Jesus vai além (Mt
Finalmente, a fórmula composta “Senhor dos Senhores” (tomada de Dt
W. Bousset, Kyrios Christos, Nashville 1970; J. A. Fitzmyer, “New Testament Kyrios and Maranatha and Their Aramaic Background” em To Advance the Gospel, Nova York 1981, pp. 218-235; L. W. Hurtado, One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, Filadélfia 1988; B. Witherington III, “Lord” em DJG, pp. 484-492; O. Cullmann, o. c.; C. Vidal Manzanares, “Nombres de Dios” en Diccionario de las tres...; Idem, El judeo-cristianismo...; Idem, El Primer Evangelio...
História Aquele que tinha autoridade feudal sobre certas pessoas ou propriedades; proprietário feudal.
Pessoa nobre, de alta consideração.
Gramática Forma de tratamento cerimoniosa entre pessoas que não têm intimidade e não se tratam por você.
Soberano, chefe; título honorífico de alguns monarcas.
Figurado Quem domina algo, alguém ou si mesmo: senhor de si.
Dono de casa; proprietário: nenhum senhor manda aqui.
Pessoa distinta: senhor da sociedade.
Antigo Título conferido a pessoas distintas, por posição ou dignidade de que estavam investidas.
Antigo Título de nobreza de alguns fidalgos.
Antigo O marido em relação à esposa.
adjetivo Sugere a ideia de grande, perfeito, admirável: ele tem um senhor automóvel!
Etimologia (origem da palavra senhor). Do latim senior.onis.
Referencia: LIMA, Antônio• Vida de Jesus: baseada no Espiritismo: estudo psicológico• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - Pelo Evangelho
Servo
Quem age com obediência ou servindo alguém: servo de Deus.
História Numa sociedade feudal, quem pertencia a um senhor sem ser escravo.
Quem oferece ou realiza serviços; criado.
Quem se submete ao poder de um senhor por pressão ou violência.
adjetivo Que não é livre; cuja liberdade foi retirada.
Que está sujeito aos poderes de um senhor; escravo.
Que realiza ou oferece serviços; serviçal.
Etimologia (origem da palavra servo). Do latim servus.i.
Quem age com obediência ou servindo alguém: servo de Deus.
História Numa sociedade feudal, quem pertencia a um senhor sem ser escravo.
Quem oferece ou realiza serviços; criado.
Quem se submete ao poder de um senhor por pressão ou violência.
adjetivo Que não é livre; cuja liberdade foi retirada.
Que está sujeito aos poderes de um senhor; escravo.
Que realiza ou oferece serviços; serviçal.
Etimologia (origem da palavra servo). Do latim servus.i.
1) Empregado (Mt
2) ESCRAVO (Gn
3) Pessoa que presta culto e obedece a Deus (Dn
Serão
Soberbos
(latim superbus, -a, -um, altivo, orgulhoso, soberbo, magnífico, esplêndido)
1. Que tem soberba.
2. Orgulhoso.
3. Majestoso; grandioso; belo, sublime; altivo.
4. O que tem soberba.
Sol
Por Extensão O período diurno, matutino; o dia em oposição à noite.
A luz e o calor emanados por essa Estrela: evitava o sol do meio-dia.
A imagem do Sol, basicamente um círculo com raios que saem do seu contorno.
Figurado Ideia influente ou princípio que influencia.
P.met. Aquilo que ilumina, guia; farol.
[Astronomia] Qualquer estrela que faça parte do sistema planetário.
Etimologia (origem da palavra sol). Do latim sol.solis.
substantivo masculino A quinta nota musical da escala de dó.
O sinal que representa essa nota.
Primeira corda do contrabaixo; quarta corda do violino; terceira nota do violoncelo.
Etimologia (origem da palavra sol). Da nota musical sol.
Por Extensão O período diurno, matutino; o dia em oposição à noite.
A luz e o calor emanados por essa Estrela: evitava o sol do meio-dia.
A imagem do Sol, basicamente um círculo com raios que saem do seu contorno.
Figurado Ideia influente ou princípio que influencia.
P.met. Aquilo que ilumina, guia; farol.
[Astronomia] Qualquer estrela que faça parte do sistema planetário.
Etimologia (origem da palavra sol). Do latim sol.solis.
substantivo masculino A quinta nota musical da escala de dó.
O sinal que representa essa nota.
Primeira corda do contrabaixo; quarta corda do violino; terceira nota do violoncelo.
Etimologia (origem da palavra sol). Da nota musical sol.
Referencia: SANT’ANNA, Hernani T• Notações de um aprendiz• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - cap• 1
O Sol, gerando energias / – Luz do Senhor a brilhar – / É a força da Criação / Servindo sem descansar.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Correio fraterno• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 18
O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos equilibrados na sua atração, dentro do Infinito.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 10
[...] Nosso Sol é a divina matriz da vida, e a claridade que irradia provém do autor da Criação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Nosso Lar• Pelo Espírito André Luiz• 56a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2006• - cap• 3
Agradeçamos ao Senhor dos Mundos a bênção do Sol! Na Natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo, nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos, dentro do siste ma. Ele está em “Nosso Lar”, de acordo com os elementos básicos de vida, e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da Crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina 5ênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais!
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Os Mensageiros• Pelo Espírito André Luiz• 41a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 33
O Sol constitui para todos os seres fonte inexaurível de vida, calor e luz.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• O Espírito da Verdade: estudos e dissertações em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec• Por diversos Espíritos• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1992• - cap• 42
que atinge as pessoas, seja qual for seu caráter
(Mt
escureceu (Lc
o resplendor dos justos e de Jesus (Mt
ou, em um contexto apocalíptico, a mudança de
condições (Mt
Sorte
Circunstância feliz; fortuna, dita, ventura, felicidade: teve a sorte de sair ileso.
Acaso favorável; coincidência boa: não morreu por sorte.
Solução de um problema e situação que está condicionada ao acaso.
Maneira de decidir qualquer coisa por acaso; sorteio: muitos magistrados de Atenas eram escolhidos por sorte.
Práticas que consistem em palavras, gestos etc., com a intenção de fazer malefícios: a sorte operou de modo fulminante.
Figurado Condição de desgraça; infelicidade persistente; azar.
Modo próprio; modo, jeito, maneira.
Condição da vida, da existência.
Maneira através da qual alguém alcança algo; termo.
Qualquer classe, gênero, espécie, qualidade: toda sorte de animais.
Bilhete ou senha com a declaração do prêmio que se ganhou em jogo de azar; o sorteio em que esse bilhete é atribuído.
Porção, quinhão que toca por sorteio ou partilha.
expressão Sorte grande. O maior prêmio da loteria.
A sorte está lançada. A decisão foi tomada.
locução conjuntiva De sorte que. De maneira que, de modo que, de tal forma que.
locução adverbial Desta sorte. Assim, deste modo.
Etimologia (origem da palavra sorte). Do latim sors, sortis “sorte”.
São
Que não está estragado: esta fruta ainda está sã.
Que contribui para a saúde; salubre: ar são.
Figurado Concorde com a razão; sensato, justo: política sã.
Por Extensão Que não está bêbado nem embriagado; sóbrio: folião são.
Sem lesão nem ferimento; ileso, incólume: são e salvo.
Que age com retidão; justo: julgamento são; ideias sãs.
Em que há sinceridade, franqueza; franco: palavras sãs.
substantivo masculino Parte sadia, saudável, em perfeito estado de algo ou de alguém.
Aquele que está bem de saúde; saudável.
Característica da pessoa sã (sensata, justa, sincera, franca).
Condição do que está completo, perfeito.
expressão São e salvo. Que não corre perigo: chegou em casa são e salvo!
Etimologia (origem da palavra são). Do latim sanus.a.um.
substantivo masculino Forma abreviada usada para se referir a santo: São Benedito!
Etimologia (origem da palavra são). Forma sincopada de santo.
Que não está estragado: esta fruta ainda está sã.
Que contribui para a saúde; salubre: ar são.
Figurado Concorde com a razão; sensato, justo: política sã.
Por Extensão Que não está bêbado nem embriagado; sóbrio: folião são.
Sem lesão nem ferimento; ileso, incólume: são e salvo.
Que age com retidão; justo: julgamento são; ideias sãs.
Em que há sinceridade, franqueza; franco: palavras sãs.
substantivo masculino Parte sadia, saudável, em perfeito estado de algo ou de alguém.
Aquele que está bem de saúde; saudável.
Característica da pessoa sã (sensata, justa, sincera, franca).
Condição do que está completo, perfeito.
expressão São e salvo. Que não corre perigo: chegou em casa são e salvo!
Etimologia (origem da palavra são). Do latim sanus.a.um.
substantivo masculino Forma abreviada usada para se referir a santo: São Benedito!
Etimologia (origem da palavra são). Forma sincopada de santo.
Terra
Camada superficial do globo em que nascem as plantas, por oposição à superfície líquida: os frutos da terra.
Terreno, com relação à sua natureza: terra fértil.
País de nascimento; pátria: morrer em terra estrangeira.
Qualquer lugar, localidade; território, região: não conheço aquela terra.
Figurado Lugar onde pessoas estão sepultadas; cemitério: repousar em terra sagrada.
Pó de terra seca no ar; poeira: estou com o rosto cheio de terra.
[Artes] Diz-se de um estilo de dança em que se dá especial importância aos passos executados ao rés do solo ou sobre as pontas dos pés; opõe-se à dança de elevação, que usa os grandes saltos.
[Gráficas] Pigmento usado na feitura de tintas, ou as tintas preparadas com esse pigmento.
expressão Beijar a terra. Cair ao chão: o lutador beijou a terra entes da hora.
Linha de terra. Em geometria descritiva, interseção do plano horizontal e do vertical de projeção.
Terra de Siena. Ocre pardo usado em pintura.
Terra vegetal. Parte do solo misturada com humo, próprio para plantação.
Terra Santa. Região situada entre o rio Jordão e o mar mediterrâneo; Palestina.
Etimologia (origem da palavra terra). Do latim terra.
Camada superficial do globo em que nascem as plantas, por oposição à superfície líquida: os frutos da terra.
Terreno, com relação à sua natureza: terra fértil.
País de nascimento; pátria: morrer em terra estrangeira.
Qualquer lugar, localidade; território, região: não conheço aquela terra.
Figurado Lugar onde pessoas estão sepultadas; cemitério: repousar em terra sagrada.
Pó de terra seca no ar; poeira: estou com o rosto cheio de terra.
[Artes] Diz-se de um estilo de dança em que se dá especial importância aos passos executados ao rés do solo ou sobre as pontas dos pés; opõe-se à dança de elevação, que usa os grandes saltos.
[Gráficas] Pigmento usado na feitura de tintas, ou as tintas preparadas com esse pigmento.
expressão Beijar a terra. Cair ao chão: o lutador beijou a terra entes da hora.
Linha de terra. Em geometria descritiva, interseção do plano horizontal e do vertical de projeção.
Terra de Siena. Ocre pardo usado em pintura.
Terra vegetal. Parte do solo misturada com humo, próprio para plantação.
Terra Santa. Região situada entre o rio Jordão e o mar mediterrâneo; Palestina.
Etimologia (origem da palavra terra). Do latim terra.
Referencia: KARDEC, Allan• A Gênese: os milagres e as predições segundo o Espiritismo• Trad• de Guillon Ribeiro da 5a ed• francesa• 48a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 6, it• 23
O nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de Espíritos pouco adiantados e cárcere de Espíritos criminosos. Os males da nossa Humanidade são a conseqüência da inferioridade moral da maioria dos Espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros.
Referencia: KARDEC, Allan• O que é o Espiritismo: noções elementares do mundo invisível, pelas manifestações dos Espíritos• 52a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 3, it• 132
Disse Kardec, alhures, que a Terra é um misto de escola, presídio e hospital, cuja população se constitui, portanto, de homens incipientes, pouco evolvidos, aspirantes ao aprendizado das Leis Naturais; ou inveterados no mal, banidos, para esta colônia correcional, de outros planetas, onde vigem condições sociais mais elevadas; ou enfermos da alma, necessitados de expungirem suas mazelas através de provações mais ou menos dolorosas e aflitivas.
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• O Sermão da Montanha• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça
[...] é oficina de trabalho, de estudo e de realizações, onde nos cumpre burilar nossas almas. [...]
Referencia: CALLIGARIS, Rodolfo• O Sermão da Montanha• 16a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Sede perfeitos
[...] é o calvário dos justos, mas é também a escola do heroísmo, da virtude e do gênio; é o vestíbulo dos mundos felizes, onde todas as penas aqui passadas, todos os sacrifícios feitos nos preparam compensadoras alegrias. [...] A Terra é um degrau para subir-se aos céus.
Referencia: DENIS, Léon• Joana d’Arc médium• Trad• de Guillon Ribeiro• 22a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 11
O mundo, com os seus múltiplos departamentos educativos, é escola onde o exercício, a repetição, a dor e o contraste são mestres que falam claro a todos aqueles que não temam as surpresas, aflições, feridas e martírios da ascese. [...]
Referencia: EVANGELIZAÇÃO: fundamentos da evangelização espírita da infância e da juventude (O que é?)• Rio de Janeiro: FEB, 1987• -
[...] A Terra é um mundo de expiações e provas, já em fase de transição para se tornar um mundo de regeneração.
Referencia: FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA• Departamento de Infância e Juventude• Currículo para as Escolas de Evangelização Espírita Infanto-juvenil• 2a ed• Rio de Janeiro, 1998• - cap• 4
[...] o Planeta terrestre é o grande barco navegando no cosmo, sacudido, a cada instante, pelas tempestades morais dos seus habitantes, que lhe parecem ameaçar o equilíbrio, a todos arrastando na direção de calamidades inomináveis. Por esta razão, periodicamente missionários e mestres incomuns mergulharam no corpo com a mente alerta, a fim de ensinarem comportamento de calma e de compaixão, de amor e de misericórdia, reunindo os aflitos em sua volta e os orientando para sobreviverem às borrascas sucessivas que prosseguem ameaçadoras.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Impermanência e imortalidade• Pelo Espírito Carlos Torres Pastorino• 4a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Corpo e mente
Quando o homem ora, anseia partir da Terra, mas compreende, também, que ela é sua mãe generosa, berço do seu progresso e local da sua aprendizagem. [...]
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Párias em redenção• Pelo Espírito Victor Hugo• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - L• 3, cap• 1
Assim se compreende porque a Terra é mundo de “provas e expiações”, considerando-se que os Espíritos que nela habitam estagiam na sua grande generalidade em faixas iniciais, inferiores, portanto, da evolução.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Temas da vida e da morte• Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Pensamento e perispírito
Apesar de ainda se apresentar como planeta de provas e expiações, a Terra é uma escola de bênçãos, onde aprendemos a desenvolver as aptidões e a aprimorar os valores excelentes dos sentimentos; é também oficina de reparos e correções, com recursos hospitalares à disposição dos pacientes que lhes chegam à economia social. Sem dúvida, é também cárcere para os rebeldes e os violentos, que expungem o desequilíbrio em processo de imobilidade, de alucinação, de limites, resgatando as graves ocorrências que fomentaram e praticaram perturbando-lhe a ordem e a paz.
Referencia: FRANCO, Divaldo P• Trilhas da libertação• Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Cilada perversa
O mundo conturbado é hospital que alberga almas que sofrem anemia de amor, requisitando as vitaminas do entendimento e da compreensão, da paciência e da renúncia, a fim de que entendimento e compreensão, paciência e renúncia sejam os sinais de uma vida nova, a bem de todos.
Referencia: JACINTHO, Roque• Intimidade• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• - Hospital
[...] É um astro, como Vênus, como seus irmãos, e vagueia nos céus com a velocidade de 651.000 léguas por dia. Assim, estamos atualmente no céu, estivemos sempre e dele jamais poderemos sair. Ninguém mais ousa negar este fato incontestável, mas o receio da destruição de vários preconceitos faz que muitos tomem o partido de não refletir nele. A Terra é velha, muito velha, pois que sua idade se conta por milhões e milhões de anos. Porém, malgrado a tal anciania, está ainda em pleno frescor e, quando lhe sucedesse perecer daqui a quatrocentos ou quinhentos mil anos, o seu desaparecimento não seria, para o conjunto do Universo, mais que insignificante acidente.
Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 4a efusão
[...] Por se achar mais distante do sol da perfeição, o nosso mundozinho é mais obscuro e a ignorância nele resiste melhor à luz. As más paixões têm aí maior império e mais vítimas fazem, porque a sua Humanidade ainda se encontra em estado de simples esboço. É um lugar de trabalho, de expiação, onde cada um se desbasta, se purifica, a fim de dar alguns passos para a felicidade. [...]
Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 8a efusão
[...] A Terra tem que ser um purgatório, porque a nossa existência, pelo menos para a maioria, tem que ser uma expiação. Se nos vemos metidos neste cárcere, é que somos culpados, pois, do contrário, a ele não teríamos vindo, ou dele já houvéramos saído. [...]
Referencia: MARCHAL, V (Padre)• O Espírito Consolador, ou os nossos destinos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - 28a efusão
Nossa morada terrestre é um lugar de trabalho, onde vimos perder um pouco da nossa ignorância original e elevar nossos conhecimentos. [...]
Referencia: MENEZES, Adolfo Bezerra de• Uma carta de Bezerra de Menezes• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1994• -
[...] é a escola onde o espírito aprende as suas lições ao palmilhar o longuíssimo caminho que o leva à perfeição. [...]
Referencia: MIRANDA, Hermínio C• Reencarnação e imortalidade• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2002• - cap• 23
[...] o mundo, para muitos, é uma penitenciária; para outros, um hospital, e, para um número assaz reduzido, uma escola.
Referencia: Ó, Fernando do• Alguém chorou por mim• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 2
[...] casa de Deus, na específica destinação de Educandário Recuperatório, sem qualquer fator intrínseco a impedir a libertação do homem, ou a desviá-lo de seu roteiro ascensional.
Referencia: Ó, Fernando do• Uma luz no meu caminho• 8a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - cap• 1
[...] é uma estação de inverno, onde o Espírito vem preparar-se para a primavera do céu!
Referencia: SILVA JÚNIOR, Frederico Pereira da• Jesus perante a cristandade• Pelo Espírito Francisco Leite Bittencourt Sampaio• Org• por Pedro Luiz de Oliveira Sayão• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Pref•
Feito o planeta – Terra – nós vemos nele o paraíso, o inferno e o purgatório.O paraíso para os Espíritos que, emigra-dos de mundos inferiores, encontram naTerra, podemos dizer, o seu oásis.O inferno para os que, já tendo possuí-do mundos superiores ao planeta Terra,pelo seu orgulho, pelas suas rebeldias, pelos seus pecados originais a ele desceram para sofrerem provações, para ressurgirem de novo no paraíso perdido. O purgatório para os Espíritos em transição, aqueles que, tendo atingido um grau de perfectibilidade, tornaram-se aptos para guias da Humanidade.
Referencia: SILVA JÚNIOR, Frederico Pereira da• Jesus perante a cristandade• Pelo Espírito Francisco Leite Bittencourt Sampaio• Org• por Pedro Luiz de Oliveira Sayão• 7a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 1
Antes de tudo, recorda-se de que o nosso planeta é uma morada muito inferior, o laboratório em que desabrocham as almas ainda novas nas aspirações confusas e paixões desordenadas. [...]
Referencia: SOARES, Sílvio Brito• Páginas de Léon Denis• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1991• - O Espiritismo e a guerra
O mundo é uma escola de proporções gigantescas, cada professor tem a sua classe, cada um de nós tem a sua assembléia.
Referencia: VIEIRA, Waldo• Seareiros de volta• Diversos autores espirituais• Prefácio de Elias Barbosa• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Colegas invisíveis
A Terra é o campo de ação onde nosso espírito vem exercer sua atividade. [...]
Referencia: VINÍCIUS (Pedro de Camargo)• Nas pegadas do Mestre: folhas esparsas dedicadas aos que têm fome e sede de justiça• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Por que malsinar o mundo?
[...] é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica, pouco a pouco, no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Ação e reação• Pelo Espírito André Luiz• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 1
A Terra inteira é um templo / Aberto à inspiração / Que verte das Alturas [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Antologia da espiritualidade• Pelo Espírito Maria Dolores• 3a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1985• - cap• 4
A Terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no Infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais; dentro delas, o nosso espírito andará esquecido de seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho• Pelo Espírito Humberto de Campos• 30a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 10
A Terra é uma grande e abençoada escola, em cujas classes e cursos nos matriculamos, solicitando – quando já possuímos a graça do conhecimento – as lições necessárias à nossa sublimação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Correio fraterno• Por diversos Espíritos• 6a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 53
O mundo atual é a semente do mundo paradisíaco do futuro. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Crônicas de além-túmulo• Pelo Espírito Humberto de Campos• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1986• - cap• 25
Servidores do Cristo, orai de sentinela! / Eis que o mundo sangrando é campo de batalha, / Onde a treva infeliz se distende e trabalha / O coração sem Deus, que em sombra se enregela.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
No macrocosmo, a casa planetária, onde evolvem os homens terrestres, é um simples departamento de nosso sistema solar que, por sua vez, é modesto conjunto de vida no rio de sóis da Via-Láctea.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
No mundo terrestre – bendita escola multimilenária do nosso aperfeiçoamento espiritual – tudo é exercício, experimentação e trabalho intenso.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
O orbe inteiro, por enquanto, / Não passa de um hospital, / Onde se instrui cada um, / Onde aprende cada qual.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
O mundo, com as suas lutas agigantadas, ásperas, é a sublime lavoura, em que nos compete exercer o dom de compreender e servir.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
O mundo é uma escola vasta, cujas portas atravessamos, para a colheita de lições necessárias ao nosso aprimoramento.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
Apesar dos exemplos da humildade / Do teu amor a toda Humanidade / A Terra é o mundo amargo dos gemidos, / De tortura, de treva e impenitência.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
A Terra é o nosso campo de ação.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
A Terra é a nossa grande casa de ensino. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
A Terra é uma escola, onde conseguimos recapitular o pretérito mal vivido, repetindo lições necessárias ao nosso reajuste.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
A Terra, em si mesma, é asilo de caridade em sua feição material.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
A Terra é o campo de trabalho, em que Deus situou o berço, o lar, o templo e a escola.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
A Terra é a Casa Divina, / Onde a luta nos ensina / A progredir e brilhar.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
O mundo em que estagiamos é casa grande de treinamento espiritual, de lições rudes, de exercícios infindáveis.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Dicionário da alma• Autores Diversos; [organização de] Esmeralda Campos Bittencourt• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• -
[...] é um grande magneto, governado pelas forças positivas do Sol. Toda matéria tangível representa uma condensação de energia dessas forças sobre o planeta e essa condensação se verifica debaixo da influência organizadora do princípio espiritual, preexistindo a todas as combinações químicas e moleculares. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Emmanuel: dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a Humanidade• Pelo Espírito Emmanuel• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 22
O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam, ao teu lado, a ignorância e a fraqueza.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Fonte viva• Pelo Espírito Emmanuel• 33a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 71
O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes, nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Justiça Divina• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - Doenças da alma
O Universo é a projeção da mente divina e a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Nos domínios da mediunidade• Pelo Espírito André Luiz• 32a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• -
O mundo é uma ciclópica oficina de labores diversíssimos, onde cada indivíduo tem a sua parcela de trabalho, de acordo com os conhecimentos e aptidões morais adquiridos, trazendo, por isso, para cada tarefa, o cabedal apri morado em uma ou em muitas existências.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Novas mensagens• Pelo Espírito Humberto de Campos• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB• 2005• - Antíteses da personalidade de Humberto de Campos
A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 39
A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 338
A Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos Espíritos encarnados.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 347
[...] é o caminho no qual a alma deve provar a experiência, testemunhar a fé, desenvolver as tendências superiores, conhecer o bem, aprender o melhor, enriquecer os dotes individuais.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• O Consolador• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - q• 403
O mundo em que vivemos é propriedade de Deus.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Pai Nosso• Pelo Espírito Meimei• 25a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - Lembranças
[...] é a vinha de Jesus. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Pão Nosso• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 29
[...] é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Pão Nosso• Pelo Espírito Emmanuel• 26a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - cap• 33
[...] abençoada escola de dor que conduz à alegria e de trabalho que encaminha para a felicidade com Jesus. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Pontos e contos• Pelo Espírito Irmão X [Humberto de Campos]• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 1999• - cap• 28
Não olvides que o mundo é um palácio de alegria onde a Bondade do Senhor se expressa jubilosa.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Relicário de luz• Autores diversos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - Alegria
[...] é uma vasta oficina, onde poderemos consertar muita coisa, mas reconhecendo que os primeiros reparos são intrínsecos a nós mesmos.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Renúncia• Pelo Espírito Emmanuel• 34a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2006• - pt• 1, cap• 6
A Terra é também a grande universidade. [...]
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Reportagens de Além-túmulo• Pelo Espírito Humberto de Campos• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - Do noticiarista desencarnado
Salve planeta celeste, santuário de vida, celeiro das bênçãos de Deus! ...
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Reportagens de Além-túmulo• Pelo Espírito Humberto de Campos• 10a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 15
A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico em que fazemos, a pleno céu, nossa viagem evolutiva.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Roteiro• Pelo Espírito Emmanuel• 11a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2004• - cap• 8
[...] é um santuário do Senhor, evolutindo em pleno Céu.
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vozes do grande além• Por diversos Espíritos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 12
Agradece, cantando, a Terra que te abriga. / Ela é o seio de amor que te acolheu criança, / O berço que te trouxe a primeira esperança, / O campo, o monte, o vale, o solo e a fonte amiga...
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido• Vozes do grande além• Por diversos Espíritos• 5a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2003• - cap• 33
[...] é o seio tépido da vida em que o princípio inteligente deve nascer, me drar, florir e amadurecer em energia consciente [...].
Referencia: XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo• Evolução em dois mundos• Pelo Espírito André Luiz• 23a ed• Rio de Janeiro: FEB, 2005• - pt• 1, cap• 13
Terrível
Figurado Muito intenso; violento, forte: vento terrível.
[Pejorativo] Fora do comum; extraordinário: um terrível tagarela.
Que ocasiona consequências nefastas; funesto: enchente terrível.
Que aborrece; fastidioso: filme terrível.
Excessivamente grande; exorbitante: tragédia terrível.
De qualidade detestável; péssimo: comida terrível.
substantivo masculino Um dos cargos da loja maçônica (grupo regional da maçonaria).
Etimologia (origem da palavra terrível). Do latim terribilis.
Trara
Vem
(latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio). ≠ IR
2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).
3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).
4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).
5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR
6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).
7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).
8.
Deslocar-se com um
9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).
10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).
11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).
12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).
13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER
14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).
15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).
16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).
17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).
18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).
19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER
20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).
21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).
22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR
vir abaixo
Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão).
=
IR ABAIXO
Venha
(latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio). ≠ IR
2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).
3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).
4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).
5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR
6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).
7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).
8.
Deslocar-se com um
9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).
10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).
11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).
12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).
13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER
14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).
15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).
16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).
17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).
18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).
19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER
20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).
21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).
22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR
vir abaixo
Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão).
=
IR ABAIXO
(latim venio, -ire, vir, chegar, cair sobre, avançar, atacar, aparecer, nascer, mostrar-se)
1. Transportar-se de um lugar para aquele onde estamos ou para aquele onde está a pessoa a quem falamos; deslocar-se de lá para cá (ex.: os turistas vêm a Lisboa; o gato veio para perto dele; o pai chamou e o filho veio). ≠ IR
2. Chegar e permanecer num lugar (ex.: ele veio para o Rio de Janeiro quando ainda era criança).
3. Derivar (ex.: o tofu vem da soja).
4. Ser transmitido (ex.: a doença dela vem da parte da mãe).
5. Ser proveniente; ter origem em (ex.: o tango vem da Argentina). = PROVIR
6. Ocorrer (ex.: vieram-lhe à mente algumas memórias).
7. Emanar (ex.: o barulho vem lá de fora).
8.
Deslocar-se com um
9. Descender, provir (ex.: ela vem de uma família aristocrata).
10. Bater, chocar, esbarrar (ex.: a bicicleta veio contra o muro).
11. Expor, apresentar, aduzir (ex.: todos vieram com propostas muito interessantes).
12. Chegar a, atingir (ex.: o fogo veio até perto da aldeia).
13. Apresentar-se em determinado local (ex.: os amigos disseram que viriam à festa; a reunião foi breve, mas nem todos vieram). = COMPARECER
14. Chegar (ex.: o táxi ainda não veio).
15. Regressar, voltar (ex.: foram a casa e ainda não vieram).
16. Seguir, acompanhar (ex.: o cão vem sempre com ela).
17. Nascer (ex.: os gatinhos vieram mais cedo do que os donos esperavam).
18. Surgir (ex.: a chuva veio em força).
19. Começar a sair ou a jorrar (ex.: abriram as comportas e a água veio). = IRROMPER
20. Acontecer, ocorrer, dar-se (ex.: a fama e o sucesso vieram de repente).
21. Aparecer, surgir (ex.: a caixa veio aberta).
22. [Portugal, Informal] Atingir o orgasmo (ex.: estava muito excitado e veio-se depressa). = GOZAR
vir abaixo
Desmoronar-se (ex.: o prédio veio abaixo com a explosão).
=
IR ABAIXO
Vir
verbo transitivo indireto e intransitivo Caminhar-se em direção a: os cães vêm à margem da praia; escutava o barulho do navio que vinha.
Chegar para ficar por um tempo maior: o Papa vem ao Brasil no próximo ano; o Papa virá no próximo ano.
Regressar ou retornar ao (seu) lugar de origem: o diretor escreverá a autorização quando vier à escola; a empregada não vem.
Estar presente em; comparecer: o professor solicitou que os alunos viessem às aulas; o diretor pediu para que os alunos viessem.
verbo transitivo indireto Ser a razão de; possuir como motivo; originar: sua tristeza vem do divórcio.
Surgir no pensamento ou na lembrança; ocorrer: o valor não me veio à memória.
Espalhar-se: o aroma do perfume veio do quarto.
Demonstrar aprovação; concordar com; convir.
Demonstrar argumentos: os que estavam atrasados vieram com subterfúgios.
Alcançar ou chegar ao limite de: a trilha vem até o final do rio.
Ter como procedência; proceder: este sapato veio de Londres.
verbo intransitivo Estar na iminência de acontecer: tenho medo das consequências que vêm.
Tomar forma; surgir ou acontecer: o emprego veio numa boa hora.
Progredir ou se tornar melhor: o aluno vem bem nas avaliações.
Aparecer em determinada situação ou circunstância: quando o salário vier, poderemos viajar.
Aparecer para ajudar (alguém); auxiliar: o médico veio logo ajudar o doente.
Andar ou ir para acompanhar uma outra pessoa; seguir: nunca conseguia andar sozinha, sempre vinha com o pai.
Chegar, alcançar o final de um percurso: sua encomenda veio no final do ano.
verbo predicativo Começar a existir; nascer: as novas plantações de café vieram mais fracas.
Etimologia (origem da palavra vir). Do latim veniere.
Este capítulo contém uma lista de palavras em hebraico e grego presentes na Bíblia, acompanhadas de sua tradução baseada nos termos de James Strong. Strong foi um teólogo e lexicógrafo que desenvolveu um sistema de numeração que permite identificar as palavras em hebraico e grego usadas na Bíblia e seus significados originais. A lista apresentada neste capítulo é organizada por ordem alfabética e permite que os leitores possam ter acesso rápido e fácil aos significados das palavras originais do texto bíblico. A tradução baseada nos termos de Strong pode ajudar os leitores a ter uma compreensão mais precisa e profunda da mensagem bíblica, permitindo que ela seja aplicada de maneira mais eficaz em suas vidas. James Strong
Strongs
בָּעַר
(H1197)
uma raiz primitiva; DITAT - 263; v
- queimar, consumir, acender, ser acendido
- (Qal)
- começar a queimar, ser acendido, começar a queimar
- queimar, estar queimando
- queimar, consumir
- a ira de Javé, a ira humana (fig.)
- (Piel)
- acender, queimar
- consumir, remover (referindo-se a culpa) (fig.)
- (Hifil)
- acender
- queimar
- consumir (destruir)
- (Pual) queimar v denom
- ser estúpido, ignorante, selvagem
- (Qal) ser estúpido, de coração insensível, não receptivo
- (Nifal) ser estúpido, de coração insensível
- (Piel) alimentar, pastar
- (Hifil) fazer com que seja pastado
הָיָה
(H1961)
uma raiz primitiva [veja 1933]; DITAT - 491; v
- ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer
- (Qal)
- ——
- acontecer, sair, ocorrer, tomar lugar, acontecer, vir a ser
- vir a acontecer, acontecer
- vir a existir, tornar-se
- erguer-se, aparecer, vir
- tornar-se
- tornar-se
- tornar-se como
- ser instituído, ser estabelecido
- ser, estar
- existir, estar em existência
- ficar, permanecer, continuar (com referência a lugar ou tempo)
- estar, ficar, estar em, estar situado (com referência a localidade)
- acompanhar, estar com
- (Nifal)
- ocorrer, vir a acontecer, ser feito, ser trazido
- estar pronto, estar concluído, ter ido
הֵם
(H1992)
procedente de 1981; DITAT - 504; pron 3p m pl
- eles, estes, os mesmos, quem
הִנֵּה
(H2009)
forma alongada para 2005; DITAT - 510a; part demons
- veja, eis que, olha, se
זֵד
(H2086)
procedente de 2102; DITAT - 547a; n m
- arrogante, orgulhoso, insolente, presunçoso
- os arrogantes (como n col pl)
- presunçoso (como adj)
יְהֹוִה
(H3069)
uma variação de 3068 [usado depois de 136, e pronunciado pelos judeus
como 430, para prevenir a repetição do mesmo som, assim como em outros lugares
3068 é pronunciado como 136]; n pr de divindade
- Javé - usado basicamente na combinação ‘Senhor Javé’
- igual a 3068 mas pontuado com as vogais de 430
יֹום
(H3117)
procedente de uma raiz não utilizada significando ser quente; DITAT - 852; n m
- dia, tempo, ano
- dia (em oposição a noite)
- dia (período de 24 horas)
- como determinado pela tarde e pela manhã em Gênesis 1
- como uma divisão de tempo
- um dia de trabalho, jornada de um dia
- dias, período de vida (pl.)
- tempo, período (geral)
- ano
- referências temporais
- hoje
- ontem
- amanhã
כִּי
(H3588)
uma partícula primitiva; DITAT - 976; conj
- que, para, porque, quando, tanto quanto, como, por causa de, mas, então, certamente, exceto, realmente, desde
- que
- sim, verdadeiramente
- quando (referindo-se ao tempo)
- quando, se, embora (com força concessiva)
- porque, desde (conexão causal)
- mas (depois da negação)
- isso se, caso seja, de fato se, embora que, mas se
- mas antes, mas
- exceto que
- somente, não obstante
- certamente
- isto é
- mas se
- embora que
- e ainda mais que, entretanto
כֹּל
(H3605)
לֹא
(H3808)
ou
uma partícula primitiva; DITAT - 1064; adv
- não
- não (com verbo - proibição absoluta)
- não (com modificador - negação)
- nada (substantivo)
- sem (com particípio)
- antes (de tempo)
לָהַט
(H3857)
uma raiz primitiva; DITAT - 1081; v
- queimar, arder com chamas, secar, acender, por em chamas, inflamar
- (Qal) chamejante (particípio)
- (Piel) secar, queimar, chamejar
אָמַר
(H559)
uma raiz primitiva; DITAT - 118; v
- dizer, falar, proferir
- (Qal) dizer, responder, fala ao coração, pensar, ordenar, prometer, intencionar
- (Nifal) ser falado, ser dito, ser chamado
- (Hitpael) vangloriar-se, agir orgulhosamente
- (Hifil) declarar, afirmar
עָזַב
(H5800)
uma raiz primitiva; DITAT - 1594,1595; v
- deixar, soltar, abandonar
- (Qal) deixar
- afastar-se de, deixar para trás, deixar, deixar só
- deixar, abandonar, abandonar, negligenciar, apostatar
- deixar solto, deixar livre, deixar ir, libertar
- (Nifal)
- ser deixado para
- ser abandonado
- (Pual) ser deserdado
- restaurar, reparar
- (Qal) reparar
עָנָף
(H6057)
procedente de uma raiz não utilizada que significa cobrir; DITAT - 1657a; n m
- ramo, galho
עָשָׂה
(H6213)
uma raiz primitiva; DITAT - 1708,1709; v.
- fazer, manufaturar, realizar, fabricar
- (Qal)
- fazer, trabalhar, fabricar, produzir
- fazer
- trabalhar
- lidar (com)
- agir, executar, efetuar
- fazer
- fazer
- produzir
- preparar
- fazer (uma oferta)
- atender a, pôr em ordem
- observar, celebrar
- adquirir (propriedade)
- determinar, ordenar, instituir
- efetuar
- usar
- gastar, passar
- (Nifal)
- ser feito
- ser fabricado
- ser produzido
- ser oferecido
- ser observado
- ser usado
- (Pual) ser feito
- (Piel) pressionar, espremer
צָבָא
(H6635)
procedente de 6633, grego 4519
- o que vai adiante, exército, guerra, arte da guerra, tropa
- exército, tropa
- tropa (de exército organizado)
- exército (de anjos)
- referindo-se ao sol, lua e estrelas
- referindo-se a toda a criação
- guerra, arte da guerra, serviço militar, sair para guerra
- serviço militar
קַשׁ
(H7179)
procedente de 7197; DITAT - 2091a; n. m.
- restolho, palha
רִשְׁעָה
(H7564)
procedente de 7562; DITAT - 2222c; n. f.
- perversidade, culpa
- perversidade (em questões civis)
- perversidade (referindo-se aos inimigos)
- impiedade (ética e religiosa)
שֶׁרֶשׁ
(H8328)
procedente de 8327; DITAT - 2471a; n. m.
- raiz
- raiz (literal)
- raiz (referindo-se ao povo em relação à estabilidade ou permanência) (fig.)
- raiz, fundo (como o nível mais inferior) (fig.)
אֲשֶׁר
(H834)
um pronome relativo primitivo (de cada gênero e número); DITAT - 184
- (part. relativa)
- o qual, a qual, os quais, as quais, quem
- aquilo que
- (conj)
- que (em orações objetivas)
- quando
- desde que
- como
- se (condicional)
אֵת
(H853)
aparentemente uma forma contrata de 226 no sentido demonstrativo de entidade; DITAT - 186; partícula não traduzida
- sinal do objeto direto definido, não traduzido em português mas geralmente precedendo e indicando o acusativo
תַּנּוּר
(H8574)
procedente de 5216; DITAT - 2526; n. m.
- fornalha, forno, fogareiro, fogão (portátil)
- para cozinhar
- referindo-se à ira de Deus, seu calor (fig.)
- referindo-se à fome, desejo pelo mal
- fogareiro
בֹּוא
(H935)
uma raiz primitiva; DITAT - 212; v
- ir para dentro, entrar, chegar, ir, vir para dentro
- (Qal)
- entrar, vir para dentro
- vir
- vir com
- vir sobre, cair sobre, atacar (inimigo)
- suceder
- alcançar
- ser enumerado
- ir
- (Hifil)
- guiar
- carregar
- trazer, fazer vir, juntar, causar vir, aproximar, trazer contra, trazer sobre
- fazer suceder
- (Hofal)
- ser trazido, trazido para dentro
- ser introduzido, ser colocado
זָרַח
(H2224)
uma raiz primitiva; DITAT - 580; v
- surgir, aparecer, sair, levantar, subir, brilhar
- (Qal)
- subir
- surgir, aparecer
יָצָא
(H3318)
uma raiz primitiva; DITAT - 893; v
- ir, vir para fora, sair, avançar
- (Qal)
- ir ou vir para fora ou adiante, ir embora
- avançar (para um lugar)
- ir adiante, continuar (para ou em direção a alguma coisa)
- vir ou ir adiante (com um propósito ou visando resultados)
- sair de
- (Hifil)
- fazer sair ou vir, trazer, liderar
- trazer
- guiar
- libertar
- (Hofal) ser trazido para fora ou para frente
יָרֵא
(H3373)
procedente de 3372; DITAT - 907a; adj
- temente, reverente, medroso
כָּנָף
(H3671)
procedente de 3670; DITAT - 1003a; n f
- asa, extremidade, beira, alado, borda, canto, veste
- asa
- extremidade
- orla, canto (da veste)
מַרְבֵּק
(H4770)
procedente de uma raiz não utilizada significando atar; DITAT - 2110a; n m
- estrebaria (de animais)
מַרְפֵּא
(H4832)
procedente de 7495; DITAT - 2196c; n m
- saúde, recuperação, cura
- recuperação, cura
- saúde, proveito, são (referindo-se à mente)
- cura
- incurável (com negativa)
עֵגֶל
(H5695)
procedente da mesma raiz que 5696; DITAT - 1560a; n m
- bezerro, novilho
פּוּשׁ
(H6335)
uma raiz primitiva; DITAT - 1751,1752; v.
- saltar
- (Qal) saltitar, agir com arrogância (fig.)
- (Nifal) ser espalhado, esparramado
צְדָקָה
(H6666)
procedente de 6663; DITAT - 1879b; n. f.
- justiça, retidão
- retidão (no governo)
- referindo-se ao juiz, governante, rei
- referindo-se à lei
- referindo-se ao rei davídico, o Messias
- justiça (como atributo de Deus)
- justiça (num caso ou causa)
- justiça, veracidade
- justiça (aquilo que é eticamente correto)
- justiça (vindicada), justificação, salvação
- referindo-se a Deus
- prosperidade (referindo-se ao povo)
- atos justos
שֵׁם
(H8034)
uma palavra primitiva [talvez procedente de 7760 com a idéia de posição definida e conspícua; DITAT - 2405; n m
- nome
- nome
- reputação, fama, glória
- o Nome (como designação de Deus)
- memorial, monumento
שֶׁמֶשׁ
(H8121)
procedente de uma raiz não utilizada significando ser brilhante; DITAT - 2417a; n. f./m.
- sol
- sol
- nascer do sol, nascente, leste, pôr do sol, oeste (referindo-se à direção)
- sol (como objeto de culto ilícito)
- abertamente, publicamente (em outras expressões)
- pináculos, baluartes, escudos (resplandecentes ou reluzentes)
הָיָה
(H1961)
uma raiz primitiva [veja 1933]; DITAT - 491; v
- ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer
- (Qal)
- ——
- acontecer, sair, ocorrer, tomar lugar, acontecer, vir a ser
- vir a acontecer, acontecer
- vir a existir, tornar-se
- erguer-se, aparecer, vir
- tornar-se
- tornar-se
- tornar-se como
- ser instituído, ser estabelecido
- ser, estar
- existir, estar em existência
- ficar, permanecer, continuar (com referência a lugar ou tempo)
- estar, ficar, estar em, estar situado (com referência a localidade)
- acompanhar, estar com
- (Nifal)
- ocorrer, vir a acontecer, ser feito, ser trazido
- estar pronto, estar concluído, ter ido
יְהֹוָה
(H3068)
procedente de 1961; DITAT - 484a; n pr de divindade Javé = “Aquele que existe”
- o nome próprio do único Deus verdadeiro
- nome impronunciável, a não ser com a vocalização de 136
יֹום
(H3117)
procedente de uma raiz não utilizada significando ser quente; DITAT - 852; n m
- dia, tempo, ano
- dia (em oposição a noite)
- dia (período de 24 horas)
- como determinado pela tarde e pela manhã em Gênesis 1
- como uma divisão de tempo
- um dia de trabalho, jornada de um dia
- dias, período de vida (pl.)
- tempo, período (geral)
- ano
- referências temporais
- hoje
- ontem
- amanhã
כִּי
(H3588)
uma partícula primitiva; DITAT - 976; conj
- que, para, porque, quando, tanto quanto, como, por causa de, mas, então, certamente, exceto, realmente, desde
- que
- sim, verdadeiramente
- quando (referindo-se ao tempo)
- quando, se, embora (com força concessiva)
- porque, desde (conexão causal)
- mas (depois da negação)
- isso se, caso seja, de fato se, embora que, mas se
- mas antes, mas
- exceto que
- somente, não obstante
- certamente
- isto é
- mas se
- embora que
- e ainda mais que, entretanto
כַּף
(H3709)
procedente de 3721; DITAT - 1022a; n f
- palma, mão, sola, palma da mão, cavidade ou palma da mão
- palma, palma da mão
- poder
- sola (do pé)
- cavidade, objetos, objetos dobráveis, objetos curvados
- articulação da coxa
- panela, vaso (côncavo)
- cavidade (da funda)
- ramos no formato de mãos ou folhagem (de palmeiras)
- cabos (curvos)
אָמַר
(H559)
uma raiz primitiva; DITAT - 118; v
- dizer, falar, proferir
- (Qal) dizer, responder, fala ao coração, pensar, ordenar, prometer, intencionar
- (Nifal) ser falado, ser dito, ser chamado
- (Hitpael) vangloriar-se, agir orgulhosamente
- (Hifil) declarar, afirmar
אֲנִי
(H589)
forma contrata de 595; DITAT - 129; pron pess
- eu (primeira pess. sing. - normalmente usado para ênfase)
עָסַס
(H6072)
uma raiz primitiva; DITAT - 1660; v
- apertar, esmagar, esmagar com os pés, pisotear, pressionar (uvas)
- (Qal) pressionar
עָשָׂה
(H6213)
uma raiz primitiva; DITAT - 1708,1709; v.
- fazer, manufaturar, realizar, fabricar
- (Qal)
- fazer, trabalhar, fabricar, produzir
- fazer
- trabalhar
- lidar (com)
- agir, executar, efetuar
- fazer
- fazer
- produzir
- preparar
- fazer (uma oferta)
- atender a, pôr em ordem
- observar, celebrar
- adquirir (propriedade)
- determinar, ordenar, instituir
- efetuar
- usar
- gastar, passar
- (Nifal)
- ser feito
- ser fabricado
- ser produzido
- ser oferecido
- ser observado
- ser usado
- (Pual) ser feito
- (Piel) pressionar, espremer
צָבָא
(H6635)
procedente de 6633, grego 4519
- o que vai adiante, exército, guerra, arte da guerra, tropa
- exército, tropa
- tropa (de exército organizado)
- exército (de anjos)
- referindo-se ao sol, lua e estrelas
- referindo-se a toda a criação
- guerra, arte da guerra, serviço militar, sair para guerra
- serviço militar
אֵפֶר
(H665)
procedente de uma raiz não utilizada significando espalhar; DITAT - 150a; n m
- cinzas
- (CLBL) sem valor (fig.)
רֶגֶל
(H7272)
procedente de 7270; DITAT - 2113a; n. f.
- pé
- pé, perna
- referindo-se a Deus (antropomórfico)
- referindo-se a serafins, querubins, ídolos, animais, mesa
- conforme o ritmo de (com prep.)
- três vezes (pés, ritmos)
רָשָׁע
(H7563)
procedente de 7561; DITAT - 2222b; adj.
- perverso, criminoso
- perverso, alguém culpado de crime (substantivo)
- perverso (hostil a Deus)
- perverso, culpado de pecado (contra Deus ou homem)
אֲשֶׁר
(H834)
um pronome relativo primitivo (de cada gênero e número); DITAT - 184
- (part. relativa)
- o qual, a qual, os quais, as quais, quem
- aquilo que
- (conj)
- que (em orações objetivas)
- quando
- desde que
- como
- se (condicional)
תַּחַת
(H8478)
procedente da mesma raiz que 8430; DITAT - 2504; n. m.
- a parte de baixo, debaixo de, em lugar de, como, por, por causa de, baixo, para, onde, conquanto n. m.
- a parte de baixo adv. acus.
- abaixo prep.
- sob, debaixo de
- ao pé de (expressão idiomática)
- suavidade, submissão, mulher, ser oprimido (fig.)
- referindo-se à submissão ou conquista
- o que está debaixo, o lugar onde alguém está parado
- em lugar de alguém, o lugar onde alguém está parado (expressão idiomática com pronome reflexivo)
- em lugar de, em vez de (em sentido de transferência)
- em lugar de, em troca ou pagamento por (referindo-se a coisas trocadas uma pela outra) conj.
- em vez de, em vez disso
- em pagamento por isso, por causa disso em compostos
- em, sob, para o lugar de (depois de verbos de movimento)
- de sob, de debaixo de, de sob a mão de, de seu lugar, sob, debaixo
זָכַר
(H2142)
uma raiz primitiva; DITAT - 551; v
- lembrar, recordar, trazer à mente
- (Qal) lembrar, recordar
- (Nifal) ser trazido à lembrança, ser lembrado, estar no pensamento, ser trazido à mente
- (Hifil)
- fazer lembrar, relembrar
- levar a relembrar, manter na lembrança
- mencionar
- registrar
- fazer um memorial, fazer lembrança
חֹק
(H2706)
procedente de 2710; DITAT - 728a; n m
- estatuto, ordenança, limite, algo prescrito, obrigação
- tarefa prescrita
- porção prescrita
- ação prescrita (para si mesmo), decisão
- obrigação prescrita
- limite prescrito, fronteira
- lei, decreto, ordenança
- decreto específico
- lei em geral
- leis, estatutos
- condições
- leis
- decretos
- leis civis prescritas por Deus
חֹרֵב
(H2722)
procedente de 2717; DITAT - 731c; n pr loc Horebe = “deserto”
- outro nome para o Monte Sinai no qual Deus deu a lei a Moisés e aos israelitas
יִשְׂרָאֵל
(H3478)
procedente de 8280 e 410, grego 2474
Israel = “Deus prevalece”
- o segundo nome dado a Jacó por Deus depois de sua luta com o anjo em Peniel
- o nome dos descendentes e a nação dos descendentes de Jacó
- o nome da nação até a morte de Salomão e a divisão
- o nome usado e dado ao reino do norte que consistia das 10 tribos sob Jeroboão; o reino do sul era conhecido como Judá
- o nome da nação depois do retorno do exílio
כֹּל
(H3605)
מֹשֶׁה
(H4872)
מִשְׁפָּט
(H4941)
procedente de 8199; DITAT - 2443c; n m
- julgamento, justiça, ordenação
- julgamento
- ato de decidir um caso
- lugar, corte, assento do julgamento
- processo, procedimento, litigação (diante de juízes)
- caso, causa (apresentada para julgamento)
- sentença, decisão (do julgamento)
- execução (do julgamento)
- tempo (do julgamento)
- justiça, direito, retidão (atributos de Deus ou do homem)
- ordenança
- decisão (no direito)
- direito, privilégio, dever (legal)
- próprio, adequado, medida, aptidão, costume, maneira, plano
עֶבֶד
(H5650)
procedente de 5647; DITAT - 1553a; n m
- escravo, servo
- escravo, servo, servidor
- súditos
- servos, adoradores (referindo-se a Deus)
- servo (em sentido especial como profetas, levitas, etc.)
- servo (referindo-se a Israel)
- servo (como forma de dirigir-se entre iguais)
עַל
(H5921)
via de regra, o mesmo que 5920 usado como uma preposição (no sing. ou pl. freqüentemente com prefixo, ou como conjunção com uma partícula que lhe segue); DITAT - 1624p; prep
- sobre, com base em, de acordo com, por causa de, em favor de, concernente a, ao lado de, em adição a, junto com, além de, acima, por cima, por, em direção a, para, contra
- sobre, com base em, pela razão de, por causa de, de acordo com, portanto, em favor de, por isso, a respeito de, para, com, a despeito de, em oposição a, concernente a, quanto a, considerando
- acima, além, por cima (referindo-se a excesso)
- acima, por cima (referindo-se a elevação ou preeminência)
- sobre, para, acima de, em, em adição a, junto com, com (referindo-se a adição)
- sobre (referindo-se a suspensão ou extensão)
- por, adjacente, próximo, perto, sobre, ao redor (referindo-se a contiguidade ou proximidade)
- abaixo sobre, sobre, por cima, de, acima de, pronto a, em relacão a, para, contra (com verbos de movimento)
- para (como um dativo) conj
- por causa de, porque, enquanto não, embora
צָוָה
(H6680)
uma raiz primitiva; DITAT - 1887; v.
- mandar, ordenar, dar as ordens, encarregar, incumbir, decretar
- (Piel)
- incumbir
- ordenar, dar ordens
- ordernar
- designar, nomear
- dar ordens, mandar
- incumbir, mandar
- incumbir, comissionar
- mandar, designar, ordenar (referindo-se a atos divinos)
- (Pual) ser mandado
אֲשֶׁר
(H834)
um pronome relativo primitivo (de cada gênero e número); DITAT - 184
- (part. relativa)
- o qual, a qual, os quais, as quais, quem
- aquilo que
- (conj)
- que (em orações objetivas)
- quando
- desde que
- como
- se (condicional)
תֹּורָה
(H8451)
procedente de 3384; DITAT - 910d; n. f.
- lei, orientação, instrução
- instrução, orientação (humana ou divina)
- conjunto de ensino profético
- instrução na era messiânica
- conjunto de orientações ou instruções sacerdotais
- conjunto de orientações legais
- lei
- lei da oferta queimada
- referindo-se à lei especial, códigos de lei
- costume, hábito
- a lei deuteronômica ou mosaica
אֵת
(H853)
aparentemente uma forma contrata de 226 no sentido demonstrativo de entidade; DITAT - 186; partícula não traduzida
- sinal do objeto direto definido, não traduzido em português mas geralmente precedendo e indicando o acusativo
גָּדֹול
(H1419)
procedente de 1431; DITAT - 315d; adj
- grande
- grande (em magnitude e extensão)
- em número
- em intensidade
- alto (em som)
- mais velho (em idade)
- em importância
- coisas importantes
- grande, distinto (referindo-se aos homens)
- o próprio Deus (referindo-se a Deus) subst
- coisas grandes
- coisas arrogantes
- grandeza n pr m
- (CLBL) Gedolim, o grande homem?, pai de Zabdiel
הִנֵּה
(H2009)
forma alongada para 2005; DITAT - 510a; part demons
- veja, eis que, olha, se
יְהֹוָה
(H3068)
procedente de 1961; DITAT - 484a; n pr de divindade Javé = “Aquele que existe”
- o nome próprio do único Deus verdadeiro
- nome impronunciável, a não ser com a vocalização de 136
יֹום
(H3117)
procedente de uma raiz não utilizada significando ser quente; DITAT - 852; n m
- dia, tempo, ano
- dia (em oposição a noite)
- dia (período de 24 horas)
- como determinado pela tarde e pela manhã em Gênesis 1
- como uma divisão de tempo
- um dia de trabalho, jornada de um dia
- dias, período de vida (pl.)
- tempo, período (geral)
- ano
- referências temporais
- hoje
- ontem
- amanhã
יָרֵא
(H3372)
uma raiz primitiva; DITAT - 907,908; v
- temer, reverenciar, ter medo
- (Qal)
- temer, ter medo
- ter admiração por, ser admirado
- temer, reverenciar, honrar, respeitar
- (Nifal)
- ser temível, ser pavoroso, ser temido
- causar espanto e admiração, ser tratado com admiração
- inspirar reverência ou temor ou respeito piedoso
- (Piel) amedrontar, aterrorizar
- (DITAT) atirar, derramar
אֵלִיָּה
(H452)
procedente de 410 e 3050, grego 2243
Elias = “meu Deus é Javé” ou “Yah(u) é Deus”
- o grande profeta do reino de Acabe
- filho benjamita de Jeroão
- um filho de Elão com uma esposa estrangeira durante o exílio
- um sacerdote e filho de Harim com esposa estrangeira durante o exílio
נָבִיא
(H5030)
procedente de 5012; DITAT - 1277a; n m
- porta-voz, orador, profeta
- profeta
- falso profeta
- profeta pagão
אָנֹכִי
(H595)
um pronome primitivo; DITAT - 130; pron pess
- eu (primeira pess. sing.)
פָּנִים
(H6440)
procedente de 6437; DITAT - 1782a; n. m.
- face
- face, faces
- presença, pessoa
- rosto (de serafim or querubim)
- face (de animais)
- face, superfície (de terreno)
- como adv. de lugar ou tempo
- diante de e atrás de, em direção a, em frente de, adiante, anteriormente, desde então, antes de
- com prep.
- em frente de, antes de, para a frente de, na presença de, à face de, diante de ou na presença de, da presença de, desde então, de diante da face de
שָׁלַח
(H7971)
uma raiz primitiva; DITAT - 2394; v
- enviar, despedir, deixar ir, estender
- (Qal)
- enviar
- esticar, estender, direcionar
- mandar embora
- deixar solto
- (Nifal) ser enviado
- (Piel)
- despedir, mandar embora, enviar, entregar, expulsar
- deixar ir, deixar livre
- brotar (referindo-se a ramos)
- deixar para baixo
- brotar
- (Pual) ser mandado embora, ser posto de lado, ser divorciado, ser impelido
- (Hifil) enviar
אֵת
(H853)
aparentemente uma forma contrata de 226 no sentido demonstrativo de entidade; DITAT - 186; partícula não traduzida
- sinal do objeto direto definido, não traduzido em português mas geralmente precedendo e indicando o acusativo
בֹּוא
(H935)
uma raiz primitiva; DITAT - 212; v
- ir para dentro, entrar, chegar, ir, vir para dentro
- (Qal)
- entrar, vir para dentro
- vir
- vir com
- vir sobre, cair sobre, atacar (inimigo)
- suceder
- alcançar
- ser enumerado
- ir
- (Hifil)
- guiar
- carregar
- trazer, fazer vir, juntar, causar vir, aproximar, trazer contra, trazer sobre
- fazer suceder
- (Hofal)
- ser trazido, trazido para dentro
- ser introduzido, ser colocado
אָב
(H1)
uma raiz; DITAT - 4a; n m
- pai de um indivíduo
- referindo-se a Deus como pai de seu povo
- cabeça ou fundador de uma casa, grupo, família, ou clã
- antepassado
- avô, antepassados — de uma pessoa
- referindo-se ao povo
- originador ou patrono de uma classe, profissão, ou arte
- referindo-se ao produtor, gerador (fig.)
- referindo-se à benevolência e proteção (fig.)
- termo de respeito e honra
- governante ou chefe (espec.)
בֵּן
(H1121)
procedente de 1129; DITAT - 254; n m
- filho, neto, criança, membro de um grupo
- filho, menino
- neto
- crianças (pl. - masculino e feminino)
- mocidade, jovens (pl.)
- novo (referindo-se a animais)
- filhos (como caracterização, i.e. filhos da injustiça [para homens injustos] ou filhos de Deus [para anjos])
- povo (de uma nação) (pl.)
- referindo-se a coisas sem vida, i.e. faíscas, estrelas, flechas (fig.)
- um membro de uma associação, ordem, classe
חֵרֶם
(H2764)
לֵב
(H3820)
uma forma de 3824; DITAT - 1071a; n m
- ser interior, mente, vontade, coração, inteligência
- parte interior, meio
- meio (das coisas)
- coração (do homem)
- alma, coração (do homem)
- mente, conhecimento, razão, reflexão, memória
- inclinação, resolução, determinação (da vontade)
- consciência
- coração (referindo-se ao caráter moral)
- como lugar dos desejos
- como lugar das emoções e paixões
- como lugar da coragem
נָכָה
(H5221)
uma raiz primitiva; DITAT - 1364; v
- golpear, açoitar, atingir, bater, sacrificar, matar
- (Nifal) ser ferido ou golpeado
- (Pual) ser ferido ou golpeado
- (Hifil)
- ferir, golpear, bater, açoitar, bater palmas, aplaudir, dar um empurrão
- golpear, matar, sacrificar (ser humano ou animal)
- golpear, atacar, atacar e destruir, conquistar, subjugar, devastar
- golpear, castigar, emitir um julgamento sobre, punir, destruir
- (Hofal) ser golpeado
- receber uma pancada
- ser ferido
- ser batido
- ser (fatalmente) golpeado, ser morto, ser sacrificado
- ser atacado e capturado
- ser atingido (com doença)
- estar doente (referindo-se às plantas)
עַל
(H5921)
via de regra, o mesmo que 5920 usado como uma preposição (no sing. ou pl. freqüentemente com prefixo, ou como conjunção com uma partícula que lhe segue); DITAT - 1624p; prep
- sobre, com base em, de acordo com, por causa de, em favor de, concernente a, ao lado de, em adição a, junto com, além de, acima, por cima, por, em direção a, para, contra
- sobre, com base em, pela razão de, por causa de, de acordo com, portanto, em favor de, por isso, a respeito de, para, com, a despeito de, em oposição a, concernente a, quanto a, considerando
- acima, além, por cima (referindo-se a excesso)
- acima, por cima (referindo-se a elevação ou preeminência)
- sobre, para, acima de, em, em adição a, junto com, com (referindo-se a adição)
- sobre (referindo-se a suspensão ou extensão)
- por, adjacente, próximo, perto, sobre, ao redor (referindo-se a contiguidade ou proximidade)
- abaixo sobre, sobre, por cima, de, acima de, pronto a, em relacão a, para, contra (com verbos de movimento)
- para (como um dativo) conj
- por causa de, porque, enquanto não, embora
פֵּן
(H6435)
procedente de 6437; DITAT - 1780 conj.
- para que não, não, que não adv.
- para que não
שׁוּב
(H7725)
uma raiz primitiva; DITAT - 2340; v.
- retornar, voltar
- (Qal)
- voltar, retornar
- voltar
- retornar, chegar ou ir de volta
- retornar para, ir de volta, voltar
- referindo-se à morte
- referindo-se às relações humanas (fig.)
- referindo-se às relações espirituais (fig.)
- voltar as costas (para Deus), apostatar
- afastar-se (de Deus)
- voltar (para Deus), arrepender
- voltar-se (do mal)
- referindo-se a coisas inanimadas
- em repetição
- (Polel)
- trazer de volta
- restaurar, renovar, reparar (fig.)
- desencaminhar (sedutoramente)
- demonstrar afastamento, apostatar
- (Pual) restaurado (particípio)
- (Hifil) fazer retornar, trazer de volta
- trazer de volta, deixar retornar, pôr de volta, retornar, devolver, restaurar, permitir voltar, dar em pagamento
- trazer de volta, renovar, restaurar
- trazer de volta, relatar a, responder
- devolver, retribuir, pagar (como recompensa)
- voltar ou virar para trás, repelir, derrotar, repulsar, retardar, rejeitar, recusar
- virar (o rosto), voltar-se para
- voltar-se contra
- trazer de volta à memória
- demonstrar afastamento
- reverter, revogar
- (Hofal) ser devolvido, ser restaurado, ser trazido de volta
- (Pulal) trazido de volta
אֶרֶץ
(H776)
de uma raiz não utilizada provavelmente significando ser firme; DITAT - 167; n f
- terra
- terra
- toda terra (em oposição a uma parte)
- terra (como o contrário de céu)
- terra (habitantes)
- terra
- país, território
- distrito, região
- território tribal
- porção de terra
- terra de Canaã, Israel
- habitantes da terra
- Sheol, terra sem retorno, mundo (subterrâneo)
- cidade (-estado)
- solo, superfície da terra
- chão
- solo
- (em expressões)
- o povo da terra
- espaço ou distância do país (em medida de distância)
- planície ou superfície plana
- terra dos viventes
- limite(s) da terra
- (quase totalmente fora de uso)
- terras, países
- freqüentemente em contraste com Canaã
אֵת
(H853)
aparentemente uma forma contrata de 226 no sentido demonstrativo de entidade; DITAT - 186; partícula não traduzida
- sinal do objeto direto definido, não traduzido em português mas geralmente precedendo e indicando o acusativo
בֹּוא
(H935)
uma raiz primitiva; DITAT - 212; v
- ir para dentro, entrar, chegar, ir, vir para dentro
- (Qal)
- entrar, vir para dentro
- vir
- vir com
- vir sobre, cair sobre, atacar (inimigo)
- suceder
- alcançar
- ser enumerado
- ir
- (Hifil)
- guiar
- carregar
- trazer, fazer vir, juntar, causar vir, aproximar, trazer contra, trazer sobre
- fazer suceder
- (Hofal)
- ser trazido, trazido para dentro
- ser introduzido, ser colocado